Tudo e todos estavam calmos, exceto eu e meus sentimentos: não conhecia a capital, uma curiosidade impaciente me atormentava: “O que viverei? Como será que é lá? Será que é tudo isso que me contam?”. Por Hugo Scabello de Mello
Hugo Scabello de Mello aos 22.
Dezesseis de março de dois mil e dez. São Paulo/SP – Brasil.
Introdução I – Partida
Subi a serra pela primeira vez num domingo nublado, nela chovia forte, apesar de nenhuma gota cair nem abaixo nem acima (o que me contaram ser bastante comum). Lá na minha ilha tudo andava calmamente; o mar ia e vinha com o rebentar das ondas, enquanto os humanos iam e vinham com suas caminhadas vespertinas. Tudo e todos estavam calmos, exceto eu e meus sentimentos: não conhecia a capital, uma curiosidade impaciente me atormentava: “O que viverei? Como será que é lá? Será que é tudo isso que me contam?”. Questionamentos reverberavam incessantemente no meu pensar, alimentados sem dúvidas por contos e aventuras saídos da boca de meu camarada Humberto, um conterrâneo que migrara para a cidade de São Paulo há um ano e um punhado de meses.
E eu estava ali de cócoras na areia da praia com o infinito horizonte do grande oceano à minha frente, aproveitando pela última vez por algum tempo uma liberdade a qual não teria acesso na cidadona: fumava um cigarro do verde em roda com meus amigos de sempre. A típica mistura da brisa marítima com a brisa da erva não era capaz de acalmar meus ânimos, mesmo com todo esforço que ela exercia. Contudo um simplório prazer por estar ali, naquele exato lugar, naquele exato momento, com aquelas exatas pessoas, tomava meu corpo, e se mesclava num turbilhão confuso com aquela enorme ansiedade pré-migratória. O resultado foi um sorriso singelo porém sincero.
“Velho, que que você tá pensando?” Perguntou-me uma da roda, ao ver meus alvos dentes; Marge – seu nome era Margarida, Marge veio de seu gosto por Simpson’s –, uma garota agitada chegando nos seus vinte (ou será que já tava lá?). Mais ou menos um terço de seus longos cabelos castanhos por inteiro cacheados caíam na frente de seus ombros, e o resto se dispersava nas suas costas. Era baixa, mas não magra e nem fraca. Tinha lindos, muito lindos mesmo, olhos negros opacos e uma pequena esquiva boca da qual não me esqueço. Talvez seja só por saudosismo que esteja a descrevendo tão longamente, já que ela ficou lá na ilha, e não mais aparecerá nesta história: a verdade é que a namorei durante anos, quase três para ser mais exato, daí não demos certo e nos separamos. Mas dos meus pensamentos ela ainda agora não se foi por completo.
Não me lembro muito bem o que respondi, acho que algo meio fugindo do assunto, já que eu mais divagava do que pensava. Contraditoriamente nos meus últimos momentos em Santos eu pouco estava lá – mal me lembro de qualquer outra coisa que foi dita. Para ser sincero, estes últimos suspiros da minha vida santista sopram em minha memória como alvas nuvens a se distanciar constantemente; será que um dia ainda serei capaz de as ver? Não sei, não sei. Porém, certo é que poucos sopros depois eu já estava no mortadela, nome pelo qual o carro do Humberto atendia, subindo sem dificuldades aquela serra que tanto amedrontou e atrasou a invasão portuguesa às terras indígenas, isto há exatos cinco séculos atrás. Mesmo o pouco de mata atlântica que sobrou impressiona, todo espaço que o concreto permite é dominado pelo verde da mata. Impressionava-me tanto que nem mesmo era capaz de prestar atenção nas velozes e incrivelmente freqüentes palavras de meu motorista – provavelmente contava alguma de suas histórias, sempre recheadas de diversos tipos de aditivos; nunca saberei com certeza. Mas o que me importava? O que me importa? Meu estômago laricava um sanduba maternal, enquanto minha mente esperanças, e meu coração sonhos.
A viagem viria a ser só isso. Municípios, todos por mim desconhecidos, passaram tão rapidamente que nem mesmo deixaram marcas: São Bernardo, Santo André, saída para Paranapiacaba e logo o destino, minha nova terra, a gananciosa São Paulo de Piratininga.
Mas quem sou eu? Desculpem-me pelo atropelo, ainda estou tão ansioso com tudo que me passou e me passa que esqueci de me apresentar.
Introdução II – Apresentando
 Eu: Nasci, cresci e tenho esperança de morrer na ilha de São Vicente, no município de Santos. Não pensei sempre assim, admito. Nem mesmo vivi sempre lá. E este conto, esta parte da vida que quero a você revelar, é exatamente sobre este momento: a migração para a capital São Paulo.
Eu: Nasci, cresci e tenho esperança de morrer na ilha de São Vicente, no município de Santos. Não pensei sempre assim, admito. Nem mesmo vivi sempre lá. E este conto, esta parte da vida que quero a você revelar, é exatamente sobre este momento: a migração para a capital São Paulo.
Para explicar minhas origens familiares, tenho que retornar a duas outras antigas migrações: o pai de meu pai – um barbeiro catalão que nesses tempos era filiado à FAI (Federação Anarquista Ibérica) – veio, com minha jovem avó, se refugiar aqui logo que Barcelona caiu na mão do exército fascista do general Franco. Já os pais de minha mãe vieram fugidos de outro tirano inspirado na mesma ideologia: Benito Mussolini. Lá na velha Itália sobreviviam, há gerações, precariamente da pesca mediterrânea na Sicília. Trocaram o pesqueiro pelo transatlântico quando o irmão mais velho de meu avô – um bravo guerreiro partisan – fora covardemente assassinado. Por fim, as duas famílias acabaram por se encontrar na Barcelona dos Trópicos – como a gloriosa Santos na época era chamada. Ali meus pais se conheceram ainda pequeninos, brincando juntos enquanto esperavam o fim das reuniões políticas e sindicais de seus pais. Cresceram muito próximos, e, depois de algumas idas e vindas, ajuntaram-se. Essa união entre socialistas libertários italianos e espanhóis resultou numa prole de três filhos, dos quais sou o do meio.
Estou na minha terceira década de vida, muitos sonhos porém poucas perspectivas de futuro. Considero ter uma boa destreza com as idéias, porém as instituições de ensino estatal não pensam o mesmo, logo, ainda não fiz nenhum curso superior. Já meu ensino médio foi feito na ETE Aristóteles de minha cidade. Tenho pouca formação oficial, mas compenso com o autodidatismo. Tento levar a vida na boa, mas sem ser leviano. As vezes amo a vida, outras vezes só vivo.
Humberto: Conterrâneo e amigo das antigas, apesar de ter estudado no ensino médio privado. Hoje migrou para o sistema público, faz Ciências Sociais na USP da capital, e é deslumbrado pela terra mágica do campus. Sempre o achei exagerado e excêntrico, nunca o entendi muito bem. Quando adolescente encharcava todo fim de semana; virava os gorós como se não houvesse amanhã, até chamar o hugo desesperadamente. Daí passava o dia seguinte falando cinicamente que não beberia mais, uma grosseira piada. Hoje não vomita mais, mas bebe igual. Baixinho, troncudo e com cara de bom menino.
Parte I – Desembarque em mortas águas novas
Ao sair do carro, olho a minha volta: estou na ponte Eusébio Matoso, uma grotesca formação de concreto feita para transpor o rio Pinheiros, mas que também passa por cima da Marginal; descomunal avenida a margear o rio, com mais de dez pistas de cada lado, subdivididas em locais, onde a velocidade máxima é de 70km/h, e expressas, onde permite-se atingir os 90km/h. Por estas passam centenas e centenas de carros incessantemente, criando um irritante rugido desumano que, ao se mesclar com os gritos das constantes sirenes de ambulâncias e camburões, chega-se a uma obra prima da cacofonia. Cada um desses habitantes metálicos peidam correntes de poluentes tóxicos para os habitantes orgânicos, enquanto o fluxo de água morta e fétida do rio exala um terrível cheiro similar ao de chorume. Todo o ar próximo ao rio, talvez até quase uma centena de metros, é infestado pela mistura disto tudo: o perfume do progresso. E nesse momento, cometo meu primeiro erro na grande cidade: inspirei profundamente. Tossi forçadamente.
 Mas o Pinheiros até que tem sua beleza: é tão escuro e denso que nem mesmo a luz nele penetra, tornando-se um imenso espelho d’água. Pena que as únicas coisas a serem refletidas nele são as titânicas caixas de concreto de São Paulo. Tudo tão cinza, tudo tão cinza.
Mas o Pinheiros até que tem sua beleza: é tão escuro e denso que nem mesmo a luz nele penetra, tornando-se um imenso espelho d’água. Pena que as únicas coisas a serem refletidas nele são as titânicas caixas de concreto de São Paulo. Tudo tão cinza, tudo tão cinza.
Ainda absorto em minhas reflexões, sigo meu caminho: subo e desço os degraus de uma passarela, o único jeito do ponto de ônibus à frente do shopping Eldorado ser alcançado, já que a avenida Rebouças é demais movimentada para por pedestres ser atravessada. Um ripie cabeludo vende camisas estilizadas do Bob Marley e do Raul Seixas, daquelas com coloridos efeitos. Penso que ripongos urbanos são curiosos: estão a um passo de serem mendigos, e a um passo de serem um santo cristão. Contudo, gosto de Bob, também de Raul, porém menos, muito maluco beleza.
Já antes de chegar no ponto vejo que este está abarrotado de gente: engravatados de baixa patente, donas de casa, idosos, estudantes, consumidoras e consumidores do shopping, trabalhadores. Todos a ruminar lentamente o cotidiano. Nesta pintura entediante um só grupo tem suas cores destacadas: cerca de dez jovens distribuem panfletos e conversam com o apático povo. E logo na entrada da plataforma um destes me aborda; um cara alto e magro nos seus vinte e poucos anos, com estranho cabelo moreno grande e bastante armado, uma barba/bigode juvenil a ser feita e duas argolas negras adornando sua narina esquerda. Estica-me um panfleto falando: “Contra o aumento do ônibus!” “O ônibus aumentou? Quando? Não tava sabendo, foi pra quanto?” “Aumentou hoje. Foi pra três reais. Um aumento de cerca de onze por cento, bem acima do reajuste do salário mínimo, da inflação, e do seu salário também, não?” “Sim, é sim” minto eu, pois na verdade estou sem salário, e ele continua “depois de amanhã, na sexta, vai ter um ato contra o aumento lá no centro. Se você puder ir para dar uma força…” com esta frase aberta que nosso diálogo se fecha, o garoto se afasta para entregar panfleto para outro transeunte, enquanto eu dou uma olhada por cima na parte frontal do papel e o guardo. Está escrito mais ou menos o mesmo que ele me disse.
Fico por ali esperando o ônibus que Humberto me indicou, Largo da Pólvora. Um curioso nome, mas que se adequa bastante à minha concepção idealista da grande cidade na qual estou. Certo que considero um cinzeiro quilométrico uma metáfora ainda melhor de SP (está comparação eu vi grafitada numa arte de rua). Panguas à parte, continuo ali esperando e esperando. Até ser surpreendido por uma gritaria, o grupo de ativistas inicia uma ação: uma parte deles corre para a porta de trás de um ônibus na plataforma e impede o seu fechamento, enquanto outra parte distribui panfletos e grita “Três reais não dá para pagar! Transporte público precisa ser gratuito! E hoje teremos ônibus de graça! Entrem todos! Vamos lá!” coisas assim, pelo menos na minha memória.
O povo da plataforma é tomado por uma mistura de susto cheio de desconfiança, com uma vontade audaciosa de aderir àquela ação direta. Qualquer um sente uma revolta com esse preço absurdo, qualquer um que ande de ônibus é claro, porém o receio de sofrer alguma retaliação é forte. Numa terra dominada por um estado brutal e sanguinário, o medo é componente diário dos cidadãos (nome cínico e eufemístico dado aos escravos do Estado). Um sentimento com muita razão de ser, haja visto imenso histórico de massacres promovidos por este: Carandiru, Eldorado dos Carajás, PCC em 2006, os jovens da Baixada, só para citar alguns recentes; Canudos e Cabanagem, para citar dois mais antigos.
Inicialmente, poucas pessoas aceitam o atrativo convite de andar de graça. Porém o grupo é persistente, todo ônibus que pára na plataforma sofre uma investida política. Todo que segue para o sentido bairro, o mais movimentado naquele horário de fim de tarde, e, infelizmente, não o meu sentido. Eu me dirijo ao centro, para conhecer o albergue que me foi indicado. (Outro santista amigo meu que contou-me deste albergue, segundo ele barato e sem barata. Parece-me bom, mas não tenho tanta certeza assim, o padrão de limpeza desse meu amigo não é muito elevado; em breve saberei, calma, calma.) Com o vir e ir dos ônibus, os passageiros da plataforma começam a aceitar o convite à gratuidade, cada vez mais pessoas adentram por detrás do carro. Mas eu tenho que entrar pela frente, não dá pra fazer nada disso sozinho. Enquanto pago minha passagem, a qual me dá direito a viajar em pé num sujo ônibus lotado, penso que aqueles três reais podem vir a me fazer falta ainda. Mas só por um momento, rapidamente meu pensar avoa em outra direção: desce de volta aquela serra a qual desbravei pela primeira vez agora há pouco e retorna para minha querida Santos: não sou acostumado a andar de ônibus, nem motorizado. A ilha é tão pequena que praticamente o único transporte que utilizo são meus próprios pés. Com uma hora de caminhada eles me levam para quase qualquer lugar, pelo menos na região insular de Santos, a parte continental é demais afastada. Quando tenho pressa faço uso de uma bicicleta, há uma extensa ciclovia pela orla da praia de toda ilha (o que inclui também São Vicente). Ah, a orla… Tudo bem eu sei, a areia é suja, o mar poluído, mas a orla é linda: Santos possui o maior jardim de praia do mundo, são vários quilômetros de flores e plantas, um muro vivo a separar a cidade do mar.
Um forte calor abafado me faz retornar a São Paulo. Chove, todas as janelas se fecham. Uma aura de suor humano toma de assalto o veículo. A cada nova parada muitas pessoas embarcam, e poucas outras desembarcam. Vou ficando cada vez mais espremido; os tripulantes me empurram para uma posição entre o corredor e uma senhora de idade sentada num banco preferencial. Em alguns momentos, trombo na idosa, em outros, na multidão, a depender do balançar do ônibus. Lembrei-me de uma situação semelhante pela qual passei na minha terra: uma tarde bastante chuvosa, houve inundação, alguns canais quase transbordaram, e eu num ônibus super abafado também. Contudo há uma grande diferença: em Santos a clausura durou algo em torno de meia hora, enquanto em São Paulo passo duas horas no ônibus. Inicialmente penso que o lugar que eu ia me hospedar fica muito longe, mas muito longe mesmo. Liberdade, lá no centrão. Porém, com o passar do tempo, percebo que quase não ando. Passo minutos e minutos sem movimentar-me um metro. Impressionante, demorei uma hora para chegar de Santos a São Paulo, e duas da marginal Pinheiros a Liberdade. Seria essa a tão falada e famosa velocidade do progresso?
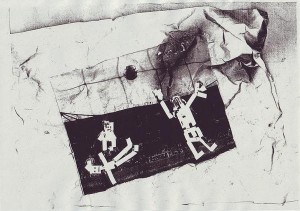 Tento me acalmar, tento me distrair. Resgato o panfleto de minha bolsa. Desajeitado e desequilibrado, cambaleando na sauna úmida móvel, ponho-me a ler “(…) transporte é um direito público, como a educação e a saúde. Sendo assim este não pode ser tratado como mercadoria, não pode ser subordinado ao lucro. Você não acharia estranho se chegasse na escola ou no hospital público de sua região e se deparasse com uma catraca na entrada? Por que, então, aceitar como normal a catraca no ônibus? (…)”
Tento me acalmar, tento me distrair. Resgato o panfleto de minha bolsa. Desajeitado e desequilibrado, cambaleando na sauna úmida móvel, ponho-me a ler “(…) transporte é um direito público, como a educação e a saúde. Sendo assim este não pode ser tratado como mercadoria, não pode ser subordinado ao lucro. Você não acharia estranho se chegasse na escola ou no hospital público de sua região e se deparasse com uma catraca na entrada? Por que, então, aceitar como normal a catraca no ônibus? (…)”
(Continua)
Ilustrações: Afredo Pirucha
Leia aqui Perdido na Poluída Pólis (2ª Parte) e Perdido na Poluída Pólis (3ª Parte)






Ansioso pela continuação!
Pelo que entendi o fio condutor do conto é a situação do transporte público em SP. Não caberia um subtítulo para ajudar a divulgar mais esta luta, sobretudo neste momento?
Ah, gostei desta primeira parte.
Obrigado!
De fato teria sido uma boa idéia ter falado que trata do aumento…