Por Fagner Enrique
Para que se possa atingir a autogestão social é preciso primeiro difundir e massificar a autogestão das lutas sociais; e fazê-lo por toda parte: difundir a luta proletária autônoma pela terra; pela moradia; pelo transporte; por saneamento básico; por asfalto, energia elétrica etc.; pela saúde; pela educação; por melhores salários; por melhores condições de trabalho; por estabilidade no emprego; pela diminuição da carga horária e assim por diante.
Os intelectuais profissionais podem e devem colaborar neste processo, mas enquanto indivíduos que não só investem suas energias em produções teóricas engajadas como também estimulam o estudo científico da realidade concreta (o estudo da realidade atual – dos sistemas político e econômico vigentes, pelo menos – levando-se em conta o seu processo histórico de desenvolvimento) nos meios em que se desenvolve a luta proletária autônoma, estudo este que deve ser praticado, na medida do possível, por uma quantidade cada vez maior de trabalhadores, o que já não é pouca coisa e o que pressupõe o combate aos dogmatismos e personalismos que, volta e meia, invadem os meios em que se desenvolvem as lutas autônomas. E podem e devem colaborar também praticando a autogestão nos seus locais de trabalho.
 Num primeiro momento, toda luta estimulada por demandas imediatas, voltada para a melhoria de certos aspectos do cotidiano dos trabalhadores, é reformista (claro que não no sentido do reformismo social-democrata, voltado para o estabelecimento de um Estado-providência pactuado com as classes dominantes). É impossível iniciar qualquer luta proletária autônoma senão por meio de lutas por reformas, por melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, pela simples razão de que são essas lutas que primeiro colocam os trabalhadores em movimento. Além dessas, não se podem deixar de lado as lutas pela ampliação da participação ativa dos trabalhadores nos processos decisórios mais importantes, que não são propriamente revolucionárias mas que são igualmente importantes. Uma parte considerável da esquerda se restringe a denunciar a farsa da democracia representativa, defendendo o voto nulo ou a abstenção nos processos eleitorais para cargos legislativos e executivos, quando, na verdade, deveria ir além e exigir que a consulta popular não se dê meramente a cada quatro anos, nos referidos processos eleitorais, mas sempre que técnicos e burocratas do Estado e das empresas tiverem a pretensão de organizar o cotidiano dos trabalhadores à revelia dos trabalhadores.
Num primeiro momento, toda luta estimulada por demandas imediatas, voltada para a melhoria de certos aspectos do cotidiano dos trabalhadores, é reformista (claro que não no sentido do reformismo social-democrata, voltado para o estabelecimento de um Estado-providência pactuado com as classes dominantes). É impossível iniciar qualquer luta proletária autônoma senão por meio de lutas por reformas, por melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, pela simples razão de que são essas lutas que primeiro colocam os trabalhadores em movimento. Além dessas, não se podem deixar de lado as lutas pela ampliação da participação ativa dos trabalhadores nos processos decisórios mais importantes, que não são propriamente revolucionárias mas que são igualmente importantes. Uma parte considerável da esquerda se restringe a denunciar a farsa da democracia representativa, defendendo o voto nulo ou a abstenção nos processos eleitorais para cargos legislativos e executivos, quando, na verdade, deveria ir além e exigir que a consulta popular não se dê meramente a cada quatro anos, nos referidos processos eleitorais, mas sempre que técnicos e burocratas do Estado e das empresas tiverem a pretensão de organizar o cotidiano dos trabalhadores à revelia dos trabalhadores.
Um projeto político só pode ser superado na medida em que ele se esgota historicamente, isto é, na medida em que ele perde a capacidade de responder positivamente aos problemas cotidianos de uma classe social, o que vale também para as lutas por demandas imediatas acima mencionadas. Cada trabalhador precisa perceber, por si mesmo, a uma certa altura do processo de luta, que as reivindicações inicialmente levantadas são já insuficientes (ou porque foram satisfeitas ou porque são incapazes de resolver os problemas inicialmente confrontados e/ou uma série de outros problemas) e que é preciso avançar na pauta de reivindicações, o que também corresponde a perceber que é necessário partir para formas mais radicalizadas de luta. Mas aí surge outro problema: é preciso dispor já de um certo acúmulo de forças, um acúmulo considerável, para que se possa partir para formas mais radicalizadas de luta (o que geralmente, nos meios marxistas, é chamado de “correlação de forças favorável” à classe trabalhadora). O estudo científico da realidade concreta do sistema capitalista (novamente: o estudo científico da sua realidade atual, que não se encontra – não suficientemente – nem nas obras de Marx nem nas de Bakunin, nem nas de qualquer outro ícone revolucionário dos séculos passados) por um número cada vez maior de trabalhadores pode, por um lado, potencializar esse reconhecimento. Já a massificação da luta autônoma (sua difusão por toda parte) é, por outro, a única maneira de proceder a um acúmulo considerável de forças, indispensável à superação do reformismo no sentido em que o apliquei; a única maneira de se chegar a uma “correlação de forças favorável” à classe trabalhadora.
 A essa altura, é preciso fazer um esclarecimento: nem sempre a expressão “formas mais radicalizadas de luta” deverá ser entendida como “formas mais violentas de luta” – tendo-se em vista o próprio avanço da luta anticapitalista. Radicalismo é atingir os problemas na sua raiz ou é assim que ele deveria ser entendido. Infelizmente não o é. O capitalismo não pode ser derrubado pelo recurso isolado a ações violentas (nem sequer um governo pode ser derrubado dessa forma). Estado e empresas (que são também, de certa forma, um tipo de Estado) devem ser primeiro enfraquecidos, o poder de Estado deve ser primeiro minado; e o poder de Estado reside em certa medida, medida considerável, na própria classe trabalhadora (afinal, toda soberania se constitui a partir de alguma forma de apropriação da mais-valia ou do trabalho excedente da classe trabalhadora). Trata-se, portanto, de estimular os trabalhadores para que se fortaleçam a si mesmos e enfraqueçam o poder de Estado, praticando em escala cada vez maior a autogestão, na luta.
A essa altura, é preciso fazer um esclarecimento: nem sempre a expressão “formas mais radicalizadas de luta” deverá ser entendida como “formas mais violentas de luta” – tendo-se em vista o próprio avanço da luta anticapitalista. Radicalismo é atingir os problemas na sua raiz ou é assim que ele deveria ser entendido. Infelizmente não o é. O capitalismo não pode ser derrubado pelo recurso isolado a ações violentas (nem sequer um governo pode ser derrubado dessa forma). Estado e empresas (que são também, de certa forma, um tipo de Estado) devem ser primeiro enfraquecidos, o poder de Estado deve ser primeiro minado; e o poder de Estado reside em certa medida, medida considerável, na própria classe trabalhadora (afinal, toda soberania se constitui a partir de alguma forma de apropriação da mais-valia ou do trabalho excedente da classe trabalhadora). Trata-se, portanto, de estimular os trabalhadores para que se fortaleçam a si mesmos e enfraqueçam o poder de Estado, praticando em escala cada vez maior a autogestão, na luta.
Na luta por reformas pontuais e pela ampliação da participação ativa dos trabalhadores nos processos decisórios mais importantes, os trabalhadores vão não só acumulando forças mas também aprendendo a formular e reformular reivindicações, a se organizar e a resistir (e é aí que entra, pontualmente, a questão da violência ou da resistência às violências estatal e empresarial).
Se houver derrota, pode acabar por se conceber todo o esforço como tendo ocorrido em vão; o desânimo então contagia a todos. Mas, se houver vitória, todo aquele esforço deverá ser, provavelmente, concebido como uma etapa já ultrapassada de uma luta de longa duração. Mesmo assim, em ambos os casos adquire-se uma consciência da limitação das reivindicações inicialmente levantadas, decisiva para que elas sejam revistas e superadas (pelos mesmos lutadores ou pelos que lhes vão suceder): a consciência do esgotamento das demandas reformistas (de terra para os trabalhadores rurais; de moradia para os sem-teto; de transporte gratuito, de qualidade e gerido por trabalhadores e usuários etc.). E a derrota, na verdade, nunca é absoluta, se os laços de solidariedade não forem rompidos e os lutadores não se dispersarem. Uma reintegração de posse pode fortalecer a solidariedade de trabalhadores rurais e de trabalhadores sem-teto; a prisão de trabalhadores e militantes, numa manifestação contra o aumento da tarifa do transporte, pode fortalecer a solidariedade entre os lutadores. Ser derrotado, romper os laços de solidariedade e se dispersar: isto é ser absolutamente derrotado.
 Dependendo do contexto, tal consciência do esgotamento histórico das demandas reformistas e da necessidade de partir para formas mais radicalizadas de luta acaba sendo mais forte entre os próprios trabalhadores do que entre os grupos de esquerda dogmáticos, apegados que são a teses, programas, ídolos, textos sagrados, já por completo descolados da realidade concreta, mesmo porque estes grupos são, eles mesmos, já por completo descolados da realidade concreta.
Dependendo do contexto, tal consciência do esgotamento histórico das demandas reformistas e da necessidade de partir para formas mais radicalizadas de luta acaba sendo mais forte entre os próprios trabalhadores do que entre os grupos de esquerda dogmáticos, apegados que são a teses, programas, ídolos, textos sagrados, já por completo descolados da realidade concreta, mesmo porque estes grupos são, eles mesmos, já por completo descolados da realidade concreta.
É admirável como que certas doutrinas são capazes de se perpetuar no tempo, inspirando aqueles que não se conformam com o atual estado de coisas, aqueles que se comprometem sinceramente com a defesa dos oprimidos e explorados. Na verdade, não é assim tão prejudicial que certas doutrinas se mantenham como fonte de inspiração, como algo a ser aproveitado seletivamente, como uma ferramenta para o conhecimento, para a crítica e para o combate da realidade concreta. Prejudicial é quando as doutrinas deixam de ser uma fonte de inspiração e quando a sua perpetuação no tempo – geralmente acompanhada pela adoração dos seus fundadores – passa a ser um fim em si mesmo. A fossilização das doutrinas e a sua conversão em soluções acabadas para os anseios dos inconformados permitem constatar um constrangedor acúmulo de derrotas por parte dos revolucionários; é um sinal muito claro de que a realidade concreta não foi, de modo algum, subvertida. E pior: é também um sinal de que, frente a desafios novos colocados pelo desenvolvimento histórico, os revolucionários se demonstraram incapazes de renovar as suas próprias concepções.
São estes grupos de esquerda dogmáticos, tanto os de inspiração marxista quanto os de inspiração anarquista, os que em geral acusam os autonomistas de “reformismo”. Para estes grupos, o critério determinante da radicalidade de uma luta é o conteúdo ideológico das reivindicações e das palavras de ordem – ou a ideologia professada por “quem está no comando” – e não o modo como ela é conduzida. Nesse sentido, é impressionante como convergem, em seus posicionamentos dogmáticos, stalinistas e trotskistas, leninistas e bakuninistas; todos compartilhando a concepção de que toda luta é sempre dirigida por alguém ou por algum grupo, mesmo que este grupo declare abertamente não pretender dirigir coisa alguma e mesmo que ele, de fato, não o faça. E, por vezes, o verdadeiro inimigo de todos os dogmáticos são não os capitalistas (ou o Estado capitalista) mas os próprios autonomistas, que não apenas criticam doutrinas e personalidades “consagradas” como também defendem que, independentemente da doutrina expressa em reivindicações e palavras de ordem, o que importa é que os trabalhadores tomem eles mesmos a condução ativa de qualquer movimento, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista intelectual.
O dogmatismo – quer ele se vista de vermelho ou de preto ou, sabe-se lá, de ambos – se caracteriza, essencialmente, pela concepção de que a condição da revolução é a direção de todo e qualquer movimento pelos “verdadeiros” revolucionários e não a demolição do Estado e o controle dos meios de produção pelos trabalhadores. E o reverso desta concepção é a de que a ausência de direção revolucionária conduz a erros e derrotas.
Mas não é a ausência de ações conduzidas pela “verdadeira” doutrina revolucionária ou pelo “verdadeiro” programa revolucionário que leva à derrota: é quando as lutas autônomas são entravadas pelas próprias esquerdas dogmáticas, de um lado, e pelas ofensivas dos capitalistas e do Estado capitalista, de outro; ou, inversamente, quando, no processo de luta autônoma, os trabalhadores não são capazes de responder aos ataques das esquerdas dogmáticas, dos capitalistas e do Estado capitalista, o que corresponde a não alcançar uma “correlação de forças favorável” aos trabalhadores. Mas, novamente, se os trabalhadores se acostumam a conduzir a sua própria luta e se se acostumam a estudar cientificamente, na medida do possível, a dinâmica da realidade concreta, capacitam-se a si mesmos para resistir ao triplo ataque das esquerdas dogmáticas, dos capitalistas e do Estado capitalista. Está aí mesmo o princípio da revolução e tudo começa na luta por melhorias pontuais nas condições cotidianas dos trabalhadores.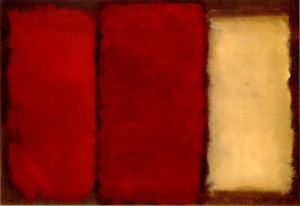
Falar em “esquerdas dogmáticas”, de certa forma, acaba sendo o mesmo que falar em “esquerdas autoritárias”, já que é costumeiro, nos grupos de esquerda dogmáticos, pensar as lutas sociais fraturando-as em dois estratos: o estrato dos militantes e o estrato dos teóricos/dirigentes, ou seja, o estrato das autoridades que apontam o caminho, continuamente renovado pela seleção, entre os militantes, daqueles que têm “aptidão” para a direção.
Ter alguém que aponta o caminho, na realidade, não é o verdadeiro problema. Pelo contrário, o ideal é que esse alguém exista, pois muitas vezes os trabalhadores não sabem por onde começar ou não estão suficientemente seguros. O único problema é quando esse alguém se dispõe a apontar o caminho sem conhecê-lo de fato; e quando, ainda por cima, esse alguém pretende apresentar o seu caminho como o único caminho. A esquerda precisa é de pessoas dispostas a produzir análises bem embasadas, não de pessoas que, por desempenharem um papel intelectual nas lutas sociais, pretendem se converter em elites dirigentes. É a própria cisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, no âmbito da militância, que deve ser desafiada, o que só é possível em movimentos autônomos: o que importa é que os movimentos autônomos sejam capazes de agregar cada vez mais trabalhadores e de permitir que eles participem ativamente, dentro de suas possibilidades, de todas as atividades do movimento. Criar grupos de estudo ou tentar estimular o debate sobre os acontecimentos em curso entre os militantes é um primeiro passo. O movimento luta pela terra: estimule-se o estudo e o debate, entre os trabalhadores, das questões pertinentes. O movimento luta pela moradia, pelo transporte etc.: faça-se o mesmo.
O projeto político da autonomia é, por isso, o único projeto verdadeiramente radical e verdadeiramente revolucionário, o único capaz de responder positivamente aos problemas cotidianos dos trabalhadores e de não criar obstáculos para que eles possam dar origem a relações sociais de novo tipo: verdadeiramente comunistas. É exatamente o contrário dos programas ossificados das esquerdas dogmáticas (marxistas e anarquistas), que se dizem pela revolução mas que fraturam a luta social em níveis: o dos trabalhadores em luta, desprovidos, desde já e para sempre, de uma consciência revolucionária; e o dos intelectuais de vanguarda, revolucionários por excelência, portadores da consciência revolucionária. E mais: são os próprios trabalhadores que dispensam os projetos políticos restantes. Entre a passividade intelectual e organizacional na luta, que é o que estão a oferecer as esquerdas dogmáticas que prezam pela direção revolucionária, e o conformismo, que é o que estão a oferecer a direita e a “esquerda” capitalista no poder, preferem o conformismo: os resultados das eleições para cargos executivos e legislativos falam por si mesmos, no caso dos partidos de extrema-esquerda que não descartam a via eleitoral; e o mesmo o faz o vínculo, muito restrito, dos grupos de extrema-esquerda que dispensam a participação eleitoral, com os trabalhadores em luta. Entre a autogestão da luta, a submissão a elites revolucionárias autoritárias e o conformismo, os trabalhadores optam ou pela primeira ou pela terceira opção. Não mais pela segunda.
As imagens que ilustram o artigo são de Mark Rothko.







Seja diretamente, seja indiretamente, o texto de Fagner, apesar de abordar alguns pontos já bastante focalizados em artigos anteriormente publicados no Passa Palavra (sobre a natureza e o papel dos “intelectuais orgânicos”, sobre o papel e os desafios dos apoiadores acadêmicos dos movimentos sociais, sobre os impasses e a dinâmica atuais da assim chamada “esquerda”), suscita alguns debates que merecem ser continuamente retomados.
Uma primeira questão tem a ver com a famosa “autonomia”, termo tão utilizado e tão raramente discutido – como se fosse uma trivialidade, algo sobejamente conhecido por todos e que, por isso, dispensa maiores apresentações. Ora, de que “autonomia” tratamos, a que nos referimos, exatamente? Como a interpretamos, como avaliamos os seus pressupostos e as suas implicações? Ao “projeto de autonomia” castoriadiano, ao mesmo tempo anticapitalista e antimarxista (não apenas “antiburocrático”), e por isso em grande medida próximo da tradição anarquista (apesar de Castoriadis, por várias razões, criticar os anarquistas e não se considerar pertencendo às suas fileiras)? Ou ao “marxismo autônomo” ou “autonomista” inspirado nas lutas e conflitos italianos dos anos 1970 (e, mais recentemente, na produção intelectual de Antonio Negri e mesmo John Holloway)? Ou a certas lutas concretas que, de modo muitas vezes sincrético, utilizam o termo “autonomia” como “autonomia em relação ao Estados e aos partidos”, mas não necessariamente procedendo-se a críticas mais profundas do capitalismo em si? E a lista de usos contemporâneos do quase inevitável termo “autonomia” não para aí, de tal modo que se corre o risco, creio, ao nos referirmos aos “movimentos autônomos” da atualidade, de nos contentarmos com uma espécie de “definição básica”, mais subentendida que explicitada e discutida, que recobre mais do que revela. Será que “autonomia”, “autogestão” e “horizontalidade”, em si mesmas, compõem um corpo coerente de princípios, pressupondo uma leitura unificada? Podemos discutir e rediscutir indefinidamente a respeito de “apropriações indevidas” (ou mesmo “oportunistas”) ou o que quer que seja, mas o fato é que, por trás de menções a princípios como horizontalidade, autogestão e, claro, autonomia, atualmente há um conjunto heterogêneo de interpretações e tentativas de apropriação: algumas com clara origem no anarquismo, outras com origem em uma tentativa de atualização/renovação do marxismo, e outras tantas (especialmente lutas concretas, com destaque para a América Latina ) com origens e influências variadas, mescladas ao longo das últimas décadas em meio à crise do marxismo-leninismo e do revigoramento (multifacetado e ainda pouco coerente) da linhagem libertária. Em suma a “autonomia” é um referencial disputadíssimo, e cumpre levar isso em conta ao falarmos sobre “radicalidade”, estratégia, tática etc.
Se o ambiente chamado de “autonomista”, portanto, é tudo menos homogêneo, o mesmo, por outro lado, se pode dizer do próprio campo libertário (que não se restringe, aliás, ao anarquismo clássico, que hoje só existe residualmente, ou filtrado pelas interpretações menos ou mais tradicionais e convencionais que dele são feitas: desde o “especifismo” latino-americano até o uso pouco convencional de referências aos clássicos por parte de neoanarquistas no estilo Hakim Bey). E é aqui que retomo a seguinte afirmação de Fagner:
“Falar em ‘esquerdas dogmáticas’, de certa forma, acaba sendo o mesmo que falar em ‘esquerdas autoritárias’ (…)”.
Houve época em que falar de “esquerda autoritária” era, no campo libertário, o mesmo que falar em “marxismo-leninismo”. No entanto, em uma época como a nossa, em que os rótulos são muitos e são zelosamente defendidos, como territórios simbólicos que são, por guardiões da fé, um certo tipo de autoritarismo, que desautoriza qualquer debate que não se limite a repetir os clássicos (ou, em certos casos, os autores da moda), se acha muito disseminado. O dogmatismo e o sectarismo estão em toda parte, inclusive no campo libertário. (o conteúdo deste próprio termo, aliás, merece ser encarado com ponderação).
E mais uma coisa, a propósito dos movimentos sociais e suas organizações: aquilo que Marilena Chaui denominou, em priscas eras, “discurso competente”, que também é uma expressão de autoritarismo, vanguardismo e elitismo, de modo algum se acha confinado às direções burocráticas e à manipulação do discurso da suposta autoridade científica: como um texto recentemente publicado no Passa Palavra provocou, muitas vezes estamos, nas lutas populares, diante de “buro-ácratas”, o quais, aninhados em organizações de movimentos sociais (as quais, em vários casos, possuem uma dinâmica muito semelhante à dos partidos políticos) na qualidade de “lideranças informais” ou “apoio”, buscam construir, de maneira semiconsciente (semi?), um papel como pontes privilegiadas entre o mundo acadêmico e a realidade das lutas populares.
E, com isso, termino por onde comecei: lembrando alguns textos de síntese já publicados no Passa Palavra sobre, precisamente, a natureza e o papel dos “intelectuais orgânicos” (http://passapalavra.info/2012/02/53056), sobre o papel e os desafios dos apoiadores acadêmicos dos movimentos sociais (http://passapalavra.info/2010/09/29280) e sobre os impasses e a dinâmica atuais da assim chamada “esquerda” (texto atualmente em destaque, de João Bernardo).Acredito que vale a pena (re)visitá-los.
Resolvi reproduzir integralmente aqui alguns comentários suscitados pelo artigo acima no Facebook:
Rafael Saddi – Fagner Enrique, parabéns pelo texto. Mas, tenho algumas preocupações. Me centrarei em três delas. Primeiro, a própria noção de “correlação de forças favorável”. Não estaria aí um risco de etapismo incapaz de dar conta da diversidade da própria classe trabalhadora? Isto é, em um momento de pouco acúmulo de forças, ainda haverá setores dispostos à radicalização. Quem não se posiciona em sua defesa e em seu estímulo, não tende a querer freia-la, criticá-la, pois não é o momento, pois aí será só uma vanguarda de trabalhadores, etc. etc? Isso não é uma armadilha do reformismo? Em segundo lugar, este trecho: “O projeto político da autonomia é, por isso, o único projeto verdadeiramente radical e verdadeiramente revolucionário, o único capaz de responder positivamente aos problemas cotidianos dos trabalhadores e de não criar obstáculos para que eles possam dar origem a relações sociais de novo tipo: verdadeiramente comunistas”. Não se encontra aí uma estrutura de pensamento bastante pretensiosa e autoritária? Ao menos, podemos dizer que, se mudarmos os termos substantivos e mantermos o restante, não haverá muita diferença com o discurso religioso. Por último, não compreendo a crítica ao bakuninismo, se esta defesa da autonomia, da autogestão e o combate à divisão entre dirigentes e dirigidos foi formulada pelo próprio Bakunin. Trata-se de uma crítica aos que se denominam bakuninistas e não necessariamente ao bakuninismo? Enfim, só alguns questionamentos sinceros para a reflexão. Um grande abraço.
há 5 horas · Editado · Curtir (desfazer) · 1
Fagner Enrique – Rafael, eu parto do pressuposto de que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. A classe trabalhadora é sim muito heterogênea. Afinal, ela é hoje composta por milhões e milhões de trabalhadores. E mais: ela é global, internacional. A luta que levará à emancipação da classe trabalhadora só poderá ser vitoriosa, portanto, se uma quantidade cada vez maior de trabalhadores se engajar nessa luta: uma luta de massa. A meu ver, a única maneira de se massificar atualmente a luta anticapitalista, de modo que o capitalismo possa ser derrubado e de modo que ele não seja substituído por outro sistema social também fundamentado na opressão e na exploração, é massificando a autogestão das lutas dos trabalhadores. E é isso que significa para mim obter uma “correlação de forças favorável” à classe trabalhadora. Não há etapismo no meu pensamento. A meu ver, os trabalhadores que gerem eles mesmos a sua luta são já uma vanguarda que está já colocando em prática relações sociais de novo tipo: coletivistas e igualitárias. O importante é generalizar, difundir a prática que anuncia relações sociais de novo tipo. Quando eu falei em “correlação de forças favorável”, quis dizer que, para que os próprios trabalhadores possam passar de reivindicações menos radicais para reivindicações mais radicais (que atingem os problemas em sua raiz), um número cada vez maior de trabalhadores precisa estar engajado na luta. Por exemplo: as lutas contra o aumento da tarifa do ano passado colocaram em movimento uma quantidade de trabalhadores que ultrapassa o limite dos movimentos que organizaram e convocaram as manifestações em todo o Brasil. Muitos trabalhadores assumiram uma postura mais combativa, o que é essencial (observe-se as revoltas nos terminais em Goiânia). Mas mesmo assim é muito pouco. Não é algo que tem comprometido definitivamente o poder de Estado, a soberania do Estado e a soberania das empresas. Por quê? Porque tanto o Estado quanto as empresas, que foram colocados em xeque no ano passado, têm se reorganizado e colaborado de modo mais eficaz para virar o jogo. O importante é estimular os trabalhadores que têm assumido uma postura mais combativa a organizarem-se, debaterem os problemas a serem enfrentados, tentarem perceber as movimentações e as armadilhas postas pelo inimigo, pois caso contrário o jogo será virado definitivamente. A meu ver, estimular a organização dos trabalhadores para o enfrentamento ao Estado e às empresas, nos locais de moradia, nos locais de estudo, nos locais de trabalho, nos locais de trânsito, é a resposta a ser dada agora, sem perder de vista a necessidade de atos radicalizados pontuais, que servem para mostrar ao inimigo que o seu adversário ainda está de pé.
Quando eu digo que o projeto político da autonomia é o único capaz de responder positivamente aos problemas cotidianos dos trabalhadores e de não criar obstáculos para que eles possam dar origem a relações sociais de novo tipo, não há pretensão alguma e nem autoritarismo ou fanatismo religioso. E isso se deve ao fato de que, quando eu falo em “projeto político da autonomia” eu estou simplesmente me referindo à defesa da prática da autogestão das lutas e não a algum teórico ou a alguma corrente teórica ou coisa do tipo. Eu estou me referindo à prática de constituição de núcleos de estudo, debate e luta por melhorias importantes para os trabalhadores, o que significa estimular a auto-organização dos trabalhadores e combater a sua organização pelas classes capitalistas (o nome que se dá a esses núcleos — se são “movimentos”, “sindicatos”, “cooperativas”, “associações”, “comunas”, “conselhos”, “comitês” etc. — pouco importa). E aí, para mim, o importante é que o referencial teórico que embasa o estudo da realidade concreta seja plural, isto é, o importante é que se busque referências no marxismo, no anarquismo etc. E mais: que esse referencial teórico não se converta em dogma. É por isso que, na verdade, eu não critiquei o bakuninismo e nem o marxismo. Eu simplesmente afirmei que as respostas para os problemas que vão surgindo no dia-a-dia não está pronta e acabada nas obras de Bakunin e nem nas de Marx — que foram escritas no século XIX. A resposta tem que ser buscada pelos próprios lutadores e é importante que os lutadores que estudam a realidade para transformá-la sejam os próprios trabalhadores em luta (isso não significa que, para mim, os intelectuais profissionais são irrelevantes; pelo contrário, o papel que eles podem desempenhar está bem definido no texto). Tanto os bakuninismo quanto o marxismo tem importantes contribuições a fazer, a meu ver. Portanto, quando eu defendo a autonomia — enquanto um “projeto” — eu defendo a autonomia enquanto práticas que têm sido defendidas tanto por anarquistas quanto por marxistas e quanto por pessoas que não são nem uma coisa nem outra. Eu defendo as lutas autogeridas, nas quais se rompe com a noção de dirigentes + teóricos / militantes. Todo militante tem que ser um dirigente, assim não há dirigentes — enquanto uma camada privilegiada que dá ordens. E todo militante tem que ser um teórico, assim não há teóricos — enquanto uma elite portadora da verdade, da ciência revolucionária, que aponta as alternativas ou a alternativa aos dirigentes. Cada trabalhador tem que poder co-gerir, em conjunto com os demais trabalhadores, pelo menos um aspecto da sua própria vida: a luta, a qual não vai a lugar algum se ela não é também pensada. Então cada trabalhador precisa poder participar da condução da luta e do ato de se pensar a luta.
Outro grande abraço.
há 4 horas · Curtir · 3
Rafael Saddi – Opa, então assim, sim!
há 4 horas · Curtir (desfazer) · 1
Rafael Saddi – Perfeito Fagner Enrique, concordo com tudo o que colocou acima. Gostei muito do texto anterior (balanço) que fez com o Jules Grouxo Maigret e com a Karina Oliveira. Pra tirar todas as dúvidas, tem só uma coisa que me incomodou naquele texto e que reaparece neste seu. Entendo a crítica ao fetischismo da ação direta (leia-se aqui ação direta em seu sentido alterado, pois ação direta era entendida como ação direta popular da classe trabalhadora e não como um grupo, ao mesmo tempo, como uma ação sem intermediários – tais como greve, ocupação, etc. Não necessariamente quebrar ou incendiar algo). Por fetischismo estou chamando aqui o fato de tornar a ação violenta como um fim em si mesmo. Mas, por outro lado, vocês não acham que talvez, no texto anterior e talvez neste também, exista um menosprezo do papel deste tipo de ação na própria consciência da classe trabalhadora? Veja, enquanto muitos negam a ação, outros também se inspiram. Eu cansei de presenciar trabalhadores ao assistirem a televisão vibrarem com as ações violentas provocadas pelas primeiras manifestações do ano passado (antes de junho). No seu comentário acima, você parece concordar com isso. Concorda? Enfim, isso em nenhum momento nega a importância do trabalho de base. Ao contrário, anda junto. Ao mesmo tempo, não penso que se possa ignorar a importância do efeito estético na luta. A forma e o conteúdo não se separam. Uma forma tradicional e autoritária engendra o mesmo conteúdo e vice-versa. O que acha?
há 4 horas · Editado · Curtir (desfazer) · 1
Rodrigo Araújo – Pena essa troca de comentários ficar restrito aos círculos sociais dos que aqui se envolveram no assunto (curtindo ou comentando). Acredito que seria muito útil e proveitoso se fossem publicados no site, pois lá um número maior de pessoas poderia ler, refletir e eventualmente se envolver no debate. abraços
há 4 horas · Curtir (desfazer) · 2
Alexandre De Paula Meirelles – Muito bom o texto e concordo plenamente a participação total em todos os campos da luta e da organização, rompe com a ideia Capitalista iniciada no século XX de uma Sociedade das organizações fragmentada de conhecimento fragmentado e participações fragmentadas que favorecem a existência dos Gestores, Managers etc. O trabalhador ao longo da história sempre mostrou a capacidade inclusive de organizar os processos produtivos muito melhor que os capitalistas na medida em que em poucas experiências Históricas aboliram as hierarquias e a mais-valia. Parabéns pelo texto Fagner Enrique.
há 4 horas · Curtir (desfazer) · 2
Fagner Enrique – Rafael, eu não sou contra a ação direta nesse sentido, digamos assim, “atual”, colocado por você. E nem a menosprezo. Eu só não concordo que ela, como você colocou, torne-se um fim em si mesmo. Ela deve ir, como você também colocou, andando em conjunto com o trabalho de base. O efeito estético também é importante, mas ele não deve ser o critério de avaliação de vitórias e derrotas. Na verdade, a ação direta como um fim em si mesmo e reduzida ao estético, acaba se tornando a prática tanto de grupos libertários quanto de grupos autoritários. Mas eu acho que ela é importante. Em certos momentos, eu confesso que penso que ela deve ser praticada apenas de maneira defensiva. Isso não significa que, numa manifestação, se a polícia não atacar a população não pode partir para a ação direta. Isso significa que é preciso ter legitimidade entre os trabalhadores para a prática da ação direta. Quero com isso dizer que penso que ela deve ser sempre legitimada perante os trabalhadores como uma prática de resistência e como um ato pelo qual, digamos assim, se “dá o troco” nas empresas e no Estado, em represália aos abusos constantes. Se houver a oportunidade de sair quebrando tudo, ótimo, mas isso precisa ser apresentado como algo legítimo. Caso contrário, as pessoas pensam que “as coisas já não funcionam direito e esses vândalos ainda vêm quebrar tudo”. Se ela não for legitimada perante os trabalhadores, as campanhas de difamação da imprensa, das empresas e do governo acaba tornando-a ilegítima. Eu errei, num dos comentários ao artigo sobre o dia 15, ao dizer que os três autores consideram a prática da ação direta legítima apenas em termos defensivos. Os dois outros autores discordam. Conversamos depois sobre isso. Mas eu tendo, pelo menos agora, na atual conjuntura, a defender que seja dessa forma.
há 3 horas · Curtir
Karina Oliveira – Rafael Saddi , a crítica que pretendemos expressar no texto de balanço acerca da ação direta no Itatiaia foi justamente a do fetichismo que muitos grupos/indivíduos possuem com a estética do ato,reduzindo radicalidade e combatividade ao ato de quebrar e queimar coisas, como se isso em si fosse revolucionário e desprezam ações como a do bandeiras, em que estudantes se auto-organizaram, para estes, este tipo de ação não é radical, tampouco, relevante. A questão que tentamos problematizar é quando isto vira um fim em si mesmo, em que não se pretende um trabalho a médio prazo de diálogo com as pessoas da região. Acho que a questão de como essas ações inspiram ou não a classe trabalhadora está muito ligada ao percurso da luta e ao modo como a ação é feita, será mesmo que um ônibus queimado em uma universidade federal, em que se propagandeia alguns grupos nos ônibus inspira os trabalhadores? Será que há alguma identificação por parte dos trabalhadores? A princípio penso que não. Não que eu acho que isso deslegitima o ato, como dito no texto, entendemos que ele foi positivo, mas pensando em um fortalecimento da organização dos trabalhadores, acho que não curtiu muito efeito. Se pensarmos nas queimas e quebradeira de ônibus do ano passado me parece que esse efeito nos trabalhadores é mais incisivo, pois houve todo um percurso da luta contra o aumento, com bastante diálogo e que usou diversas táticas, inclusive institucionais e que nos esgotamentos destas, desembocou no 28 de maio.
há 3 horas · Curtir (desfazer) · 1
Caro Marcelo Lopes de Souza,
o artigo acima é um texto de polêmica, pensado para responder a certas críticas de certas pessoas. E mais: pensado para criticar certas práticas. Algumas pessoas pensam que a revolução começa quando o “povo” “toma as ruas” e parte para a “ação direta” (entendida atualmente como ações violentas) ou para “ações combativas” etc. – todos querem agora, depois de junho do ano passado, se apropriar de certas imagens, de resistência e radicalismo. E que ela termina quando o “povo”, que “tomou as ruas” e partiu para a “ação direta” ou para “ações combativas” etc., dirigido agora pela vanguarda revolucionária da vez, conscientizado pelos jornaizinhos do partido x ou do movimento y distribuídos na última manifestação “combativa”, toma de assalto o poder de Estado (no caso de certos marxistas-leninistas) ou milagrosamente faz ruir todo o edifício do Estado (no caso de certos anarquistas). Eu tendo a discordar. Pode até ser que a revolução comece com uma jornada de manifestações populares, mas certamente ela não vai terminar como querem que ela termine o tipo de gente acima mencionado (e, se vai, não será certamente uma revolução vitoriosa dos trabalhadores). Acontece que o tipo de gente acima mencionado pretende que a condição para a vitória de uma revolução – ou mesmo de uma jornada de lutas não necessariamente revolucionárias – é a direção dos trabalhadores em luta por uma vanguarda de pessoas esclarecidas e que já demonstraram a que vieram na luta. Isso quando não pretendem que os trabalhadores, diante de “ações combativas” ou “diretas”, tendam de imediato a deixar de fazer o que estão fazendo e a correr para as barricadas (ou para as trincheiras, no caso dos mais afobados)! E isso tudo falando apenas da extrema-esquerda, deixando de lado a esquerda instalada no poder. Enfim, por ser um texto de polêmica, acabei optando por não entrar nessa seara da definição conceitual a partir das origens e das influências, das diferentes interpretações do termo etc. Não sei se isso constitui uma fragilidade no meu artigo. Acho que é um debate muito importante, mas, tendo em vista a finalidade do artigo, acabei me esquivando dele. Preferi tentar definir a autonomia enquanto prática mesmo, uma prática que eu considero a única capaz de viabilizar a revolução dos trabalhadores: o estímulo a que os trabalhadores em geral assumam a condução prática e intelectual das lutas em geral. Por fim, talvez tivesse sido adequado evocar exemplos concretos de autogestão das lutas.