Por Miguel Serras Pereira
1.
O problema essencial do multiculturalismo é não se dar conta de que o seu grão de verdade, a recusa de sacralizar e absolutizar a própria cultura, não é um traço que as outras culturas estejam, todas elas, dispostas a aceitar, quer ao nível individual interno, permitindo a dessacralização dos seus valores e o pôr em causa das instituições que os invocam, quer ao nível das relações que estabelecem com as outras culturas. De onde resulta um segundo problema maior: os multiculturalistas, que não sacralizam as suas próprias tradições, e bem, sacralizam, menos bem, as alheias, invocando a sua condição cultural — quando não se aplicam a afirmar a superioridade das alheias sobre as próprias, contanto que as primeiras neguem as segundas.
2.
O multiculturalismo, entendido como modelo de sociedade, só seria possível e consistente se pudéssemos considerar cada cultura como uma espécie de folclore, um divertido acervo documental de receitas de cozinha ou de trajes regionais, etc., que podem coexistir sem problemas, por não tocarem significações normativas ou valorizações decisivas. Mas, nesse caso, justamente, não seria um modelo de sociedade, nem cultura suficiente para assegurar a socialização fosse em que sociedade fosse [1]. Com efeito, se considerarmos seriamente o conteúdo e formas de uma cultura, esta promove, interdita, valoriza, recompensa ou pune comportamentos e representações, que não poderemos sequer considerar razoavelmente suspendendo as questões ou juízos de valor que, em cada caso, as leis ou instituições fazem valer. E, chegados aqui, abreviando muito, teremos de escolher entre o melhor — o diálogo e o debate que aceitam pôr em casa tanto os valores próprios como os dos outros — e o pior, a violência que coloca normas e instituições, sacralizando-os, fora de qualquer questionamento que não seja sacrílego, podendo chegar ao ponto de recusar aos outros, ou aos seus quando não conformes, o reconhecimento da sua humanidade. E, sim, por muito pouco satisfatórias que possam ser, a deliberação e decisão universalizáveis sobre a Constituição são, numa perspectiva democrática, superiores, ou preferíveis, à pregação e imposição da Revelação — como, ainda que só em parte assegurada, ainda quase só embrionária, a condição igualitária da cidadania é preferível à de súbditos. E o mesmo nos autoriza, por exemplo, a sustentar, em termos democráticos, que a “superioridade” relativa de uma cultura sobre outra é a de não impor o racismo, permitir combatê-lo, não perseguir os que o denunciam, não aceitar que os membros de outras culturas sejam tidos por inferiores ou menos humanos.
3.
O diálogo e o debate que aceitam pôr em casa tanto os valores próprios como os dos outros — é o enunciado esquemático de uma das condições da democracia e desse livre-exame, interrogação sem peias, que a filosofia nos legou.
4.
Quanto à “superioridade”, no entanto, explicito, mantendo o que disse acima, que, evidentemente, não há culturas que o sejam menos do que as outras, que todas são igualmente construções e criações originais, e todas na mesma medida sociais e históricas. A única superioridade, neste campo, é a que decorre do reconhecimento, e da legitimidade (ou desejavelmente, incitamento) desse reconhecimento, no interior de uma cultura ou constelação cultural, da condição de criação humana e, por isso, falível e aberta ao mesmo tempo, das suas leis e valores fundamentais, de todas as leis e valores culturais, que, por isso, podem ser postos em questão, substituídos, abandonados, reinventados — e assim por diante. Outra maneira de o dizer, retomando algumas “ideias-mãe” de Castoriadis [2]: a única “superioridade” é o da modéstia e phronesis, ou renúncia à hubris/desmesura, de uma cultura e socialização que não se creia de origem divina ou sagrada pela natureza, que não se adorem nem absolutizem. Tal é o núcleo que, sem obscurecer a sua contingência, lhe permite escapar ao puro relativismo, que, no fundo, acaba por se tornar a si mesmo insignificante ou indiferente.
Notas
[1] Embora não possamos aqui mais do que indicar esse aspecto, convirá termos presente que uma cultura, no sentido em que aqui falamos dela, não é uma constelação de representações e instituições unívocas, nem está ao abrigo de dissidências e contradições internas, etc., etc. Embora estas dissidências e contradições traduzam, transponham e modulem relações de poder, não se segue que as versões, ou adaptações, que os dominados elaboram da cultura dominante ponham em causa o princípio da dominação hierárquica.
[2] Refiro-me às ideias mais originais que Castoriadis desenvolve, sobretudo, a partir de meados da década de 1960. Mas, especificamente sobre a crítica do relativismo, do multiculturalismo, etc., encontrar-se-á uma boa introdução concisa em Cornelius CASTORIADIS, Démocratie et relativisme. Débat avec le MAUSS, Paris, Mille et une nuits, 2010.


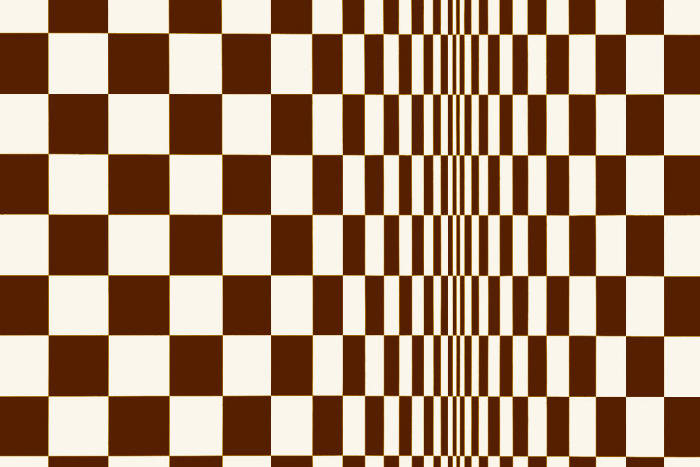
Miguel,
Para os multiculturalistas — estes que nós conhecemos e por aqui passeiam — trata-se, com efeito, de «considerar cada cultura como uma espécie de folclore». Mesmo quando pretendem definir a identidade pela cor da pele, não dispensam certos tipos de roupa, certos adereços, certos penteados. E quando as identidades são definidas sexualmente, elas são assumidas como mutáveis, máscaras que se põem e tiram. São pessoas-Lego compondo uma sociedade-Lego.
Este carnaval seria uma simples palhaçada se não tivesse consequências sinistras. É que, como tu escreves, os multiculturalistas sacralizam as tradições alheias, invocando a sua condição cultural. Por detrás da encenação, o multiculturalismo serve para encobrir e legitimar milícias como as do Boko Haram, que raptam, violam e escravizam muitas centenas de jovens. Só que são jovens negras africanas, as milícias são negras africanas e Boko Haram significa que a educação ocidental, não islâmica, é pecaminosa. E assim, em nome do multiculturalismo admite-se a cultura do Boko Haram, como se admitem, mas sempre em casa dos outros, coisas igualmente tenebrosas, que nestes casos já não são um folclore. É aqui que o riso de desmancha e o folclore se torna sangrento.
Gostei demais do artigo! Apenas gostaria de uma opinião, seja do Miguel ou de qualquer outro colaborador do Passa Palavra. Para mim o problema fundamental está em colocar o âmbito da cultura numa posição ôntico-ontológica, ou seja, como sendo a própria essência do humano tomado seja individual, seja coletivamente. Aí reside o problema, pois as culturas estão sujeitas à temporalidade: elas mudam a cada instante histórico, e é isso que faz com que elas (e a arte, produto dela) sejam tão interessantes e tão ricas. Inclusive, agora me apoiando numa menção de Rudolf Rocker a Nietzsche (um fascista desgraçado, diga-se de passagem, mas que vez ou outra acertava aqui e acolá) em seu “A Ideologia do Anarquismo”, o anarquista alemão afirma que as culturas mais floresceram e se enriqueceram nos momentos em que o Estado se enfraqueceu. O que me parece um acerto, pois não é o Estado um grande perpetrador de genocídios e toda espécie? Assim, respeitosamente me distanciando de visões que colocam a cultura nesse patamar ôntico-ontológico, concordo com João Bernardo ao afirmar em seu Labirintos do Fascismo (3a edição, p. 16): “É em função da produção e da expropriação da mais-valia, assim entendida, que devem definir-se as classes sociais no capitalismo. Neste plano, e só neste plano, elas têm uma existência permanente e são a raiz de todas as manifestações sociais.” Isto é, dado o caráter fluido das culturas, acredito que devemos nos apegar àquilo que é permanente e que é a raiz de todos os outros aspectos da vida humana: a materialidade.
Bem, minha indagação é a seguinte. Que vocês acham da identificação de um sujeito com determinada cultura, desde que, como o Miguel bem afirmou, esteja conformada a estas condições: “A única superioridade, neste campo, é a que decorre do reconhecimento, e da legitimidade (ou desejavelmente, incitamento) desse reconhecimento, no interior de uma cultura ou constelação cultural, da condição de criação humana e, por isso, falível e aberta ao mesmo tempo, das suas leis e valores fundamentais, de todas as leis e valores culturais, que, por isso, podem ser postos em questão, substituídos, abandonados, reinventados — e assim por diante.”? Pois acredito, mais uma vez, que o problema não é identificar-se com alguma dessas milhões de identidades que todos os dias se inventam e re-inventam, mas sim colocar a identidade num plano que não é o dela, como disse no primeiro parágrafo. Isso, na minha opinião, é o problema do identitarismo, e que perpassa desde o Boko Haram na África, até o conflito entre os fascistas de Donetsk e Luhansk de um lado e os fascistas de Kiev de outro, até a dissolução da Yugoslávia nos anos 1990. E neste último caso a coisa é ainda mais crítica e salta ainda mais aos olhos, pois até onde me consta servos, croatas e bosniaks falam a mesma língua: servo-croata.
Por fim, gostaria de saber se João Bernardo (que comentou aí em cima) poderia desenvolver mais sua proposta de construção de uma cultura universal, ou apontar para artigos/livros que abordem o tema. Acredito que Marx em “A Questão Judaica” fala desse problema, correto?
Grande abraço e vamos ao debate
Antonio de Odilon Brito Responder a todas as questões que o seu comentário levanta exigiria demasiado espaço e tempo. O que posso dizer, no entanto, é que, no texto, a cultura deve ser entendida como tudo aquilo que, tendo a “materialidade” como base, as sociedades humanas constroem como “segunda natureza”, ou resposta à inexistência natural da sociedade. Inclui a linguagem, as instituições, a socialização dos indivíduos , os usos e costumes, etc., etc. Nesse sentido, a cultura, em si mesma, é condição da existência humana em sociedade — e não há sociedades mais ou menos culturais. De facto, no uso que lhe dou, a cultura refere-se a tudo o que, numa sociedade, não é pura “materialidade” dada, embora molde e prescreva o que se faz com ela e a partir dela. As relações que, na sociedade, que é sempre e a todo o momento história, se estabelecem colectivamente entre os humanos, são sempre, portanto, culturalmente instituídas. Nunca saímos da cultura: quer tenhamos ou não consciência explícita dela, quer a reconheçamos ou não como obra, acção, trabalho nosso. Enfim, não posso ir muito mais longe, mas espero que estas indicações preliminares lhe permitam poder avaliar melhor a ideia das minhas breves notas.
Antonio de Odilon Brito,
No seu comentário perguntou-me acerca da construção de uma cultura universal e, já que mencionou a 3ª versão do Labirintos do Fascismo, respondo com a transcrição de uma passagem desse livro, nas págs. 1366-1369.
«Todos os progressos que a classe trabalhadora e a esquerda conseguiram originar e sustentar são agora denegridos como eurocêntricos pelos cultores das identidades. Para eles o eurocentrismo é uma categoria central porque a proliferação de identidades, parcialmente sobreponíveis e sempre conflituais, só obtém alguma coerência através da oposição a um inimigo comum, o eurocentrismo, a única identidade réproba. Tal como a dialéctica racial do nacional-socialismo exigira uma anti-raça, a lógica do identitarismo exige uma anti-identidade. Com o inconveniente, porém, de o eurocentrismo não corresponder aos factos históricos. […] Desde o início que o capitalismo foi um movimento de integração das diversas culturas existentes no mundo e não uma simples exportação de qualquer cultura europeia. A dinâmica capitalista começou por integrar as culturas no espaço onde surgiu, o continente europeu, e depressa expandiu o mesmo processo aos outros continentes. Como sempre, são as vanguardas artísticas que antecipam os fenómenos. Na segunda metade do século XIX o modernismo assimilou a lição da pintura japonesa, e da arte das ilhas do Pacífico no final desse século, para depois, nos primeiros anos do século XX, se abrir inteiramente à escultura africana e um pouco mais tarde à escultura e também à tecelagem dos índios das Américas. Nos cem anos que duraram entre os meados do século XIX e os meados do século XX não houve na Europa uma estética de vanguarda que não resultasse de uma reflexão sobre a estética das outras civilizações. Quando os devotos das identidades discursam contra o pretenso eurocentrismo eles estão na realidade a opor-se à grande cultura integradora mundial, resultante da fusão de uma multiplicidade de tradições. Mas os efeitos dessa negação são tragicamente assimétricos, pois a cultura global está inamovivelmente alicerçada do lado dos capitalistas, sustentada agora pelas empresas transnacionais, e funda-se na unificação dos métodos administrativos e dos processos de trabalho. Neste lado os identitários não podem interferir — nem visivelmente o desejam — e o seu único alvo é o lado oposto, o da constituição de uma cultura globalizante na classe trabalhadora. […] Perante a globalização do capital, o identitarismo, somado aos nacionalismos, é o principal instrumento ideológico de fragmentação dos trabalhadores. […] O culto das identidades é o sucedâneo do nacionalismo na época da transnacionalização do capital. No mundo em que vivemos, os ataques dirigidos contra a solidariedade da classe trabalhadora, que nas décadas de 1920 e 1930 couberam aos nacionalismos, são ressuscitados pelo identitarismo. Por isso o culto das identidades é um dos mais potentes mecanismos geradores do que poderá ser um fascismo do nosso tempo.»
Miguel, obrigado pelo esclarecimento! Concordo com você plenamente, acredito que é da materialidade que surge a consciência e, portanto, tudo que dela advém. Portanto, dado que o lugar da Verdade é o material, enquanto que as outras esferas da vida humana possuem uma existência fluida, o verdadeiro divisor de águas nas lutas é a luta de classes compreendida como classe trabalhadora x burguesia. Me formei a partir de uma perspectiva, entretanto, que em sua maioria não compreende dessa forma: é o Especifismo da Coordenação Anarquista Brasileira, com sua Interdependência Estrutural das Três Esferas (até onde me consta fruto da influência de Foucault, por sinal, sobre a Federação Anarquista Gaúcha e a Federação Anarquista Uruguaia). Veja aqui neste trecho do programa da Federação Anarquista do Rio de Janeiro, em que a luta cultural é alçada ao patamar da luta de classes; não como parte integrante da luta da classe trabalhadora, mas justaposta a essa luta:
“Baseados na classificação de Rudolf de Jong e na nossa própria e recente história de luta, conceituamos o conjunto das classes exploradas, a partir das relações centro-periferia. Desta maneira, fazem partedeste conjunto:a. Culturas e sociedades completamente estranhas e distantes do centro, de maneiranenhuma “integradas”, e que são “selvagens” aos olhos do centro. Por exemplo, os índiosdo Amazonas.b. Áreas periféricas relacionadas ao centro e pertencendo a estruturas políticas esocioeconômicas que tentam, ao mesmo tempo, manter suas identidades. São dominadaspelo centro, ameaçadas em sua existência pela expansão econômica deste. Pelos padrõesdo centro são “atrasadas” e subdesenvolvidas. Por exemplo, as comunidades indígenas doMéxico e dos países andinos. Outros exemplos nesta categoria – talvez devêssemos falarem um subgrupo b.1 – são pequenos produtores, trabalhadores especializados ecamponeses ameaçados em sua existência econômica e social pelo progresso do centro eque ainda lutam por sua independência.c. Classes econômicas ou mesmo sistemas socioeconômicos que costumavam pertencer aum centro, mas que voltaram a uma posição periférica após inovações tecnológicas edesenvolvimentos socioeconômicos no centro. Por exemplo, o lumpemproletariado,trabalhadores informais precarizados e o exército permanente de pessoas desempregadas.d. Classes sociais e grupos que fazem parte de um centro num sentido econômico, masque são periféricos num sentido social, cultural e/ou político: as classes trabalhadoras, oproletariado em sociedades industriais emergentes, as mulheres, os negros, oshomossexuais.e. Relações centro-periféricas de natureza política, seja entre Estados ou dentro deles:relações coloniais ou imperialistas, relações capital versus província etc. Tais relações nosistema capitalista desenvolvem-se paralelamente às relações econômicas mencionadasacima – ou, grupo e.1: dominação neocapitalista, colonização interna e exploração.” (Em: https://anarquismorj.files.wordpress.com/2011/08/programa_farj_anarquismo_social.pdf – páginas 10 e 11)
João, não sei por que não lembrei desse trecho do seu livro. Por sinal, todo o capítulo final de Labirintos do Fascismo me foi muito esclarecedor. Não sabia da importância de Averroes para o racionalismo que depois veio a caracterizar o pensamento ocidental; racionalismo este que foi introduzido pelos árabes. Bem interessante: “E concluiu que, enquanto os árabes seguiram o rumo de ibn Sīnā e assim se afastaram do racionalismo, a cultura europeia pôde abrir caminho ao racionalismo histórico e científico porque aprendera dos árabes a lição de ibn Rushd.” (página 1368 da 3a edição de Labirintos do Fascismo, para quem tiver curiosidade).
Uma dúvida, entretanto: quando você diz “Desde o início que o capitalismo foi um movimento de integração das diversas culturas existentes no mundo e não uma simples exportação de qualquer cultura europeia”, você compreende que essa integração, se por um lado pressupõe trocas culturais, por outro pressupõe genocídio étnico e apagamento de outras culturas? Isto é, concordo com você que a integração mundial das culturas (algo bom, e que a meu ver só pode ser verdadeiramente feita pela classe trabalhadora) é algo que começou com o capitalismo, que esse processo inclusive se confunde com o surgimento da classe trabalhadora (esta possuindo uma existência supranacional porque o Capital possui essa característica), porém é preciso considerar o outro lado da moeda: genocídio étnico, escravidão, toda sorte de barbaridades (perpetradas tanto pelos velhos colonizadores europeus, como pelos novos colonizadores negros “retornados”) muito bem descritas por você e Manolo no artigo “De Volta à África”. O lado bom e o lado nefasto me parecem dois lados do mesmo processo, mas não é a realidade algo em si contraditório? Enfim, gostaria da sua opinião acerca desse assunto.
Abraços e vamos ao debate
Antonio,
Esta resposta vai ser mais longa do que eu gostaria, embora seja muitíssimo mais breve do que seria necessário.
1) A primeira questão a ter em conta é o carácter contraditório da actuação das elites europeias durante a expansão imperialista. Os identitarismos, tal como os nacionalismos, gostam de apresentar entidades homogéneas, que em última análise são os bons contra os maus. Mas a história real não se compadece com esse simplismo. No caso que aqui interessa, houve, por um lado, a sub-humanização e as chacinas, que estão bem documentadas. Mas, por outro lado, houve o estudo das culturas nativas e, para isso, a abertura de novos ramos do conhecimento.
Um exemplo sugestivo é a invasão do Egipto pelo general Bonaparte, antes de ele ser o imperador Napoleão. Por um lado, houve as atrocidades, enquanto, por outro, Bonaparte levou consigo para o Egipto uma equipa de cientistas sem precedente, que estudaram a arqueologia e a cultura egípcia em termos desprovidos de racismo. A mesma dualidade encontra-se entre os britânicos na Companhia das Índias.
Aliás, e esta é uma regra geral, os arqueólogos foram procurar ruínas, pedaços de objectos e esqueletos em sociedades que não mostravam nenhum interesse por esses vestígios. Isto significa que os arqueólogos vindos de alguns países europeus e, mais tarde, dos Estados Unidos estavam a valorizar culturas que os herdeiros dessas culturas não valorizavam. O mesmo se passou com os antropólogos, e se alguns deles desposaram perspectivas racistas e defenderam uma hierarquização das culturas, muitos outros não foram influenciados pelo racismo e consideraram as culturas em pé de igualdade.
Em suma, assim como entre as elites europeias havia uma contradição entre, por um lado, os racistas e os que praticavam genocídios e, por outro lado, os que estudavam e valorizavam as culturas nativas, também nas sociedades nativas havia uma contradição entre os que tinham a noção da dignidade do seu passado e os que desprezavam os vestígios desse passado. André Gide forneceu-nos a chave para a compreensão dessa contradição nas sociedades imperialistas quando escreveu, a propósito da colonização europeia do Congo, «quanto menos inteligente é o branco, mais o negro lhe parece estúpido».
2) Eu escrevi que «como sempre, são as vanguardas artísticas que antecipam os fenómenos», e naquela época a esmagadora maioria dos artistas de vanguarda vivia na indigência, mesmo que uns poucos durassem o suficiente para beneficiar economicamente da celebridade adquirida. Limitando-me aos exemplos que evoquei, a lição da pintura e do desenho japoneses foi assimilada pelos impressionistas e por certos pós-impressionistas, alguns dos quais vivendo na indigência ou pior, como Van Gogh ou Toulouse-Lautrec. A arte das ilhas do Pacífico foi assimilada, mais do que isso, foi vivida por Gaugin, que desposou não só a arte como os interesses dos indígenas, e ali morreu na penúria. O interesse de Picasso pela escultura africana é bem conhecido, flagrante em Les demoiselles d’Avignon, que constitui um dos marcos mais importantes na história da arte, mas vários outros artistas da época partilharam o mesmo interesse, como pode observar-se, por exemplo, em alguns expressionistas alemães. Mesmo Modigliani, que morreu na miséria, deixou nome sobretudo pelas suas telas, mas assimilou a lição das obras africanas nas suas esculturas em madeira, e sem elas a construção das suas pinturas não pode ser entendida. Finalmente, Anni Albers era uma artista de têxtil na Bauhaus, esposa de outro mestre da Bauhaus, Josef Albers, e ambos tiveram de procurar o exílio com a nomeação de Hitler para a chancelaria. Já no exílio Anni Albers interessou-se pela tecelagem mexicana pré-colombiana.
Foi deste modo que se criou uma cultura mundial integradora.
3) Mas a resposta dos identitários a esta cultura integradora é essencialmente destrutiva, já que consideram toda a assimilação cultural como um roubo de identidade. O Miguel Serras Pereira escreveu nesta coluna que «o multiculturalismo, entendido como modelo de sociedade, só seria possível e consistente se pudéssemos considerar cada cultura como uma espécie de folclore». Quando certos identitários reclamam, por exemplo, contra o uso de dadas roupas ou contra certos penteados por pessoas que não pertencem a essa identidade, estão a mostrar duas coisas. Primeiro, a redução do multiculturalismo ao folclore. Além disso, estão a atacar os próprios fundamentos da cultura, que só vive e progride mediante cruzamentos e assimilações.
4) Já agora, abro aqui um parêntese, que não é um. É curioso que os identitários e os pós-modernos, que defendem que a a ciência que eles consideram eurocêntrica seria uma narrativa tal como outras, ou pior ainda, seria uma narrativa imperialista, colonial e patriarcal, apesar disso usem toda a parafernália da tecnologia electrónica para escreverem os seus artigos, comunicarem entre eles e pagarem as suas contas. Parece-me existir aqui uma contradição. E é precisamente por causa dessa contradição que o multiculturalismo se reduz àquilo que é. Por um lado, um mero folclore para distinguir identidades que nos planos económico, técnico e social são fundamentalmente iguais. Por outro lado, um álibi para legitimar culturas que praticam aquilo que essas identidades, aqui na nossa cultura, nunca admitiriam que fosse feito.
5) É sobre essa cultura mundial integradora que as lutas da classe trabalhadora prosseguem, ou devem prosseguir, se quisermos, enfim, construir uma humanidade.
António,
não conheço a não ser muito, muito superficialmente, o “especifismo”, e o mesmo digo da “Interdependência Estrutural das Três Esferas”. Assim, reiterando o que disse na minha primeira resposta, acrescento, para a precisar, e precisar o meu modo de ver as coisas, que penso que a acção humana (a linguagem é uma forma de acção que transforma a realidade do mundo em que aparece) não é menos real — menos consistente ontologicamente, se se quiser — do que os objectos “materiais” que transforma ou com os quais faz corpo. Do mesmo modo que a linguagem é uma criação social-histórica tão real e consistente como a produção de utensílios materiais — e, ao nível do indivíduo, a palavra uma metamorfose ou transformação do corpo, induzida pela socialização. Daí que, na minha resposta anterior eu tenha escrito “materialidade” como aqui faço, entre aspas. Uma coisa é dizermos que a cultura, a linguagem, as instituições, a sociedade enquanto tal, assentam, embora não se reduzam a elas, em condições necessárias anteriores, outra coisa diferente, e a meu ver sem grande sentido, seria dizer que essas condições anteriores (pré-sociais, pré-culturais, etc.) são mais “materiais” do que aquilo que, construindo-se sobre elas, é uma sua transformação. A “realidade” (as condições reais) da transformação não é menos real do que a “realidade” (ou “materialidade”) que, nessa transformação, se transforma.
João Bernardo e Miguel Serras, perdão pela relativa demora em responder
Começando por você, João, acredito que agora está bem mais claro para mim o que você quer dizer. Primeiro me deparei com seu conceito de “cultura universal” quando li seu artigo “Ponto Final”, aqui no Passa Palavra; me estranhou muito, pois de primeira pensei que tivesse a ver com o apagamento das diversidades culturais em nome da conformação de toda a humanidade a um conjunto de costumes completamente uniforme. Porém já naquela época acreditava que muito provavelmente seria algo bem diferente disso, e agora, com seu comentário, acredito que tenha compreendido. Com efeito, vejo que na prática a ideia é bem distinta: longe de se colocar freios, barreiras e construir folclores sobre as culturas deve-se buscar permitir que todas se integrem, assim potencializando o aspecto dinâmico e rico que é próprio da cultura. Uma vez um cidadão que afirma ter estado em Chiapas/México me disse (não sei se o que ele disse é verdade, pois nunca estive lá e não tenho leitura sobre o assunto) que os índios Zapatistas trabalham enquanto recitam poemas de poetas de vários cantos do globo.
No mais, não quero fazer mais observações porque tenho outras pendências, e sei que certamente você tem as suas. Apenas gostaria de sugerir que você, caso tenha interesse, é claro, escrevesse sobre a cultura universal e o multiculturalismo. Carecemos desse debate
Miguel Serras, no meu comentário anterior esqueci de dizer que a ideia da Interdependência Estrutural das Três Esferas está sintetizada, por assim dizer, nesta tese de doutorado muito boa escrita por Bruno Lima Rocha: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/15894/000692638.pdf?sequence=1
Sobre o resto do seu comentário, agora compreendo melhor sua ideia. Porém não tenho como respondê-lo apropriadamente, pois não tenho essa ideia ainda bem resolvida no meu intelecto. Preciso ler e meditar mais acerca desse assunto. Mas muito obrigado pelos esclarecimentos!
Atenciosamente,
Antonio
Caro Antonio,
obrigado pela referência que me indica. Quanto ao resto, teremos outras ocasiões de falar. Ce n´était qu’un début…
Antonio,
No meu comentário anterior dei exemplos de uma cultura integradora e universalizante tecida a partir dos centros capitalistas mais dinâmicos. Chamo agora a atenção para uma pujante demonstração do percurso inverso: o jazz.
O jazz resultou de uma fusão entre tradições negras e formas musicais difundidas na população branca dos Estados Unidos, e o primeiro estilo de jazz a adquirir grande audiência nasceu em New Orleans, na Luisiana, precisamente um dos centros do que havia sido a América francesa. Na sequência da participação dos Estados Unidos na primeira guerra mundial o jazz difundiu-se na Europa, onde atraiu um vastíssimo público, primeiro graças exclusivamente a intérpretes negros norte-americanos, atraídos por este novo mercado. Mas rapidamente o jazz passou a incorporar não só intérpretes brancos como também temas caracterizadamente europeus. Um marco importante nesta direcção é o aparecimento de um jazz cigano, de que Django Reinhardt e Stéphane Grappelli foram os melhores intérpretes. Depois o jazz expandiu-se por todos os países, numa forma musical que lhe permite incorporar quaisquer tradições locais.
Mas o carácter integrador e universalizante do jazz não parou aí, porque saltou também as fronteiras que o separavam da música erudita. O concerto para piano em sol maior, de Ravel, terminado em 1931, é o primeiro exemplo que vem à memória de qualquer amante da música, mas em direcção inversa Duke Ellington, entre tantos outros pianistas de jazz, interessou-se pelas obras para piano de Debussy, o que se reflecte em muitas das suas composições. Hoje o jazz não tem nenhumas fronteiras e é um dos elementos mais dinâmicos de uma cultura universal.
É esta a mais cabal crítica ao identitarismo. Boa escuta.
João Bernardo,
A essa circulação cultural característica da própria história humana que você descreve com o exemplo do jazz, os identitaristas chamam negativamente de “apropriação cultural”. Jazz, samba, turbantes e outras manifestações culturais, que são na verdade objetos de consumo na nossa sociedade, seriam na distopia identitarista, exclusividade de pessoas de uma certa cor de pele. Cada cor de pele com suas roupas e músicas. Se fossem físico-químicos eles iriam contra a entropia, contra o aumento do grau e indiferenciação num sistema, ou seja, uma luta inútil e irracional. Aliás, Hitler queria o mesmo.
Leo,
Eu sei, claro, que a isso os identitaristas chamam «apropriação cultural». Mas o problema é exactamente aquele que o Miguel Serras Pereira colocou nesta coluna, quando escreveu que «o multiculturalismo, entendido como modelo de sociedade, só seria possível e consistente se pudéssemos considerar cada cultura como uma espécie de folclore, um divertido acervo documental de receitas de cozinha ou de trajes regionais». Os multiculturalistas e os identitários nem sequer se dão conta de que, ao reclamarem contra a «apropriação cultural», estão a condenar-se a eles próprios à irrelevância.
Mas existe aqui uma enorme hipocrisia, porque embora o movimento negro e as demais identidades do arco-íris sustentem que a ciência é uma narrativa eurocêntrica, minada pelo patriarcalismo e pelo racismo, reivindicam cotas para se inserirem em universidades cujo modelo é estritamente eurocêntrico, reclamam o direito de ocupar lugares nas administrações de empresas cujo modelo organizativo é de origem eurocêntrica, procuram afirmar-se num sistema económico cuja gestação foi eurocêntrica, e para isso escrevem textos em computadores e usam redes sociais cuja base tecnológica assenta na ciência reputadamente eurocêntrica. Mas — e aí entra a tal «espécie de folclore» de que o Miguel Serras Pereira falou — fazem-no vestindo uma roupa e usando uns penteados que, muitas vezes sem fundamento, atribuem às identidades de que se reivindicam.
Eu sei que hoje não é politicamente correcto evocar a estupidez, mas não sei como evitá-lo nestes casos. Outro dia procurei saber como é que os sites de candomblé apresentavam os sacrifícios de animais, perante o prestígio actualmente conseguido pelos vegetarianos e vegans. E deparei com sites que argumentavam que, embora os animais fossem sacrificados, não era para serem comidos. Ri muito, e pensei que, na próxima vez que eu assassinar alguém, defender-me-ei em tribunal alegando que não era para comer.
Pois nessa busca na internet encontrei um texto de uma senhora que se identifica como «mulher preta» e que tem a amabilidade de concluir proclamando, em maiúsculas, que «o ocidente tem mesmo é que morrer». O engraçado é que a autora destes propósitos genocidas inicia o seu texto explicando: «Não me digo mais “vegana”, porque “veganismo” é um termo ocidental». E ela escreve isto, aliás, escreve todo o texto na língua portuguesa, que é uma estrutura sintáctica ocidental constituída por termos ocidentais. Aquela senhora usa termos ocidentais para dizer que não quer usar termos ocidentais.
Nestas contradições só resta aos multiculturalistas, como o Miguel apontou, recorrerem ao folclore.
João Bernardo e Leo Vinicius, caros:
nada tenho a acrescentar ao que vocês os dois dizem. Assino por baixo e, sobretudo, agradeço terem tornado mais claro o que eu escrevi. O jazz, João, deste ponto de vista, torna sensível e dá carne à ideia daquilo que a versão original, em francês, da Internacional dizia: “a Internacional será o género humano”.
João Bernardo,
li o texto do autor e acompanhei a discussão aqui e fiquei me perguntando: se, por um lado, o multiculturalismo e o identitarismo são armadilhas eficazes para nos prender a um essencialismo racial, por outro, a crítica ao eurocentrismo e aos seus limites não nos levaria a compreender como a dinâmica de enxergar o “outro” não europeu ainda tem efeitos concretos nas relações sociais atuais sob o capitalismo?
Sinalizo isso porque, em que pese a raça seja tb uma armadilha discursiva, os efeitos do racialismo na estruturação de marcadores sociais acabam por definir posições de poder e desigualdades materiais, tendo consequências sobre a própria classe trabalhadora.
Percebo que a sua posição aponta para uma crítica pertinente, contudo fico apreensivo para compreender como a sua construção teórica articula a dimensão racial no que esta tem mais concreto em termos de desigualdades sociais para o conjunto dos trabalhadores. Como não conheço a sua obra por completo, aqui posso estar incorrendo em um equívoco manifesto…
João Marques,
Se lhe interessar, pode ler aqui, nas págs. 1367-1368, um esboço muito sintético da minha crítica à noção de eurocentrismo. Mas vou concentrar-me agora no outro aspecto do seu comentário. Você escreve que «os efeitos do racialismo na estruturação de marcadores sociais acabam por definir posições de poder e desigualdades materiais, tendo consequências sobre a própria classe trabalhadora». Penso que a este respeito a questão racial causa mais confusão do que esclarecimento, por isso peço-lhe que olhe para a África. Será que podem interpretar-se em termos raciais — que eu entendo simplesmente como diferenças na taxa de melanina na epiderme e, eventualmente, diferenças no formato do nariz — as enormes clivagens de classe entre os capitalistas negros e os trabalhadores negros, bem como as relações de exploração entre ambos? Repito o que escrevi noutro lugar: «No dia em que surja um movimento negro que critique a formação de elites negras e as relações de desigualdade e exploração entre negros com a mesma veemência com que critica o racismo antinegro, então esse movimento passará a fazer parte constitutiva do processo geral de renovação da classe trabalhadora».
João Bernardo,
Suas observações acerca do Jazz me deixaram, por um lado, bastante contente, pois agora conheço composições desse estilo que amo que antes não conhecia, e por outro deixaram ainda mais claro aquilo que estamos discutindo. E já que estamos falando da integração mundial das culturas, sou alguém que aprecia diversos estilos musicais, e dentre eles o que mais me fascina é o Industrial. A música Industrial surgiu no final da década de 1970 com bandas como Throbbing Gristle (https://www.youtube.com/watch?v=IZAIrbonUcA) e Einstürzende Neubauten (https://www.youtube.com/watch?v=CweBj4pvcfg) por influência do Noise, da Musique Concréte (desse estilo recomendo o soviético Arseny Avraamov e esta composição: https://www.youtube.com/watch?v=Kq_7w9RHvpQ&t=642s), mas também do caráter contestador do nascente Punk. Tudo, mas tudo mesmo entrava (e entra) nesse estilo, e a provocação é regra: Throbbing Gristle, por exemplo, colocava certas frequências de som em seus shows que faziam a platéia vomitar, e Genocide Organ, por exemplo, lida com temas como terrorismo, genocídio, assassinatos, sectarismo político etc. Definir o Industrial é bastante difícil, mas basicamente eu diria que é “barulho organizado”.
Bem. O estilo sofreu diversas metamorfoses e adquiriu diversas influências, até que em 1980 surge uma banda na Eslovência (então parte da Yugoslávia) chamada Laibach (https://www.youtube.com/watch?v=07PpcCt90TY), cujo nome em si já gerou bastante polêmica, pois Laibach é a renomeação em alemão de Ljubljana, o que imediatamente provocou na população e no governo uma reação explosiva, visto que remete à ocupação nazista daquele território, bem como ao domínio Austríaco vários anos antes. Pois Laibach não apenas misturou o Industrial e sua estética incômoda ao ouvido médio com a música marcial (https://www.youtube.com/watch?v=5QbdLGeC3pM), como também começou a misturar referências fascistas com aquelas do “”socialismo”” encabeçado por Josip Broz Tito, e vestir essas referências em termos de uniformes e temáticas abordadas. Tudo isso era uma maneira de mostrar as semelhanças entre aquela forma de “”socialismo”” com o fascismo e denunciar esses sistemas políticos, porém paradoxalmente vestido as roupas do inimigo. Agora veja que interessante: durante a guerra de dissolução da Yugoslávia Laibach lança um disco chamado “NATO” (em Português: OTAN – https://www.youtube.com/watch?v=jOFzTjjZcZw) para denunciar a hipocrisia desse órgão e seu papel de supostamente “manter a paz”, além de fazer um evento de acolhimento à população traumatzada de Sarajevo em 1995 (https://www.youtube.com/watch?v=EL8KcXQ4-wA). Aqui temos música marcial, música clássica, ruídos criados em sintetizador ou gravados e utilizados como samples, instrumentos tocados de maneira não-ortodoxa misturados à história e aos traumas pelos quais os Bálcãs passaram durante todo o século XX. Se quiser uma análise mais aprofundada sobre essa banda e sobre o movimento artístico do qual eles fazem parte (o NSK), recomendo este documentário: https://toogoodfornetflix.noblogs.org/post/2019/01/29/predictions-of-fire-1996/
Agora, a banda desse estilo que realmente me fascina é AutopsiA – uma banda, aliás, muito mais envolta em mistério, mas que pelo menos sei que os integrantes são de esquerda, pois tenho o contato deles via facebook (falo isso porque há bandas fascistas de Industrial, infelizmente): https://www.youtube.com/watch?v=F6721panfnI&t=5s Destaque para a última faixa desse disco, onde há um trabalho de samplerização de Perotin (https://www.youtube.com/watch?v=3oaRM1uDsw8) misturado com sons feitos em sintetizador, provavelmente. Uma coisa linda.
Ainda sobre a fascinante influência que as culturas exercem umas sobre as outras, aqui há outra recomendação em termos de Industrial e Coro: durante a greve dos mineiros britânicos de 1984-85 o Coral do “Mineiros Grevistas do Sul de Gales” juntou forças com a banda socialista de Industrial “Test Dept.” e gravou este disco: https://www.youtube.com/watch?v=6ktC7f-I5Io&t=855s Barulhos feitos com instrumentos “não-musicais” e música marcial feita com latas de lixo encontram-se no mesmo disco que as faixas onde os mineiros cantam num estilo mais clássico, e por vezes também marcial. Sem esquecer, é claro, do belo trabalho de remixagem que Test Dept. fez do canto dos mineiros na faixa 8 “Comrades”. É algo realmente fascinante.
Por fim, um breve comentário que é um pouco um ponto fora da curva da discussão. Já que você falou em vegetarianismo/veganismo, algumas dessas pessoas (não todas, veja bem, não estou generalizando) em certos círculos parecem estar tomando o lugar outrora ocupado pelos identitários em termos de chatice e policiamento ideológico. E no caso deles é algo tão crítico quanto, pois vai na linha de policiar o que as pessoas compram no supermercado e colocam sobre a mesa para comer, o que mostra que os que fazem isso acham que vão atingir seus objetivos fetichizando o consumo – e neste caso minha crítica maior vai para aqueles que além de vegetarianos também se dizem socialistas, pois como é que se pretende atingir o socialismo focando no consumo do indivíduo? Mas há algo ainda mais crítico, que é uma questão muito mais profunda: plantas também são vida que quer viver, e tanto o querem, que possuem vários mecanismos de defesa (ver https://www.youtube.com/watch?v=GgnnklDVhso&t=24s, https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/710939/1/133fitopatogenos.pdf;Mecanismos e http://profissaobiotec.com.br/defesa-inteligente-estrategia-das-plantas/). Ou seja, onde puxamos o freio de mão? Comendo pedras? Daí a necessidade de haver um enfoque estritamente no ser humano enquanto sujeito que deve ser emancipado, porém com um respeito para com todos os outros tipos de vida.
João Bernardo,
li a referida passagem da sua obra e achei interessante e polêmica, assim como provocativa a sua indagação posta.
Por outro lado, se raça somente pode ser compreendida como “diferenças na taxa de melanina na epiderme e, eventualmente, diferenças no formato do nariz”, como explicar diferenças materiais de salários, educação formal, acesso a bens materiais, índices de violência urbana e criminalização, sem recorrer a esses marcadores sociais – melanínicos – delineados pelo racialismo, instrumentais numa sociedade capitalista?
De outra parte, será que nunca existiu um movimento negro nestes termos que vc mesmo delineou? Nenhuma experiência histórica e concreta neste sentido?
Por fim, o debate do PP acerca da crítica ao identitarismo tem sido bastante proveitoso. Ótimas contribuições…
Antonio de Odilon Brito,
Agradeço as suas indicações, que me serão úteis porque os meus interesses musicais têm-se restringido à música erudita e ao jazz. Mas, já que você falou em ruído, conhece a obra de Edgard Varèse? Ele foi um precursor incontornável, e não só para a música erudita. E conhece a obra de John Cage, que abriu também novos caminhos? Tudo isto, que me parece indispensável ouvir, faz parte da tal cultura mundial integradora e faz parte também das rupturas que essa cultura exige. Quanto à música electrónica, se não estou em erro, a primeira obra de música electrónica gravada em disco foi de Ernst Krenek, Spiritus Intelligentsiae Sanctus, parte 1 e parte 2, gravada pela Deutsche Grammophon.
João Marques,
Não existem raças. O que existe é racistas. Foram os racistas quem inventou as raças. O que existe na realidade é um continuum de nuances de cor de pele, sem que em nenhum ponto haja uma demarcação, e uma variedade de traços fisionómicos, que por vezes se combinam com um tom de pele, outras vezes com outro. Em muitas épocas e em muitas civilizações os seres humanos entendiam as diferenças entre eles como diferenças individuais. Na Europa, embora não nas colónias europeias, o racismo é uma criação tardia, datando do século XIX. As diferenças marcantes eram as diferenças entre culturas, e cada Estado englobava culturas distintas, muitas vezes opostas, que foram integradas em culturas nacionais comuns através de um duplo processo, assente na instrução geral obrigatória, submetida a programas únicos, e no serviço militar geral obrigatório. A noção de que exista uma sobreposição entre culturas e traços físicos distintivos é uma invenção dos racistas, incluindo o racismo fascista do movimento negro, exemplificado por Marcus Garvey e os seus seguidores, hoje numerosos.
Essas diferenças que você indica, «diferenças materiais de salários, educação formal, acesso a bens materiais, índices de violência urbana e criminalização», tanto existem entre pessoas em que predomina um tom de pele como entre pessoas com diferentes tons de pele. E se as características físicas podem constituir um factor de marginalização, podem também não o constituir e a marginalização resultar de outros factores. Peço-lhe de novo, estude a questão em África. E já agora, por simetria, estude-a no norte da Noruega, na Lapónia. Pretender explicar as diferenças sociais através de diferenças físicas é um beco sem saída.
Nas altas administrações económicas internacionais e transnacionais não existem segregações nem identitarismos. Aí a classe dos gestores está bem unida. Os identitarismos existem somente no meio dos trabalhadores. Capitalistas unidos e trabalhadores fraccionados.
João Bernardo,
peço vênias se estou sendo insistente ou persistente, pois a intenção é compreender de forma mais ampla o racismo e os seus efeitos históricos e, principalmente, sair da zona de conforto no que se refere às minhas próprias convicções sobre a temática.
Não sendo retórico – a intenção não é essa -, você aponta o movimento negro como, aparentemente, um todo unitário, sempre numa perspectiva única. Insisto: em sua concepção, nunca existiu historicamente um movimento negro nos termos delineados por seus critérios? Nunca se contribuiu para a classe trabalhadora?
Por outro lado, se o que existe é racistas, não existiria uma dimensão ideológica que fundamentaria a dimensão coletiva ou “estrutural” do racismo? Em outras palavras, me parece que essa sua assertiva não deixa de pensar essas questões.
Por fim, o debate sobre a África é bastante esclarecedor dos limites do racialismo, contudo os seus efeitos perduram. O que fazer então?
João Marques,
Quando existe racismo, inevitavelmente existe luta contra o racismo. O problema consiste na forma como essa luta prossegue. Eu só menciono o movimento negro como «um todo unitário, sempre numa perspectiva única» quando refiro a situação actual. A história do século XX mostrou-nos muitos exemplos de movimentos negros que inseriram a questão do racismo no interior da luta de classes, mas os identitários dos nossos dias atacam precisamente essa tradição. Veja o caso de Marcus Garvey, que fornece a matriz do movimento negro contemporâneo e que se apresentou a ele mesmo como fascista, aliás, como o inventor do fascismo. «Nós fomos os primeiros fascistas», declarou ele. Com efeito, Garvey lançou o seu movimento contra a esquerda e o movimento sindical, tanto branco como negro. Ora, a grande dificuldade nas lutas sociais é que não existem soluções definitivas. Veja os casos do MPLA em Angola, da FRELIMO em Moçambique e do ANC na África do Sul. Foram movimentos que lutaram contra o colonialismo e o racismo em termos não raciais e que integraram brancos nas suas fileiras. Hoje, porém, os regimes do MPLA, da FRELIMO e do ANC geraram classes capitalistas negras não menos ávidas nem menos arrogantes do que as classes capitalistas brancas do tempo do colonialismo e do apartheid. Antes a luta parecia de negros contra brancos, quando na realidade era uma luta de classes dissimulada pela cor da pele. Agora a luta de classes já não é dissimulada, mas as elites capitalistas negras de Angola, de Moçambique e da África do Sul comportam-se para com a plebe negra com a mesma arrogância e a mesma discriminação que antes se julgava exclusiva dos capitalistas brancos.
Se as lutas sociais não fossem complexas, já há muito que as questões estariam resolvidas.
João Bernardo
Me perdoe a demora de responder. Nunca escutei os trabalhos de nenhum dos artistas que você elencou, muito embora já tenha ouvido falar em John Cage. Irei escutar tudo que você sugeriu, inclusive irei fazer o download de algumas coisas no youtube. Muito obrigado! Gostei bastante do debate e digo que saio mais fortalecido. No mais, fica mais uma vez a sugestão para você: caso tenha interesse em escrever um pouco mais sobre o processo de integração mundial das culturas, com certeza seria bem interessante.
Abraços,
Antonio