Por Miguel Serras Pereira
Prevenindo mal-entendidos supérfluos, deixemos claro que a igualdade entre mulheres e homens está longe ainda de ter sido alcançada e que o tema de uma nova repartição dos papéis conserva toda a sua actualidade e é portador de um potencial de reabertura da questão política de primeira importância. Dito isto, não é menos evidente que, na formulação da outrora chamada “questão da mulher”, ou “questão feminina”, a reivindicação igualitária não é já suficiente em si mesma e que entram em jogo, na questão feminina, as questões globais da relação dos seres humanos com a sexualidade e a reprodução da espécie, da transformação das relações entre o público e o privado, do lugar e estatuto sociais e políticos daquilo a que chamamos trabalho ou profissão e da criação tanto de formas de participação formal como de convivência e usos e costumes informais que permitam uma relação diferente com as instituições de base da sociedade. Por outras palavras, não se trata já tanto de assegurar apenas uma repartição mais igual dos papéis disponíveis, no quadro da lógica instituída, como de uma redefinição igualitária e autónoma dos papéis e posições sociais.
Um segundo aspecto, nesta ordem de ideias, refere-se ao próprio sentido a dar à diferença sexual. Com efeito, se a reivindicação igualitária parece dever ser aprofundada nos termos de uma redefinição dos papéis e das relações que institucionalmente conjugam as diversas dimensões ou espaços da existência colectiva e individual, esta redefinição não é pensável em termos de uma redistribuição dos bens e vantagens, direitos e deveres, e assim por diante, segundo os sexos, mas deverá ser uma redefinição que tenha presente a dualidade sexual fundamental e interna à existência de cada um de nós que caracteriza os seres humanos. Deste ponto de vista, a substituição da problemática do género à do sexo pode, por vezes, dar lugar a graves equívocos e reducionismos fatais. Opor o género, construção social e mental, ao sexo biológico pode levar a uma representação desencarnada do psiquismo e a uma representação que, não sem temíveis consequências práticas, reduz o corpo à biologia e/ou a matéria-prima indiferente da manipulação tecnológica e instrumental. Com efeito, abre-se aqui uma encruzilhada decisiva que vale a pena explicitar.
Como é sabido, Freud sustenta algures que “a anatomia é o destino”, entendendo que, de algum modo, a diferença anatómica entre os sexos é causa de uma diferença psíquica inelutável entre as mulheres e os homens. É difícil, apesar de tudo o que na obra de Freud aponta ou nos torna possível pensar de outro modo, não aprovarmos alguns dos protestos que esta tese historicamente, dentro e fora do campo psicanalítico, não deixou de suscitar. O que não quer dizer, porém, que a existência da diferença anatómica ou, por outras palavras, de dois sexos diferentes não seja necessariamente elaborada de uma ou de outra forma, sendo também que estas formas fazem toda a diferença, pelo psiquismo humano. Se não podemos dizer, sem cair no mito, que uma anatomia feminina ou masculina determinam em termos dicotómicos a realidade psíquica da espécie, não podemos também ignorar que a diferença dos corpos está no corpo de cada um de nós, atravessando a experiência e as representações de todo o desejo humano, ou seja, que a diferença dos corpos e entre os corpos não pode deixar de habitar, ainda que recalcada ou denegada, essas diferenças no corpo que variamente configuram os mil e um rostos de que Joyce McDougall fala a propósito de Eros [1]. Uma coisa é justificar a inferioridade ou menoridade civilizacional da mulher, vendo nela um destino anatomicamente ditado, outra muito distinta é dizer que a anatomia sexual ou a diferença não pode nem deve, sob pena de mutilação psíquica, ser representada como indiferente. Recusar a clivagem entre o género e o sexo equivale assim a manter a exigência do reconhecimento de que todo o sentido é feito de significações encarnadas, que as dimensões da imaginação, da significação e da linguagem implicam necessariamente “metamorfoses do corpo” [2] e figuras desse processo de criação do nosso corpo-a-corpo com o mundo que é a paisagem histórica e viva que a cultura faz e que faz cada cultura, ao mesmo tempo que entretece nela a formação de cada identidade individual.
É, todavia, verdade que a fixação mítica da diferença num e noutro sexo se fez, ao longo da história conhecida, regularmente em detrimento das mulheres. E é verdade também que Freud e outros psicanalistas tenderam demasiadas vezes a racionalizar aquilo a que poderemos chamar a “dominação masculina”. Deduzir ou sugerir a superioridade do princípio masculino, por exemplo, do progresso intelectual que representa a descoberta do papel do pai na reprodução da espécie é um sofisma, não porque essa descoberta não seja de facto um progresso imenso, mas porque estamos perante um progresso que só pode ter lugar entre os dois sexos que constituem a espécie e que por si próprio não privilegia nenhum deles. E, na mesma ordem de ideias, poderíamos reflectir com proveito no modo como as mulheres brilham pela ausência ou pela passividade na epopeia da fundação da sociedade a partir da Horda Primitiva, ou no facto, talvez ainda mais significativo, de a única alternativa que a especulação freudiana vislumbra, de passagem, quando está em jogo a ordem da fraternidade patriarcal ser, afinal, o matriarcado, ou seja uma consagração hierárquica simétrica da hierarquia que define a dominação masculina. De resto, é a mesma atitude que encontramos, por inversão simétrica, nas teses que opõe ao primado da inveja do pénis o primado da inveja do seio ou da maternidade.
Mas a psicanálise, ao mesmo tempo, traz-nos um contributo indispensável quando nos cometemos com o projecto de conjugar de outro modo, não hierarquicamente, a diferença. Antes do mais, ao tratar por assim dizer literariamente os mitos põe em evidência a sua natureza de jogos de linguagem pulsionalmente enraizados e leva-nos a reconhecer que correspondem a “modos de vida” que, fazendo-nos, somos nós próprios a fazer, à semelhança do que acontece nos sonhos ou nos sintomas que, também eles, exprimem o modo como se faz o sonhador. Descongela ou quebra assim o gelo ou o vidro das imagens especulares, libertando, desfixando e abrindo a possibilidade de novos jogos de investimento, representação e afecto à potência poética — ou poiética — de metamorfose da imaginação em estado nascente que a clausura e a grelha de interpretação e conjugação da experiência da ordem mítica entaipavam.
Ao mesmo tempo, graças sobretudo a psicanalistas menos sociologicamente surdos, como diria Castoriadis, e que por isso mesmo, ao contrário de subalternizarem ou redimensionarem por baixo, expandem os horizontes de inteligibilidade da psicanálise, uma mobilização crítica desta última permite-nos compreender melhor aquilo a que, por analogia com “a sedução psicológica do totalitarismo” de que falava Bruno Bettelheim [3], poderemos chamar a sedução psicológica da clausura mítica e também das empresas de fixação ou aprisionamento mítico do papel e da sexualidade feminina. Os mitos são, deste ponto de vista, mecanismos de defesa que proporcionam reservas de sentido seguras e garantidas pela ordem do mundo de correndo de uma criação mais que humana, esquivando o reconhecimento do já referido “caos mais antigo que os deuses” que habita esse inconsciente ou isso em comunicação umbilical com o sem-fundo do movimento de metamorfose, de criação e destruição ontológica, que no sem-fundo da sociedade e do indivíduo afecta de uma indeterminação e de uma incerteza radicais a nossa origem e destino. Um pouco mais especificamente no que se refere à mulher, a consagração mítica da sua subordinação, com as pesadas consequências políticas que sabemos, corresponde, sem dúvida em grande medida, ao desejo de desconflitualizar e segurar a maternidade ou de conter a ameaça que a sexualidade da mulher representa nos termos das funções da maternidade instituída. Deste modo a sexualidade feminina tornar-se-á objecto de denegação — com a figura da Virgem-Mãe, por exemplo —, ou será representada como natureza hostil e excessiva, a excluir da plena humanidade, e temos a figura da mulher privada de alma ou dotada de uma luxúria intrinsecamente viciosa frente à qual todos os rigores do cativeiro e da domesticação nunca serão suficientes, dados os perigos de contaminação e contágio que o seu gozo comporta. Como se sabe, a contradição ou antagonismo destas representações não impede a sua frequente integração cumulativa em termos que evocam a célebre história do caldeirão de Freud: não, não é verdade que te tenha devolvido furado o caldeirão que me emprestaste, primeiro porque to devolvi intacto, segundo porque já vinha furado quando mo emprestaste, terceiro porque não me emprestaste caldeirão nenhum.
Seja como for, e para por aqui nos ficarmos de momento, elucidar as angústias e desejos subjacentes às figuras da subordinação mítica da mulher e da dominação masculina não é propor uma sua explicação psicogenética e, em última análise, natural ou, nos termos de Freud, “anatómica”. Trata-se, pelo contrário, de indicar que uma outra economia pulsional é culturalmente possível; que os processos primários, inconscientes e pulsionais, da psique podem ser cultural e socialmente trabalhados de outro modo e ser mobilizados na criação de outras figuras, e que é tempo de assumirmos tão lucidamente quanto possível que, na dimensão social-histórica, navegamos sem os mapas que fazemos [4] ou sempre para além deles, pelo que podemos transformar em criação de liberdade a necessidade de criação sem modelo que, por assim dizer, a natureza nos impõe, ao impor-nos a necessidade de criarmos sem modelos anteriores ou finais as instituições e as ordens de cultura que toda a história da espécie documenta.
Notas
[1] Joyce McDougall, Éros aux mille et un visages, Paris, Gallimard.
[2] Tal é o título de um livro de José Gil, As Metamorfoses do Corpo, Lisboa, Relógio d’Água, 2001, que justificaria uma discussão em que aqui não é possível entrar.
[3] Bruno Bettelheim, Survivre, Paris, Robert Laffont, 1979.
[4] “Navegavam sem o mapa que faziam” — diz-nos o talvez mais memorável verso do livro Navegações (1983) de Sophia de Mello Breyner Andresen.


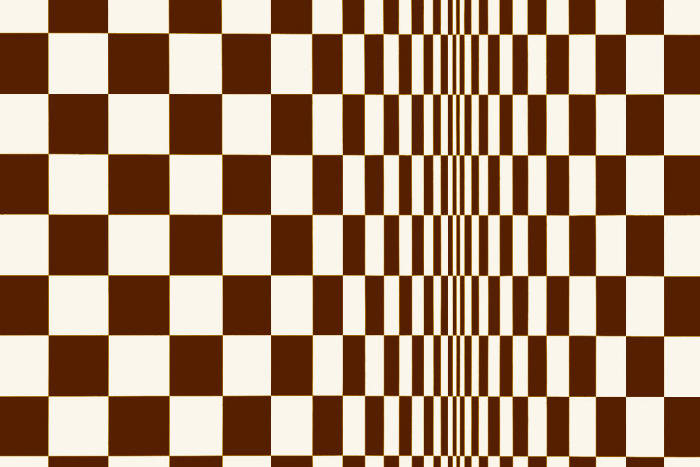
Miguel,
Ao ler esta tua coluna lembrei-me de alguns problemas com que deparei quando estava a pesquisar e escrever o Poder e Dinheiro, onde analisei o regime senhorial naquele espaço a que depois se chamou Europa. Apercebi-me então de que no regime senhorial todos os sistemas de poder e, portanto, as formas de Estado, e igualmente, na base, os sistemas sócio-económicos, eram modalidades de sistemas familiares. Para isso é necessário considerar a existência de famílias amplas, por oposição a famílias conjugais abarcando duas ou três gerações; e de famílias artificiais, por oposição a… a quê?
É aqui que surge a questão mais interessante. Por um lado, a família artificial podia ser, e em muitos casos sem dúvida que era, sentida como muito mais real do que a família biológica. Se não entendermos isto, nunca conseguiremos entender nada das sociedades pré-capitalistas, porque a questão não se coloca apenas para o regime senhorial, mas para todas as formas económicas, sociais e políticas anteriores ao capitalismo. Não foi por acaso que Balzac considerou a família burguesa, aquela que nós conhecemos hoje, como indispensável à ficção dramática, e que nas épocas e nas classes sociais em que esse tipo de família não existia, não podia haver romance.
Mas, se assim foi, então a noção de família artificial, se é hoje necessária para entendermos o problema, não é adequada à vivência das épocas anteriores ao conhecimento do DNA. Nessas épocas, como alguns historiadores observaram, se quisermos pensar uma família natural, biológica, por oposição às famílias artificiais, então só em sistemas de descendência ou ascendência matrilineares poderia haver famílias biológicas. Tinha-se a certeza de quem era a mãe, mas a paternidade era uma ficção assumida como certeza, o que significa que, em termos biológicos, qualquer família patrilinear era obrigatoriamente artificial. Era-o naturalmente, mesmo que ideologicamente não fosse assumida como tal.
Estes problemas desdobram-se, limitei-me aqui a erguer um pouco a cortina, e fi-lo só para sublinhar a complexidade da questão, a mesma complexidade que tu desvendaste sob outras perspectivas. Mas é claro que de pouco vale lutar contra o simplismo dos lugares-comuns quando eles sustentam o fanatismo, porque o próprio fanatismo impede que se ponham em causa os lugares-comuns.
é interessante todo o interesse que foi dedicado à entender as mulheres, suas pulsões, suas loucuras, suas diversas máscaras, mas até hoje reina no sentido comum uma ideia bastante rígida sobre a masculinidade. De fato, me assombro em perceber que a outra cara do movimento internacional de mulheres é a existência de uma masculinidade também internacional, que ao ser mencionada desperta estranhos ânimos nas almas habitadas por outros tantos lugares comuns.
Se estamos diante do ocaso da sociedade tipicamente burguesa, e no entanto muitos traços de nossas relações humanas continuam respondendo a lógicas nascidas em épocas pré-capitalistas, como a inferioridade feminina, a divisão sexual do trabalho, a violência contra as desviações da norma… não seria por isso mesmo necessário ao “comunismo do aqui-e-agora” prefigurar estas relações igualitárias, ao invés de esperar que isto ocorra apenas na grande luta final? O que estamos esperando?