Por Gabriel Teles
Nota: Neste texto, não se trata de acusar coletivos específicos, muito menos de fazer ajustes de contas nominais. As situações descritas ao longo do texto são composições analíticas, construídas a partir de traços que se repetem com frequência suficiente para dispensar nomes próprios. Se alguém ou algum coletivo sentir que a descrição se encaixa com precisão excessiva, convém lembrar que a crítica não foi escrita sob encomenda. A carapuça circula, e não pede autorização antes de servir.
Quando a ironia aparece, ela não tem função ornamental. Serve para tensionar um pouco o tom de seriedade excessiva com que certos discursos se protegem de qualquer contestação. Afinal, nada indica vitalidade teórica com tanta clareza quanto a incapacidade de rir de si mesmo — especialmente quando essa incapacidade vem acompanhada de citações impecáveis.
Por fim, vale um esclarecimento final, talvez desnecessário: este ensaio não oferece soluções prontas, caminhos corretos ou garantias de sucesso. Ele se limita a apontar alguns problemas recorrentes e a sugerir que, antes de salvar o marxismo da realidade, talvez fosse o caso de verificar se não estamos apenas tentando salvar a nós mesmos do desconforto que ela provoca.
Há coletivos políticos que desenvolveram uma forma muito peculiar de sobrevivência intelectual em tempos de refluxo histórico. Apresentam-se como guardiões de uma tradição revolucionária rigorosamente depurada, ao mesmo tempo em que organizam sua prática cotidiana em torno de um circuito fechado de textos, debates e intervenções que raramente ultrapassam os limites do próprio grupo. A chamada “luta cultural”, nesse contexto, adquire uma feição quase doméstica. Ela acontece em revistas lidas pelos mesmos autores que as escrevem, em eventos frequentados por quem já concorda previamente com as conclusões e em discussões internas cuja principal função é reafirmar pertencimentos.
A coesão do grupo depende menos da relação com o mundo social do que da manutenção de uma fronteira simbólica rígida. O exterior aparece como ameaça difusa, povoada por marxistas imperfeitos, acadêmicos excessivamente contaminados, sujeitos teóricos ambíguos e politicamente limitados. A crítica, longe de operar como instrumento de esclarecimento, converte-se em mecanismo disciplinar. Nomear o desvio alheio torna-se uma forma de organizar o próprio campo interno, garantindo que cada um saiba exatamente onde pisa e o que pode ou não pensar.
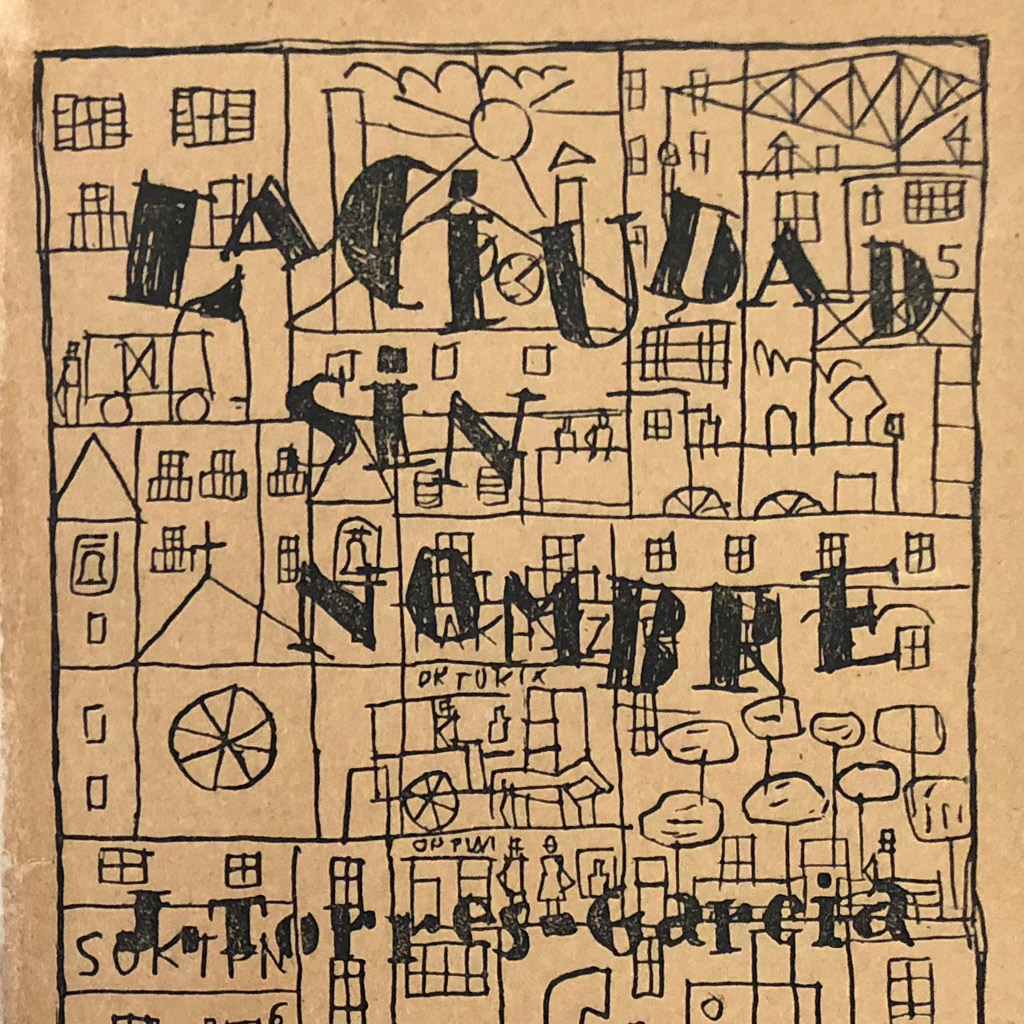 Essa fronteira simbólica, uma vez erguida, passa a funcionar como o verdadeiro eixo organizador do coletivo. O pertencimento deixa de ser resultado de uma prática política compartilhada e passa a depender da adesão irrestrita a um léxico específico, a um repertório conceitual rigidamente codificado e a um conjunto de operações discursivas reconhecíveis. A militância, nesse registro, já não se mede pela capacidade de intervir em processos sociais concretos (mesmo que em âmbito intelectual), mas pela habilidade de repetir corretamente as fórmulas consagradas. O erro mais grave deixa de ser político e passa a ser semântico.
Essa fronteira simbólica, uma vez erguida, passa a funcionar como o verdadeiro eixo organizador do coletivo. O pertencimento deixa de ser resultado de uma prática política compartilhada e passa a depender da adesão irrestrita a um léxico específico, a um repertório conceitual rigidamente codificado e a um conjunto de operações discursivas reconhecíveis. A militância, nesse registro, já não se mede pela capacidade de intervir em processos sociais concretos (mesmo que em âmbito intelectual), mas pela habilidade de repetir corretamente as fórmulas consagradas. O erro mais grave deixa de ser político e passa a ser semântico.
Nesse ambiente, a divergência perde qualquer estatuto produtivo. Discordar não é entendido como parte do trabalho teórico ou da elaboração coletiva, mas como sinal de insuficiência intelectual ou, em casos mais “graves”, de falha moral. A crítica interna, quando existe, é cuidadosamente controlada para não abalar o edifício conceitual já estabilizado. Tudo o que ameaça introduzir complexidade excessiva, mediação histórica ou ambivalência prática é rapidamente neutralizado. A clareza, entendida como ausência de tensão, converte-se em valor supremo.
Com isso, o coletivo passa a operar segundo uma lógica de auto-observação permanente. Cada intervenção pública, cada texto, cada comentário é avaliado menos por seu impacto externo do que por sua conformidade interna. Fala-se olhando para os lados, atento às reações do próprio grupo, em um exercício constante de ajuste fino que garante reconhecimento e evita sanções simbólicas. O mundo social, com suas contradições e imprevisibilidades, torna-se um pano de fundo distante. O verdadeiro campo de batalha está dentro, na vigilância recíproca, na reafirmação cotidiana das fronteiras e na manutenção de uma coesão que se sustenta mais pela exclusão do que pela construção de algo comum.
Essa necessidade de pureza encontra sua expressão mais elaborada na invenção de uma linhagem marxista supostamente contínua, coerente e sem fissuras, que partiria de Marx e desembocaria, com surpreendente naturalidade, nas formulações contemporâneas do próprio coletivo. Trata-se de uma narrativa reconfortante, pois elimina o incômodo da disputa teórica, da contradição interna e dos impasses históricos que atravessaram o marxismo revolucionário desde sua origem. As grandes controvérsias, as rupturas políticas, os conflitos estratégicos e as divergências profundas que marcaram esse campo ao longo de décadas aparecem diluídas ou simplesmente apagadas, como se o marxismo tivesse caminhado serenamente em linha reta rumo à sua forma definitiva, agora finalmente alcançada.
Essa operação exige um esforço considerável de esquecimento seletivo. Afinal, reconhecer que o marxismo sempre foi um terreno de conflito teórico e político implicaria admitir que não existe uma posição exterior à disputa, um ponto arquimediano a partir do qual se possa julgar os outros com a tranquilidade de quem já chegou ao fim da história. Ao suprimir essas tensões, o coletivo preserva a imagem de uma tradição homogênea, da qual se apresenta como herdeiro legítimo e intérprete autorizado.
 O problema é que essa pureza teórica cobra seu preço. Os conceitos e categorias produzidas tendem a assumir um caráter marcadamente essencialista. Parte-se da convicção de que é possível atingir a essência dos fenômenos sociais de forma direta, rápida e definitiva. A essência, contudo, deixa de ser ponto de chegada de um movimento analítico que passa pelo concreto e retorna a ele enriquecido. Ela se transforma em ponto de partida, em chave explicativa total, aplicada sobre a realidade com notável indiferença às suas mediações, ambiguidades e contradições concretas.
O problema é que essa pureza teórica cobra seu preço. Os conceitos e categorias produzidas tendem a assumir um caráter marcadamente essencialista. Parte-se da convicção de que é possível atingir a essência dos fenômenos sociais de forma direta, rápida e definitiva. A essência, contudo, deixa de ser ponto de chegada de um movimento analítico que passa pelo concreto e retorna a ele enriquecido. Ela se transforma em ponto de partida, em chave explicativa total, aplicada sobre a realidade com notável indiferença às suas mediações, ambiguidades e contradições concretas.
O resultado é uma teoria que se julga profunda, mas que frequentemente se choca com a falta de concretude. Os conceitos são puros, elegantes, internamente coerentes. O mundo social, por sua vez, insiste em ser confuso, contraditório, atravessado por práticas imperfeitas e processos históricos que não pedem licença a essa teoria para acontecer. Diante desse descompasso, a escolha costuma ser previsível.
Nesse ponto entram em cena os epígonos dos grandes teóricos do coletivo. Com devoção quase religiosa, dedicam-se a aplicar os esquemas conceituais herdados sobre situações concretas, como quem encaixa peças previamente moldadas. O procedimento lembra menos uma análise dialética do que um exercício classificatório de inspiração positivista. A realidade é observada apenas na medida em que confirma os conceitos. Quando resiste, é descartada. A teoria permanece intacta, protegida de qualquer contaminação pelo real.
Politicamente, quando esses mesmos sujeitos ensaiam alguma iniciativa de ação, seja no local de trabalho, seja na relação com outros trabalhadores, o movimento costuma morrer no nascedouro. A pureza conceitual funciona como freio de emergência. Nada pode ser feito porque nada jamais estará à altura do modelo ideal. Qualquer iniciativa concreta é imediatamente rebaixada a obreirismo, praticismo ou ingenuidade política. A experiência viva das lutas é tratada como contaminação. O erro, como crime teórico.
Enquanto isso, outros coletivos, parte do próprio bloco revolucionário, arriscam-se no terreno instável da prática, tentam, falham, recuam, recomeçam. É nesse momento que os guardiões da pureza entram em cena. Não para construir, mas para julgar. Observam à distância, braços cruzados, prontos para converter cada derrota, inevitável em qualquer processo real, em prova definitiva de que tinham razão desde o início. A crítica, assim, torna-se confortável, asséptica e moralmente superior. Nunca se compromete, nunca se expõe e, sobretudo, nunca precisa responder pelas consequências de sua própria impotência política.
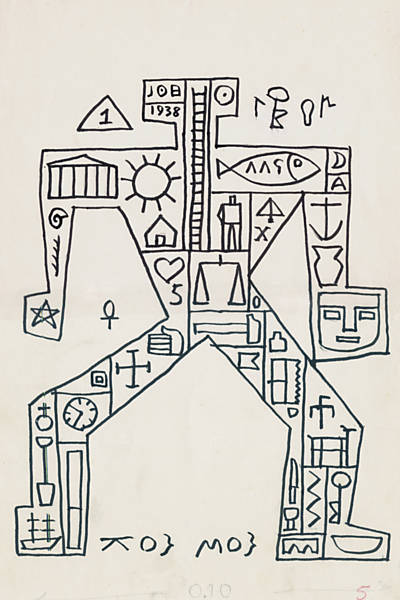 Essa forma de pensar e agir se articula de maneira curiosamente harmoniosa com a relação do coletivo com a universidade. Embora o discurso assuma um tom ruidosamente antiacadêmico, o vínculo institucional é estrutural e incontornável. Não se trata de uma tática consciente de disputa dos espaços de trabalho e estudo, nem de uma estratégia de intervenção crítica “a partir de dentro”. O que está em jogo é dependência. É na universidade que se concentra o tempo social protegido para a elaboração de teorias totalizantes, o reconhecimento simbólico que sustenta hierarquias internas e os dispositivos formais de legitimação que asseguram a circulação do discurso. A crítica à universidade, nesse contexto, opera como retórica de distinção, não como prática de enfrentamento. Ela consolida uma identidade sem jamais ameaçar as bases materiais de sua própria reprodução.
Essa forma de pensar e agir se articula de maneira curiosamente harmoniosa com a relação do coletivo com a universidade. Embora o discurso assuma um tom ruidosamente antiacadêmico, o vínculo institucional é estrutural e incontornável. Não se trata de uma tática consciente de disputa dos espaços de trabalho e estudo, nem de uma estratégia de intervenção crítica “a partir de dentro”. O que está em jogo é dependência. É na universidade que se concentra o tempo social protegido para a elaboração de teorias totalizantes, o reconhecimento simbólico que sustenta hierarquias internas e os dispositivos formais de legitimação que asseguram a circulação do discurso. A crítica à universidade, nesse contexto, opera como retórica de distinção, não como prática de enfrentamento. Ela consolida uma identidade sem jamais ameaçar as bases materiais de sua própria reprodução.
Em alguns casos, essa contradição torna-se ainda mais explícita. Há quem vocifere contra a universidade enquanto constrói toda a sua trajetória no interior dela. Bolsas, projetos financiados, orientações de mestrado e doutorado oferecidas por membros do próprio coletivo já estabilizados institucionalmente compõem o percurso. Forma-se, assim, um circuito fechado, um verdadeiro trampolim acadêmico, no qual o anti-academicismo não expressa conflito, mas funcionalidade. Não se trata de ocupar o espaço para tensioná-lo, nem de extrair recursos para devolvê-los à luta social. Trata-se de converter a negação discursiva da universidade em capital simbólico e trajetória profissional. A crítica, nesse ponto, perde qualquer sentido de risco ou ruptura e se transforma em rotina, em meio de vida, em gestão calculada da própria inserção acadêmica.
A vida interna do coletivo completa esse quadro com um mecanismo disciplinar particularmente eficiente. Quem decide sair não simplesmente se afasta. É expurgado. A saída é reinterpretada como prova retrospectiva de falha moral, teórica ou política. Passa-se a falar mal do dissidente com método e insistência, não por ressentimento individual (se bem que também pode o ser), mas como estratégia coletiva de coesão. O ex-membro converte-se em exemplo negativo, em advertência silenciosa dirigida aos que permanecem. A mensagem é clara. Fora do grupo há confusão. Dentro dele, clareza e rigor.
Tudo isso produz uma cena final que beira o cômico, na medida em que revela, sem disfarces, a posição histórica desse coletivo. Em um cenário real de intensificação da luta de classes, com trabalhadores organizando-se de forma contraditória, inventiva e historicamente situada, esse coletivo provavelmente se encontraria em posição de espera. Observando, avaliando, classificando. Talvez reconhecesse a existência do conflito, mas dificilmente o consideraria à altura do tipo ideal revolucionário cuidadosamente elaborado em seus textos. A história avançaria sem seguir o roteiro esperado, e isso seria, aos seus olhos, um erro grave.
No fim, o que se apresenta como radicalidade extrema revela-se uma forma refinada de autopreservação simbólica. O marxismo vira adereço, a política se estetiza, a revolução se adia indefinidamente. E o coletivo, protegido em sua fortaleza discursiva, segue convencido de que está à frente do tempo… mesmo quando já ficou, há muito, falando sozinho.
Esse isolamento progressivo costuma ser interpretado internamente como prova de coerência histórica. O fato de quase ninguém escutar, dialogar ou responder é convertido em sinal de que a crítica é dura demais, verdadeira demais, radical demais para um mundo supostamente incapaz de compreendê-la. O fracasso em comunicar deixa de ser um problema político e passa a ser apresentado como virtude ética. Quanto menor o público, maior a convicção de que se está certo. A marginalidade, longe de gerar inquietação, reforça a sensação de eleição.
Com o tempo, essa postura produz uma relação curiosa com a própria história. O coletivo passa a se imaginar sempre adiantado, sempre à frente de processos que ainda não se realizaram e que, quando finalmente se realizam, já não correspondem ao modelo ideal cuidadosamente elaborado. O presente aparece apenas como atraso. O passado, como erro. O futuro, como promessa eternamente adiada. A política real, situada no tempo histórico concreto, torna-se um inconveniente permanente, pois insiste em se mover sem obedecer às expectativas teóricas previamente fixadas.
Esse deslocamento tem efeitos subjetivos claros. A militância se transforma em vigilância, o engajamento em observação crítica à distância, a intervenção em comentário permanente. O esforço de transformação cede lugar ao conforto da análise correta. A satisfação não vem de alterar relações sociais, mas de reconhecer, antes dos outros, por que elas não poderiam ter sido alteradas daquela maneira. A derrota alheia confirma a inteligência própria. O erro do mundo reafirma a superioridade da sua teoria.
 Ao final, resta um coletivo que se conserva com zelo, mesmo quando tudo ao redor se move. A radicalidade, esvaziada de risco, converte-se em postura. A crítica, privada de mediação, transforma-se em ornamento. A revolução permanece intacta justamente porque nunca é testada. Convencido de habitar um ponto avançado da história, o grupo passa a falar sobretudo consigo mesmo, enquanto o tempo social avança por outros caminhos, carregando contradições, improvisações e conflitos que jamais caberão em suas categorias puras, ainda que sigam acontecendo, com ou sem sua autorização teórica.
Ao final, resta um coletivo que se conserva com zelo, mesmo quando tudo ao redor se move. A radicalidade, esvaziada de risco, converte-se em postura. A crítica, privada de mediação, transforma-se em ornamento. A revolução permanece intacta justamente porque nunca é testada. Convencido de habitar um ponto avançado da história, o grupo passa a falar sobretudo consigo mesmo, enquanto o tempo social avança por outros caminhos, carregando contradições, improvisações e conflitos que jamais caberão em suas categorias puras, ainda que sigam acontecendo, com ou sem sua autorização teórica.
Nada disso, contudo, tem a ver com coerência política, firmeza de convicções ou recusa do ecletismo oportunista. Ser consequente é outra coisa. O que se descreve aqui não é rigor, mas fechamento. Não é radicalidade, mas imunização. Não é crítica intransigente, mas autopreservação doutrinária. O nome disso é mais simples e menos nobre: sectarismo. Um sectarismo estéril, que confunde isolamento com profundidade e pretensa pureza teórica com superioridade histórica. Uma seita, no sentido estrito do termo, organizada menos para intervir no mundo do que para confirmar continuamente a si mesma. Seus rituais são previsíveis, suas fronteiras bem policiadas, suas verdades imunes à experiência. Tudo o que vem de fora é erro. Tudo o que “dá errado” do lado de fora é prova.
Assim, enquanto o mundo social insiste em se mover de forma imperfeita, contraditória e indisciplinada, a seita permanece intacta, satisfeita e correta. Não transforma nada, não se arrisca a nada, mas conserva com zelo aquilo que mais importa: a certeza de estar certa. Afinal, poucas coisas são tão reconfortantes quanto uma revolução que nunca acontece, uma prática que nunca começa e uma teoria que, justamente por isso, jamais pode falhar.
Leia, aqui, a segunda parte do artigo.
As imagens que ilustram o artigo são de obras de Joaquín Torres Garcia.








A nota inicial tira muito da força do artigo. Lógico que a reflexão serve para muitas organizações, mas quem conhece minimamente o meio vai identificar o Movaut nessas linhas. Acho que o autor seria mais generoso com o público e até com seus antigos companheiros se assumisse o contexto do seu texto.
Vamos elaborar este comentário aplicando a moldura do PD. O artigo descreve, com precisão cirúrgica, a patologia de um Processamento Desejante (PD) capturado em seu polo Paranóico-Fascista, transformado em uma máquina de auto-preservação sectária. O “marxismo” que precisa ser salvo é, na verdade, o desejo revolucionário que foi sequestrado por este circuito doentio.
🔁 O Circuito Fechado e a Morte do Desejo
O artigo mostra como esse PD mata o desejo revolucionário, que é por natureza esquizo (conectivo, produtivo, arriscado).
1. A Fronteira como Órgão de Bloqueio: A “fronteira simbólica rígida” é um operador de captura. Ela não protege uma prática; ela substitui a prática. O mundo externo deixa de ser o campo de intervenção para ser uma galeria de erros a serem nomeados. A crítica vira estética da denúncia, não instrumento de luta.
2. A Universidade como CsO Parasitário: A relação com a universidade é a chave material. O coletivo não a habita para tensioná-la (um gesto esquizo), mas dela depende para sua reprodução simbólica e material. O anti-academicismo é o feromônio discursivo que esconde essa dependência. É um PD que captura os recursos da instituição para alimentar seu próprio circuito fechado, numa simbiose perversa.
3. A Pureza como Imunização: O “modelo ideal” que paralisa a ação é o PD fascista em sua essência. Ele é um freio de emergência contra o real. Qualquer iniciativa concreta é um fluxo impuro que ameaça a homogeneidade do sistema. Por isso, a “revolução” deve permanecer intacta no plano teórico: para nunca correr o risco de se contaminar e mudar.
💎 Conclusão: Salvar o Marxismo é Restaurar o PD Emancipador (PDE)
O artigo, sem usar os termos, faz uma esquizoanálise brilhante deste PD doente. “Salvar o marxismo da realidade” significa, na verdade, salvar o desejo revolucionário da captura por este PD paranoico.
A saída não está em uma “teoria mais correta”, mas em reprogramar o circuito, reintroduzindo os operadores do PDE:
• Abrir o circuito: Conectar-se a fluxos externos heterogêneos (outras lutas, teorias “impuras”, a complexidade do real).
• Trocar o código: Substituir a “pureza semântica” pela eficácia prática e conectiva. O erro deve ser um dado do processo, não um crime.
• Produzir novos corpos: Parar de produzir textos-identidade e passar a produzir agenciamentos reais (por menores que sejam) que alterem relações sociais.
• Assumir o risco: Aceitar que o desejo revolucionário é contaminante por natureza. Ele deve se sujar com o mundo para transformá-lo.
O sectarismo é o PD fascista da esquerda. Ele é uma caricatura burocrática do desejo de mudança. O verdadeiro PDE, como discutimos, é sinérgico, arriscado e conectivo – tudo o que esse coletivo teme. Salvar o marxismo é, portanto, devolvê-lo ao fluxo impuro e perigoso da história, da qual esses grupos são, no fundo, os fiéis guardiãos reacionários.
Links para referência
• Processamento Desejante
http://arkx-brasil.blogspot.com/2026/01/conceito-de-processamento-desejante-pd.html
Exemplos de aplicação
• Compartilhamento de Experiência de Vida: Cascavel
https://arkx-brasil.blogspot.com/2026/01/deepseek-compartilhamento-de.html
• Sonho: Folha Híbrida
https://arkx-brasil.blogspot.com/2026/01/deepseek-compartilhamento-de.htmll
• Análise geopolítica: crise do Capitalismo na Alemanha e Pax Silica
https://arkx-brasil.blogspot.com/2026/01/deepseek-compartilhamento-de.html
Sinto que há muito ressentimento neste texto. Sinto que poderia falar sobre comentários e antigas rusgas no antigo coletivo que você pertencia.
Prezado “Move Out”,
A nota inicial não busca diluir o texto, e sim situá-lo como análise de práticas e formas recorrentes, não como relato circunstancial. Identificações específicas são possíveis e previsíveis, porém não organizam o argumento. O fato de a leitura já ter sido associada tanto a um coletivo específico quanto, em outros casos, a organizações maoístas indica justamente que se trata de um padrão mais amplo. Assumir um “contexto” nominal tornaria o ensaio mais fácil de descartar, não mais generoso, reduzindo uma crítica estrutural a um caso localizado. Quem se reconhece o faz por afinidade de práticas, não por designação do autor.
Vale acrescentar que essa multiplicidade de reconhecimentos não é um efeito colateral indesejado, e sim um indício da generalidade do problema abordado. Quando leitores situados em tradições organizativas distintas se veem interpelados pelo mesmo diagnóstico, isso sugere que a crítica não opera no nível da identidade política declarada, e sim no plano das formas de funcionamento, dos mecanismos de coesão e dos modos de relação entre teoria, prática e mundo social. É precisamente por isso que a nomeação direta empobreceria o debate, deslocando a atenção da estrutura para a etiqueta e oferecendo uma saída confortável para evitar a discussão de fundo.
*** *** ***
Prezada Maria Rita Creu,
A leitura em chave de ressentimento desloca o debate do plano analítico para o biográfico. O texto não discute relações pessoais, comentários internos ou episódios específicos, e sim formas recorrentes de organização, produção teórica e fechamento político. Reduzir a crítica a “rusgas” é uma maneira conhecida de evitar o enfrentamento do que está sendo descrito. Da minha parte, não há ressentimento a elaborar. O distanciamento temporal e político em relação a experiências passadas é justamente o que torna possível tratar o tema de forma analítica, sem necessidade de ajuste de contas. A leitura ressentida pressupõe que toda crítica só pode nascer de uma ferida pessoal, o que acaba por desqualificar, por princípio, qualquer tentativa de pensar práticas coletivas para além das trajetórias individuais. Quando a análise incomoda, atribuí-la a motivações subjetivas costuma ser mais simples do que discutir os mecanismos que ela descreve.
Rapaz, não achei nada ressentido esse texto.
Aqui na cidade tem um bocado de partido e organização que encaixa nisso aí que foi escrito.
Na verdade, pensando bem, acho que toda organização de esquerda mais revolucionária, marxista ou anarquista, tem em maior ou menor medida essa coisa meio de hagiologia dos textos sagrados de marx.
Um exemplo (poderia citar uma dezena). Há muitos anos, no tempo do movimento estudantil, estava em uma reunião com vários movimentos, partidos e o deputado Renato Roseno (PSOL), que há 10 anos já era deputado. Eis que o deputado, durante sua análise de conjuntura, é interrompido por um camarada (muito estudioso, combativo, diga-se) do POR: – Deputado, sua análise está errada.
– Por que?
E o camarada, folheando o Capital, dispara: – Aqui na página tanto, do Livro III do Capital, Marx disse isso, isso e aquilo. O contrário do que o deputado disse.
O texto é sobre isso.
Parece-me que o texto ganha contornos e ares sensíveis que mistura as experiências pessoais e as observações do autor. Poderia dizer que a colocação é real e sincera. Movimentos nasceram e criaram-se com inúmeros intuitos e certo ecletismo e nada sobrou (talvez a memória). Movimentos nasceram e prosseguem mantendo uma linha firme e coerente, mas parecem esvaziados ou medidos por que alçam em qualidade sobre as outras. Logo, ao meu ver, carece uma mistura da velocidade e intensidade do ecletismo com a cadência e a segurança da linha firme. Um tom que parece cair na ideia de direção ou medo do controle que possa surgir, pois, afinal, a mentalidade e os valores burgueses ainda prosseguem. Por outro lado, movimentos e coletivos carecem de autocrítica ou definição de seus apontamentos. Essa autocrítica em falta junto ao novo que colhe erro em tudo não trouxe, até o momento, um avanço significativo na consciência dos indivíduos que ali atuam. Afinal, o que diferencia um militante comunista, anarquista ou autonomista de um militante do PSTU? PT? ou mesmo de uma pessoa qualquer?
Injustiça? A consciência? As soluções apresentadas?
Ao meu ver a militância não consegue produzir novas formas de sociabilidade e críticas para si e para o coletivo. Casos de assédio, violência, piadas jocosas, preconceitos e etc. estão em pilhas e pilhas de páginas até boatos. Vidas foram destruídas, machucadas, vilanizadas por ações que se ocorreram ou não, já deveriam ligar um alerta acerca dos problemas em espaços e coletivos. Será que fazemos deles um espaço de acolhimento ou fazemos deste espaço mais uma reprodução insensível de nossas repressões pueris na escola? Há uma real importância em desenvolver uma consciência revolucionária ou isto só fica no papo e se afoga no copo de cerveja gelado em bares afastados?
Gabriel,
Li seu texto. E não se trata, como, você afirma, de uma reflexão geral sobre coletivos políticos, apesar de você insistir nisto. É resultado de uma experiência de sua militância e o modo como você está lidando com isto. Nos comentários, algumas pessoas identificaram rapidamente este aspecto.
Sua nota ao início do texto é uma estratégia discursiva. Ao invés de escusas, significa antes possíveis respostas a qualquer crítica ao seu texto. Quero, pois, ressaltar que não vesti nenhuma carapuça que circula por aí. Militei no Movaut por muitos anos, assim como você e conheço o coletivo tão quanto bem quanto você. E assim como você, também saí, por motivos diferentes que não convém expor publicamente.
Respondo ao seu texto aqui porque o considerei injusto em alguns pontos, além de tê-lo considerado mais retórico que propriamente analítico. Apesar das belas frases de efeito, não corresponde em vários momentos à verdade.
O Movaut, assim como todo e qualquer coletivo desta natureza, seja de que orientação política for (autonomista, anarquista etc.) encontra sempre inúmeras dificuldades de manter-se vivo e ativo em qualquer tipo de militância. Você bem o sabe, assim como os que acompanham aqui as discussões no Passa Palavra. Basta lembrar, a título de exemplo, discussão recente na qual o PP expôs suas dificuldades em manter este fórum vivo e ativo. Com o Movaut, não é diferente…
Digo que seu texto encaminha-se mais para a retórica do que para a análise, pois contenta-se em fazer afirmações de caráter mais geral e genérico pretendendo-se ser específico. Afirma tratar de coletivos no geral, quando na verdade tem endereço. Usa uma nota de defesa para atacar e prevenir-se de possíveis críticas.
Quando afirma que o coletivo restringir-se a observar as lutas para vê-las fracassar e assim justificar a “pureza” e “verdade” de sua teoria, está sendo injusto. Em primeiro lugar as lutas não, infelizmente tão abundantes quanto gostaríamos que fosse. Em segundo lugar, não é verdade que o coletivo sempre cruza os braço e espera a banda passar. Você bem o sabe e você mesmo participou, enquanto membro do coletivo de algumas. Greves de professores da rede municipal de Goiânia onde atuamos, movimento político dentro da universidade onde atuamos, basta lembrar o Fórum de defesa da UEG. Ocupações de escola no estado de Goiás, também houve atuação de membros do coletivo. Desde as primeiras manifestações do MPL ainda em 2005 em Goiânia, também houve atuação de membros do coletivo. O mesmo nas atividades em 2013. Trabalho no movimento estudantil (UEG e UFG). Há, na Revista Enfrentamento, vários números com “documentos históricos do Movaut” onde descreve-se estas intervenções. Quase todas estas lutas foram derrotadas e não houve, até onde sei, análises do coletivo dizendo que elas fracassaram porque não seguiram “a pureza teórica” do Movaut.
Vivemos sempre naquilo que a geopolítica chama de “conflito de baixa intensidade”. As lutas de classes se dão cotidianamente de modo normalizado. Em alguns momentos é que há radicalização, quando setores da sociedade se organizam e movimentam a cena política. Em momentos em que a luta é muito setorial ou muito particular, é bem complicado realizar atividade de intervenção, sobretudo quando é em setores da sociedade na qual o coletivo não tem vinculação direta, nem proximidade. Não acho correto sua afirmação de que a inação deva-se a uma defesa de “pureza” teórica. O problema é mais profundo e mais complexo. Seu texto não alcança esta profundidade, nem destrincha esta complexidade. Fica na frase de efeito e retórica de que o Movaut cruza os braços em nome da “pureza” teórica.
A “luta cultural”, que você faz referência no seu texto, é sem dúvida, uma parte importante da atuação do coletivo. Consiste em criticar as ideologias, avaliar as condições históricas e sociais. Não creio ser isto algo de menor importância (nem estou dizendo que você afirma isto). Mas o modo como você coloca dá a entende que esta prática do coletivo é restritiva, pois acaba escambando para o sectarismo. Aquele que não se ajuste ao “dogma” está expurgado. Aqui é necessário considerar que a trajetória individual é importante, pois há pessoas com pouca experiência de luta e aprofundamento teórico, há aqueles que estão na luta há várias décadas, aqueles que lêem mais, inclusive pela atividade profissional que exercem (são professores), os que não gostam muito de se dedicar ao estudo mais sistemático e demorado etc. Há uma heterogeneidade muito grande dentro do coletivo, como existe em todos os outros.
O sistema de policiamento de “crimideia”, para lembrar Orwel, não é uma verdade dentro do coletivo, cara. Ao contrário, há sempre um estímulo ao estudo, à criação, à escrita, ao trabalho intelectual. Você sabe disto, porque grande parte de sua expertise intelectual foi construída lá dentro, assim como a minha também. Agora, o Movaut é um coletivo político, com Manifesto, regras de participação, atuação etc. Seu projeto político é a autogestão social, a luta revolucionária, a auto-organização etc. Aquele que não concordar com isto, pode sair no momento que quiser. Agora, ficar no coletivo e defender ecletismos, misturar ideologias burguesas com o projeto revolucionário etc. não é algo que o coletivo não deva aceitar (e não estou dizendo que você fez isto). Só estou querendo ilustrar que o Movaut é uma organização política e não um departamento acadêmico no qual todas as ideias podem conviver num belo fair play.
Assim, não considero o coletivo nem sectário, nem dogmático, mas sim resoluto em suas concepções e projeto político.
Você acusa os membros do coletivo de se orientarem para vias acadêmicas. Cara, esta crítica é feita há muito tempo e sempre criticamos isto. Inclusive você. Atentar-se para uma produção cultural (teoria, arte etc.) de valor não é ser acadêmico, apesar de vários membros estarem ou terem passado pela universidade, trabalharem em escolas e universidades etc. Daí, contudo, não deriva academicismo. Não é comum, pelo menos que eu tenha conhecimento, que membros do coletivo escrevam textos fazendo louvores a departamentos acadêmicos. Ao contrário, você fez isto. Mas esta é uma questão sua e eu não tenho nada a ver com isto. Agora, acusar os outros daquilo que você mesmo está fazendo, não me parece coerente.
Vou encerrando por aqui, pois o comentário já está se estendendo de mais. Qualquer erro que tenha ficado, deve-se que não tive tempo de lê-lo novamente para corrigir.
Até mais,
Lucas
O coletivo descrito opera um PD (Processamento Desejante) totalmente territorializado e esclerótico. Vamos dissecar seu circuito:
Fluxo de Entrada (Desejo)
O desejo original pode ter sido revolucionário. Agora, o input principal é o medo: medo da contaminação, do erro semântico, da complexidade do real. O desejo é reativo e defensivo.
Plataforma/Processador
O circuito fechado do grupo: revistas internas, eventos eco, debates que reafirmam pertencimento. É uma máquina de filtrar e purificar.Uma plataforma que só processa aquilo que já conhece, em loop. É um Corpo sem Órgãos (CsO) fascista: rígido, impermeável.
Código/Operação Principal
Vigilância recíproca. Aplicação de fórmulas conceituais puras. Expurgo do diferente. O código não é “revolução”, mas “pureza teórica”. A operação é policialesca e disciplinar.
Objeto Parcial Emergente
O “texto corretíssimo”, a “crítica implacável” (aos de fora), a “linhagem pura”. São produtos de identidade grupal, não ferramentas para o mundo.
Produz signos de potência (rigor, radicalidade) que mascaram uma impotência prática total.
Fluxo de Saída (Desejo como Output)
Desejo de auto-conservação, de conforto simbólico, de superioridade moral. A “revolução” é um sonho adiado que justifica a inação.
O circuito retroalimenta a paranoia. A saída (isolamento) é reinterpretada como entrada (prova de eleição). É um PD que só deseja a si mesmo.
Diagnóstico
A maior parte dos conflitos nos grupos e coletivos de militância política, apenas mascaram conflitos de egos e de relacionamentos pessoais.
Decorrência
• Toda militância política autenticamente emancipadora é também uma terapia. E toda terapia autenticamente curativa é também uma militância política.
• Não há luta revolucionária sem uma terapia revolucionária, e não há uma terapia revolucionária sem luta política revolucionária.
Conclusão
A militância política não é separada da vida. Ao contrário, é um modo de viver.
É onde vivemos que devemos agir. Sempre haverá oportunidades.
Esta é a única radicalidade possível: tecer os laços de solidariedade a partir da ação concreta, coletiva e organizada nos locais de moradia, produção, processamento logístico e convivência.
Ponderação específica quanto ao artigo
O único ponto a se ressavar é a falta de exemplos concretos, os quais talvez até poderiam ser apresentados com o tipo de formatação da seção “Flagrantes Delitos”.
Observação final
Não há ocorrência de qualquer tipo de ressentimento no texto.
Há sim o exercício de algo odiado pela Esquerda Revolucionária: a autocrítica.
Eu sou velho. Nasci quando os leitores deste site nem sabiam que iriam existir, e certamente os pais deles também não. Nasci e comecei a ser politicamente activo noutros climas, noutras geografias e noutra época. Numa época e num contexto em que havia lutas sociais, realmente sociais, e em que a extrema-esquerda era interferente e tinha audiência. Apesar disso, os grupos e grupúsculos da minha juventude padeciam dos mesmos problemas que este texto — excelente texto, na minha opinião — identifica e estigmatiza. As raízes do problema são muito profundas. Todos os que pretenderem circunscrever o diagnóstico elaborado pelo autor estão na realidade a atar mais firmemente a venda que colocaram sobre os olhos. Se posso concluir alguma coisa é que devemos sempre, sempre, desconfiar dos revolucionários, com ou sem aspas, que gostam do conforto ideológico.
Oi, Gabriel.
Li seu texto. Nunca tinha ouvido falar do Movaut; achei no Google. O site referencia textos seus como parte da formação política. Imagino que haja algum ressentimento, mas não sei também se o ressentimento, quando usado como insumo para alguma reflexão sincera, é ruim. Participei de outros grupos desde a universidade, que na época se definiam explicitamente a partir de filiações teóricas — outras, que não as suas — e parecia que você descreveu minha experiência. O que você disse é difícil dizer. Outras coisas, que seriam mais simples de dizer — porque contestam ideias mais esdrúxulas –, já são nos são difíceis de dizer hoje em dia, já que sobrevivência material de muitos depende da confirmação dogmática de muitas teses, da idolatria de muita gente babaca. Parte do meu salário depende disso. Parece que causa problemas dizer muita coisa hoje. Que merda nos metemos.
JB dixit: “excelente texto”, à guisa de opinião. A dele, por supuesto.
JB não “é velho”. Apenas, está velho. Longa vida para o JB!
JB poderia, se quisesse, dizer: “Eu mesmo me sucedo.”
JB é o mais autopoético discípulo de Píndaro: TORNA-TE O QUE TU ÉS!
É bastante complicado discutir com pessoas que não se dão conta de que estão em um sistema fechado em si mesmas e que, por uma rigidez para atender a uma suposta coerência, reproduzem uma determinada perspectiva bem fechada. O Movaut criou um vocabulário que apenas ele entende e que, sim, impede os outros de se sentirem livres pra pensarem por si mesmos. Além disso, é conservador em vários aspectos, especialmente no que concerne à sexualidade e ao gênero. Não à toa, é um coletivo quase estritamente masculino, e a presença feminina, quando existe, é por meio de relações amorosas. Sem mencionar “piadas” extremamente sexistas, e LGBTfóbicas, e ninguém está nem aí. Afinal, falar sobre isso é, basicamente, ganhar o rótulo de pós-estruturalista subjetivista. Voilà um exemplo de como o sectarismo se manifesta. Nesse sentido, eu diria não apenas que é sectário, mas também conservador em vários aspectos.
Creio que a crítica com base no ressentimento carece de uma explicitação do que se quer dizer com isso. Me parece evidente que um texto que mobilize experiências pessoais de desacordo em relação a um coletivo tem, em algum grau, atravessamentos emocionais relativos ao indivíduo que escreve. Se isso é ressentimento, então cabe justificar o problema. Ou então, fica-se com a impressão de que a própria natureza do texto, por conter atravessamentos pessoais, corrompe a priori sua efetividade. Me parece que o autor está consciente da particularidade do seu vivido e, de uma forma não-acadêmica, mobiliza essa particularidade pra propor hipóteses de caráter geral, sem, contudo, prescindir de mediação teórica. É claro que esse método tem seus problemas, e que se pode inquirir sobre a validade de suas generalizações, até mesmo remetendo à pessoalidade do material. Contudo, me parece muito mais frutífero rebater o texto no campo que ele se propõe a atuar: teoria da organização. Que se proponha contra-exemplos, contra-generalizações ou que se demonstre incoerência teórica. Não deveríamos esperar a conjuração de todo atravessamento emocional para propor reflexões críticas.
Lucas,
agradeço a leitura e o tom do comentário. Faço questão de responder por consideração a vc e também para não deixar pontos relevantes sem esclarecimento, ainda que eu realmente não tenha interesse em transformar isso em um exercício público de “lavar roupa” de uma experiência específica. O texto não foi escrito com esse objetivo. ainda assim, algumas questões que você levanta merecem resposta direta.
Antes de tudo, acho importante esclarecer um ponto de método e de intenção. O texto não foi concebido como uma análise teórica sistemática, nem como “uma síntese de múltiplas determinações” apoiada em um arcabouço teórico-metodológico explícito do materialismo histórico.
Não era esse o objetivo.
Pensei o texto como um ensaio de intervenção, um diálogo crítico, próximo do registro que caracteriza a maioria dos textos publicados aqui no Passa Palavra: textos que não pretendem esgotar problemas, nem oferecer modelos analíticos fechados, mas tensionar práticas, formas de organização e modos de relação entre teoria e realidade a partir de uma escrita deliberadamente ensaística.
Chamar isso de “retórica” exige uma precisão maior. Todo texto crítico, sobretudo no registro ensaístico, mobiliza recursos expressivos, imagens e ironias. Isso não o transforma automaticamente em “discurso retórico” no sentido de uma peça destinada a vencer um adversário específico por meio de rótulos, simplificações ou ataques pessoais. No texto, não há coletivo nomeado, não há polêmica dirigida a um interlocutor determinado, nem tentativa de encerrar o debate por autoridade externa. O que há é a descrição de um tipo recorrente de funcionamento político, articulando formas de coesão interna, estilos teóricos, relação com a universidade e seus efeitos práticos e subjetivos.
A estrutura do texto, aliás, não é a de uma denúncia pontual, mas a de uma cadeia analítica: parte da fronteira simbólica e dos mecanismos de coesão, passa pela lógica de pureza conceitual, chega à relação material com a universidade, analisa os efeitos subjetivos e termina na forma de isolamento político. Trata-se de uma tipificação, não de um ataque circunstancial.
Nesse sentido, chamar o texto de “retórico” só faz sentido se toda reflexão que não se apresenta como tratado teórico for reduzida a efeito estilístico. Esse tipo de redução empobrece o debate político, porque transforma a questão do gênero textual em argumento contra o conteúdo. A acusação de retórica, nesse caso, acaba funcionando ela própria como recurso retórico de desqualificação.
Acho que a única parte do texto que pode ter uma função mais explicitamente retórica é a nota inicial, no sentido de organizar o terreno da discussão. Ela tenta impedir que o texto seja lido apenas como ajuste de contas pessoal e desloca o foco para formas de funcionamento coletivo. Isso pode dar a impressão de armadilha, porque dificulta respostas biográficas. Ainda assim, o texto continua aberto a críticas substantivas. O seu comentário mostra isso: você discorda, apresenta exemplos, defende a organização de supostas injustiças. Ou seja, o debate não foi bloqueado. A nota não imuniza o texto contra toda crítica, apenas contra a redução da crítica ao plano pessoal. Se o texto puder ser discutido no plano das formas organizativas, então a nota cumpriu seu papel.
Primeiro, um dado que me parece importante e que ficou abstraído na sua leitura. Permaneci cerca de sete anos no coletivo e estou há quase cinco ou seis anos fora dele. Ou seja, já vivi praticamente o mesmo tempo fora que vivi dentro. Nesse intervalo, participei de outras experiências políticas, de outros coletivos, de outras formas de organização e de outros impasses. Quando falo de experiência no texto, ela não se refere apenas à militância passada no Movaut, refere-se também ao que vi, vivi e observei depois, em contextos distintos. O distanciamento temporal não é um detalhe biográfico irrelevante. Ele altera o ponto de observação e amplia o “campo” a partir do qual a análise é construída.
Por isso, quando você afirma que o texto é apenas minha elaboração, talvez mal resolvida de uma experiência específica, eu discordo. A experiência existe, claro, porém ela é reelaborada a partir de outros encontros, outros fracassos, outras tentativas e outras formas de fechamento organizativo que reconheci fora daquele contexto original. O padrão descrito não nasce do interior de um único coletivo. Isso é atestado da maneira como esse padrão se repete em alguns dos comentários escritos aqui em cima. Alguns leitores, inclusive, relataram experiências semelhantes em organizações e contextos completamente distintos, o que reforça a hipótese de que se trata de um problema recorrente de forma organizativa, e não de um caso localizado.
A leitura do texto como expressão de ressentimento (suponho que você se refere ao comentário da “Maria Rita Creu”) me parece especialmente problemática porque pressupõe que a crítica só poderia emergir de uma ferida ainda aberta, e não de um processo de elaboração política posterior. Ressentimento implica fixação, repetição e incapacidade de deslocamento. Curiosamente, outros comentários seguiram na direção oposta, apontando que reconheceram no texto situações vividas em coletivos diferentes, o que indica que a leitura em chave exclusivamente biográfica talvez não dê conta do alcance do problema descrito.
O que tento fazer ali é justamente o contrário: tratar uma experiência passada como material analítico, já decantado no tempo, atravessado por outras práticas e outras referências. Se o texto tivesse sido escrito no calor da saída, essa leitura talvez fosse plausível. Escrito quase seis anos depois, após outros engajamentos e outros impasses, ela perde força explicativa e funciona mais como recurso de desqualificação do argumento do que como interpretação do seu conteúdo.
Além disso, a forma como você formula essa crítica dá a entender que minha experiência política estaria inteiramente circunscrita ao Movaut, quase como se eu tivesse acabado de sair do coletivo e estivesse reagindo a quente. Isso simplesmente não corresponde aos fatos. Nunca publiquei textos ou notas públicas criticando o coletivo após minha saída. As críticas que fiz naquele momento foram explicitadas de forma privada, na carta de desligamento, e ali ficaram. O texto atual surge depois de um intervalo longo, atravessado por outras experiências organizativas, outras tentativas de intervenção, outros fracassos e outros modos de fechamento que reconheci fora daquele contexto específico. Reduzir essa elaboração a um “acerto de contas” recente não apenas empobrece a leitura do texto, como apaga esse percurso posterior, que é parte constitutiva do ponto de vista a partir do qual escrevo hojee.
Sobre as experiências de luta, você tem razão em um ponto fundamental. Muitos militantes do Movaut participaram de diversas lutas concretas, em diferentes momentos históricos. Isso é inegável. No entanto, uma parte dessas participações ocorreu de forma individual ou em articulações muito frágeis, frequentemente com pouco apoio explícito, orgânico e sustentado do coletivo enquanto tal. Isso não invalida a dedicação militante de quem participou. Coloca em questão, porém, o modo como o coletivo se estrutura enquanto “sujeito político” e o lugar que a intervenção coletiva ocupa nessa estrutura.
Não estou afirmando que o coletivo “espera as lutas fracassarem” de forma cínica ou consciente. Estou descrevendo uma tendência possível em contextos de refluxo, nos quais a crítica “correta”, a análise rigorosa e a “coerência programática’ passam a ocupar o centro da identidade, enquanto a intervenção se torna episódica, custosa e secundária. A crítica que faço é à forma, não à intenção.
Também concordo com você que há condições objetivas muito duras. Conflito de baixa intensidade, lutas setoriais, dificuldade de enraizamento, custos subjetivos e materiais elevados. Tudo isso é real. O texto não nega essa complexidade. O que ele tenta mostrar é que essas condições podem favorecer um fechamento organizativo e simbólico, no qual a dificuldade vira critério de distinção e a rarefação da prática acaba sendo naturalizada como sinal de rigor.
Quero deixar algo muito claro, inclusive para evitar leituras enviesadas. É inegável que grande parte do que aprendi e do que acredito politicamente está vinculada à perspectiva do Movaut. A centralidade da autogestão, o marxismo anti-leninista, a importância da teoria e da luta cultural nos processos políticos, a recusa do vanguardismo e da tutela sobre as lutas, etc. etc. etc. Nada disso é negado no texto, nem abandonado por mim. Não há ali um acerto de contas ideológico, nem uma conversão teórica. Há uma crítica a determinadas formas de funcionamento que podem emergir inclusive dentro de tradições políticas que considero fundamentais dentro do bloco revolucionário.
Sobre a questão da “crimideia”, talvez haja um desencontro de níveis de análise. Eu não me refiro a censura direta, proibição de leituras ou polícia de pensamento explícita. Nesse sentido, você tem razão: o coletivo sempre estimulou estudo, escrita e elaboração intelectual, e eu mesmo me formei em grande parte nesse ambiente.
O ponto que tento levantar é outro. Todo coletivo político estabelece critérios, regras e um programa. Isso é necessário para qualquer forma de coesão. Esses critérios, porém, não apenas orientam: eles também selecionam e excluem. A questão não é a existência dessa seleção, mas o modo como ela opera historicamente.
Em certos contextos, essa fronteira programática pode se cristalizar e passar a funcionar menos como orientação estratégica e mais como mecanismo de preservação do próprio grupo. Nesse momento, não é preciso censura direta. Basta que determinadas posições sejam automaticamente associadas a “ideologia burguesa” ou a desvios teóricos para que se tornem, na prática, inviáveis – mesmo que trate de autores e perspectivas muito próximas ou dentro mesmo do bloco revolucionário.
O que tento problematizar é essa linha tênue entre coesão política necessária e fechamento organizativo. Não como traço essencial do coletivo, nem como produto de má fé, mas como risco estrutural que pode emergir em períodos de refluxo e dificuldades práticas. Alguns comentários chamaram atenção justamente para a dificuldade de manter práticas abertas, autocríticas e não sectárias em coletivos militantes, o que sugere que essa tensão não é exclusiva de uma tradição ou de um grupo específico.
Nesse sentido, o texto não afirma que o Movaut seja “sectário” em essência, nem que seus membros ajam de má fé, nem que não exista heterogeneidade interna. Ele descreve riscos estruturais que atravessam coletivos fortemente identificados por um léxico teórico, sobretudo em períodos históricos nos quais a intervenção direta é difícil e a política tende a se deslocar para o plano da observação, da crítica e da autovalidação.
Talvez nossa divergência central esteja aqui. Você lê essa firmeza programática como resolução necessária diante de um cenário adverso. Eu enxergo o risco de que, nessas mesmas condições, a firmeza se transforme em imunização. São leituras diferentes do mesmo problema histórico.
O ponto que tento problematizar é quando essa firmeza deixa de operar como orientação estratégica aberta à experiência histórica e passa a funcionar como mecanismo de imunização contra o real. A fronteira programática, nesse caso, já não organiza a intervenção, mas a protege da própria prática. O problema não é ter critérios, mas torná-los impermeáveis à aprendizagem política, à autocrítica e à transformação produzida pela ação concreta. É nessa passagem, sutil e historicamente situada, que a firmeza pode deslizar para o fechamento, não por desvio moral ou má fé, mas como resposta defensiva a um cenário prolongado de dificuldades.
Por fim, reforço algo que considero importante. A crítica que faço não se coloca fora do campo que descreve. Ela me inclui. Inclui meus limites, minhas escolhas e minhas próprias contradições, inclusive no interior da universidade. O texto não busca um ponto exterior de julgamento, busca explicitar um impasse que considero real e recorrente.
Sobre a questão da universidade, não tenho dificuldade em reconhecer contradições pessoais. Em determinadas circunstâncias, às vezes por pressões institucionais, todos nós acabamos fazendo coisas que não correspondem plenamente às nossas posições teóricas ou políticas. Isso faz parte das condições concretas em que vivemos e militamos. Não me vejo como alguém exterior a essas contradições.
O ponto, porém, é outro. O fato de eu ter passado por situações contraditórias não invalida a crítica ao academicismo enquanto forma de reprodução política e simbólica. A crítica que faço não é moral e nem individualizante. Ela não parte da ideia de que alguém deve ser “puro” para poder criticar a universidade.
Trata-se de um problema estrutural: a dependência material e simbólica em relação à instituição, combinada a um discurso antiacadêmico que não se traduz em prática de enfrentamento. Esse problema pode atravessar qualquer um de nós, inclusive eu. Reconhecer essa contradição não anula a crítica. Pelo contrário, é parte do próprio problema que o texto tenta explicitar.
Além disso, mesmo no plano mais imediato, a leitura que você faz me parece parcial. Se em algum momento escrevi um texto descrevendo positivamente um documentário ambientado em um departamento universitário, também publiquei diversos outros, inclusive recentes, com críticas explícitas à universidade, às suas formas de funcionamento e às suas ilusões políticas. Reduzir minha posição a um episódio isolado não corresponde ao conjunto da minha produção e acaba reforçando justamente o tipo de leitura biográfica que o texto tenta evitar.
O problema, portanto, não é a coerência perfeita de trajetórias individuais, e sim as formas estruturais de relação entre coletivos políticos e a universidade. É nesse plano que a crítica foi formulada.
Se o texto fosse apenas sobre o Movaut, ele já estaria encerrado há anos para mim. O fato de eu ainda escrevê-lo hoje é sinal de que o problema persiste para além daquela experiência.
Seguimos discordando em alguns pontos, o que é legítimo. Você disse que considerou alguns pontos do meu texto injusto; fiquei curioso em saber quais pontos você não achou injusto.
Ainda assim, considero esse tipo de troca valiosa justamente porque permite tensionar as análises sem reduzi-las a biografia.
Encaminho essas observações não para encerrar o debate, mas para qualificá-lo. Diferenças de leitura e de ênfase são inevitáveis quando se compartilhou um mesmo percurso e depois se seguiram caminhos distintos.
Abraço camarada!
O texto acerta ao criticar a transformação do marxismo em circuito fechado, mais preocupado em preservar coerência interna do que em se confrontar com a realidade histórica. A denúncia do essencialismo conceitual, da vigilância simbólica e da substituição da prática pelo julgamento à distância é pertinente. Um marxismo que se blinda contra a experiência acaba operando de forma idealista, ainda que se apresente como rigoroso.
O limite da crítica aparece quando o sectarismo é tratado principalmente como desvio teórico ou escolha política, sem que se explorem de maneira mais consequente as condições materiais que o produzem. O fechamento doutrinário não surge do nada: ele responde a um período prolongado de derrotas, isolamento e precarização da militância. Sem essa mediação, o risco é deslocar um problema histórico para o plano moral.
Há também uma tensão entre o que o texto critica e o lugar de onde fala. Ao denunciar a distância em relação à prática, o ensaio permanece ele próprio no terreno da crítica discursiva. Isso não invalida o diagnóstico, mas deixa em aberto uma questão decisiva: que tipo de intervenção é hoje possível, sob quais condições e com quais mediações concretas?
Ainda assim, o texto cumpre um papel importante ao romper consensos e recolocar a necessidade de que o marxismo se confronte com a realidade, com todas as suas contradições. Talvez o passo seguinte seja deslocar a crítica do sectarismo como forma fechada para a análise das condições históricas que o tornam uma estratégia recorrente de sobrevivência política. É possível, em períodos contrarrevolucionários, ou não revolucionários, outra forma de organização política?
Diz o professor e ensaísta Gabriel Teles:
“É inegável que grande parte do que aprendi e do que acredito politicamente está vinculada à perspectiva [da] centralidade da autogestão, o marxismo anti-leninista, a importância da teoria e da luta cultural nos processos políticos, a recusa do vanguardismo e da tutela sobre as lutas, etc. etc. etc.”
(….)
“Nesse sentido, o texto […] descreve riscos estruturais que atravessam coletivos fortemente identificados por um léxico teórico, sobretudo em períodos históricos nos quais a intervenção direta é difícil e a política tende a se deslocar para o plano da observação, da crítica e da autovalidação.”
O protessor e ensaísta está incomodado e surpreso com o óbvio. Talvez as suas convicções estejam em colapso. Ou talvez ele possa, como doutor em Karl Korsch, fazer a crítica marxista da “extrema esquerda” (expressão do ancião João Bernardo), e realmente tratar do assunto que prometeu avançar, porém nada o fez, pois apenas nos trouxe o óbvio e expressou parte de suas angústias.
Lembrei-me tardiamente que os leitores deste artigo estarão talvez interessados no artigo que Vanessa Monteiro publicou no Passa Palavra em Agosto de 2024, Como a esquerda brasileira morre (aqui) e na discussão que prosseguiu nos comentários.
Nada é eterno. Nem mesmos os modos de produção. Na história, um modo de produção sucede a outro, ainda que combinando desigualdades com desenvolvimento. Para Marx, a partir de seu tempo, a superação do capitalismo se daria por uma revolução da classe, na hipótese dele, da classe trabalhadora. Mas será que, com as contínuas e exponenciais internacionalização do capital (e dos capitalistas, de mercado ou de estado) e a fragmentação dos trabalhadores (ou “trabalhadorXs”), com a crescente e cada vez mais “absoluta” APROPRIAÇÃO do tempo pelos capitalistas, já não estamos nos instantes finais de uma luta em que já se evidencia o vencedor? Não seria o “X”, dos “trabalhadorXs”, os animais como “legalmente” parte da família, etc, sinais de que não há apenas de se falar em “salvação do marxismo”, mas salvação da própria classe trabalhadora?
Eu tenho muita experiência política, já passei por muita coisa, vivi e conheci muitos coletivos. O que me espanta nesse texto não é apenas o seu caráter reacionário, mas o apoio que alguns dão a ele. O texto é claramente uma crítica à posição revolucionária. Defende tudo que existe, inclusive a academia. Não discute caminhos, discute a posição revolucionária e a condena, sem mais nem menos. Nem Marx escaparia dessa crítica ideológica e reacionária. Na visão do autor, ser revolucionário é ser sectário. A isso Lênin e outros chamaram “oportunismo”. Embora exista o “esquerdismo”, esse é muito mais salutar do que o oportunismo. O texto é oportunista, conservador, reacionário. E, como já vivi muito, resta saber qual é o partido que está por trás dele.