À medida que o capitalismo, o direito e a ética burguesa se reforçavam as mulheres adquiriram “liberdade” para consentir ou rechaçar o sexo. Por Maya John
Leia aqui a série completa.
Uma história do estupro: um fenômeno sempre presente?
Desde os anos 70 e 80, os círculos intelectuais influenciados pela perspectiva feminista foram evoluindo, pondo cada vez mais ênfase na questão da violência sobre as mulheres. Alguns textos elaborados por estes meios particulares de debate e discussão se tornaram hegemônicos no que se refere à questão da violência sexual sobre as mulheres. Os ecos destes debates, movimentos e campanhas promovidos por estas intervenções feministas não tardaram em ser ouvidos em outras partes do mundo. Influenciados pelo movimento feminista dos Estados Unidos, onde várias campanhas feministas lograram importantes reformas judiciais e políticas, surgiram na Índia vários grupos autônomos de mulheres a partir do movimento de mulheres previamente existente. De fato, todo este processo de surgimento de grupos autônomos de mulheres na Índia contou com a colaboração das redes mundiais de grandes ONGs e agências subvencionadas, que promoveram por todo o mundo suas campanhas para “empoderar” as mulheres e mudar as leis, campanhas nas quais se defendia a perspectiva de algumas feministas norte-americanas.
Ali, o livro de Susan Brownmiller, Contra nossa vontade: Homem, Mulher e Estupro [Against Our Will: Men, Women and Rape][14], que em 1995 foi selecionado pela Biblioteca Pública de Nova York como uma das 100 obras mais importantes e influentes do século XX, constitui uma das mais famosas contribuições à questão do estupro. Este trabalho influenciou muitas ativistas, estudantes e intelectuais em todo o mundo, o que se reflete na popularidade que gozam em vários círculos feministas suas teorias de que a violência sexual que sofrem as mulheres (o estupro, o assédio sexual e a exploração sexual) não tem nada a ver com sexo, e sim com poder. Em sua obra, o estupro se define como “um processo consciente de intimidação mediante o qual todos os homens mantêm todas as mulheres em um constante estado de medo”. Em termos parecidos, afirma coisas como: “o descobrimento por parte do homem de que seus genitais podiam ser uma arma geradora de medo é um dos mais importantes da época pré-histórica, junto ao descobrimento do fogo e o machado de pedra” (Susan Brownmiller); “em termos de anatomia humana, a possibilidade de forçar o coito sem dúvida existe… Este simples fato pode ter sido suficiente [grifo de MJ] para gerar a ideologia masculina do estupro” (ibid.); e os esforços do homem por submeter a mulher constituem “a luta mais longa que o mundo já viu” (ibid.). É importante assinalar que este enfoque particular do estupro, que dá destaque à opressão ligada à desigualdade de gênero, é o que distingue a análise feminista das demais análises sobre o estupro[15].
Ironicamente, as mencionadas concepções feministas se parecem bastante com essa controvertida perspectiva conhecida como “história natural do estupro”[16]. Segundo esta história natural do estupro, os homens tendem a estuprar devido à agressiva orientação de sua sexualidade, enquanto as mulheres tendem a ser violadas devido à sua atitude submissa, e porque sua sexualidade está menos governada pelo desejo sexual que pelo desejo de uma relação estável e forte. A capacidade de estuprar se considera, pois, como uma forma de adaptação humana a uma vida hostil, ou como uma consequência da adaptação do desejo sexual e a agressividade, que evoluíram desde a época primitiva por razões que nada têm que ver com os “benefícios” dos estupradores ou o “custo” do estupro para as vítimas. Em outras palavras, segundo as teorias da seleção sexual, a copulação e a reprodução dos humanos primitivos só era possível naqueles casos em que os homens sexualmente agressivos e fisicamente fortes forçavam as mulheres. Assim, a agressão sexual se converteu em uma parte da masculinidade humana, que evoluiu progressivamente. Por sua parte, a evolução das mulheres primitivas se baseou supostamente no refreio de si mesmas, para evitar que homens não agressivos, menos férteis ou menos viris copulassem com elas[17].
A perspectiva da história natural do estupro e a feminista têm em comum o fato de que consideram o estupro de forma a-histórica, deixando-o à margem da sociedade onde se produzem os estupros[18]. Por quê? Para explicar o problema que é posto por esta forma a-histórica de enfocar as diferenças de gênero e a violência sexual, vamos nos imaginar em uma enquete. Suponhamos uma situação em que uma mulher se aproxime dos primeiros dez homens que se encontram pela rua e lhes pergunta se querem ter relações sexuais com ela. E suponhamos também a situação oposta, um homem que se acerca das primeiras dez mulheres que vê e lhes pergunta se querem ter relações sexuais com ele. O que ocorreria? No caso da mulher, podemos supor que a maior parte dos homens aceitaria a oferta. No caso do homem, a maior parte das mulheres ou considerariam uma ofensa ou se queixariam de seu comportamento. E se esta mulher e este homem fossem transladados a distintas épocas da história humana, o resultado seria o mesmo? Podemos assegurar que a resposta das mulheres à oferta do homem seguiria sendo a mesma, e que seguiria considerando-se como uma afronta? O normal seria que as respostas variassem, pois a estrutura da sociedade humana, a natureza e a forma das relações humanas etc. passaram por consideráveis mudanças desde a época primitiva.
Com a evolução da sociedade primitiva à sociedade agrária, e mais tarde com a passagem da sociedade pré-capitalista para a capitalista, que supôs enormes mudanças demográficas, urbanas, comerciais, etc., seria um erro dizer que não se produziram mudanças na forma em que se desenvolve e se expressa a sexualidade masculina e feminina. Estas mudanças na sexualidade masculina e feminina, assim como a situação geral da mulher, tiveram que provocar mudanças na existência, no significado e na frequência dos casos de estupro. Está claro que o estupro só pode se apresentar como uma prática onipresente através de um processo de contínuas mudanças sociais se empregarmos noções a-históricas de diferenças de gênero e supusermos que a sexualidade humana permaneceu inalterada. Infelizmente, existe uma forte inclinação a considerar a separação de gênero como um sistema/divisão que é independente das condições históricas e socioeconômicas predominantes. Se seguirmos esta concepção da realidade social, é fácil, se não inevitável, cair na concepção de que a desigualdade homem-mulher atravessa tudo, e de que ademais esta desigualdade não se pode atribuir nem explicar a partir das estruturas socioeconômicas sobre as quais se desenvolve.

É claro, o movimento comunista internacional e algumas correntes do movimento das mulheres puseram em dúvida esta concepção da desigualdade de gênero. Graças a essa intervenção, a desigualdade de gênero foi progressivamente historicizada, de tal forma que se conseguiu revelar sua relação[linkages] com a forma em que surgiram e evoluíram na sociedade humana as relações sociais de domínio. Assim, se pensa que estas divisões sociais baseadas no gênero, que aceitam uma sexualidade feminina submissa e uma sexualidade masculina agressiva, não estavam presentes nas sociedades humanas primitivas, onde semelhantes relações de domínio estavam mais ou menos ausentes. Anos e anos de intensa pesquisa acadêmica interdisciplinar terminaram corroborando estas afirmações. Estudos recentes também demonstraram que até mesmo na sociedade “contemporânea” existem algumas comunidades humanas livres de estupro[19].
No século XIX, ao estudar as incipientes pesquisas sobre os humanos primitivos (que viveram como caçadores e coletores em pequenos bandos), Friedrich Engels apresentou uma das primeiras formulações sobre a opressão da mulher desde a perspectiva do movimento comunista internacional. Em sua obra[20] Engels demostrava de que forma o gradual desenvolvimento da produção excedente (em forma de agricultura e domesticação de animais) terminou criando as primeiras sociedades classistas, que por sua vez levaram ao surgimento da unidade familiar monogâmica. Segundo Engels, quando se fez possível produzir um excedente de alimentos, a sociedade foi capaz de manter uma minoria de seres humanos à margem do penoso trabalho produtivo diário. Isto deu lugar a sociedades de classe baseadas na submissão da maioria por parte da minoria. Esta minoria só podia manter seu domínio mediante o controle da produção excedente, o que levou ao surgimento do poder armado, o Estado, assim como à herança no seio da família. A questão da herança surgiu juntamente ao produto excedente, pois aqueles que se dedicavam ao trabalho produtivo rotineiro tratavam de proteger seu direito sobre sua porção de excedente. Os filhos adquiriram importância como depositários dos direitos de seus pais sobre o excedente, e se converteram na garantia desse excedente quando seus pais envelheciam. No entanto, em uma sociedade em que os homens e as mulheres não praticavam a união monogâmica, não era fácil estabelecer os direitos sobre o trabalho dos descendentes partindo da base de quem dava a luz aos filhos, pois muitos homens podiam reclamar sua paternidade. Para resolver esta crise, as jovens sociedades agrárias estabeleceram o “direito paterno” em lugar do “direito materno” sobre a progênie, uma transformação histórica que restringiu a prática da poligamia e a substituiu pela monogamia.
Antes que surgissem as primeiras sociedades classistas, a monogamia e a supervisão coletiva do comportamento sexual não constituíam a norma, pois os primeiros ou primitivos grupos humanos tinham normas sexuais menos restritivas, que permitiam o prazer e o desfrute sexual, ainda que seja provável que existissem algumas regras definidas e algumas restrições para pôr o grupo a salvo da possível extinção. Nestas condições históricas em que os humanos viviam em pequenos grupos onde todos faziam as mesmas tarefas, isto é, caçar e coletar comida, a atividade sexual não se baseava na escolha de uma parceira ou outra. Por exemplo, não se escolhia o “melhor caçador”, ou o “mais gato”, ou o de “melhor status”, etc. dentro do grupo de iguais que realizavam as mesmas funções[21]. E mais, naquele momento a atividade sexual era muito comum e estava organicamente ligada à vida diária e à rotina dos humanos primitivos, e não se via afetada por questões de hierarquia ou propriedade. A noção de hierarquia estava de fato ausente, pois as divisões sociais não existiam entre os primitivos humanos. Assim, nestas jovens formações sociais, as mulheres não rechaçavam a atividade sexual dos diversos homens. Ao menos isto é o mais plausível, tendo em conta que, ao contrário das integrantes de outras espécies que passam por um período de excitação sexual vinculado à sua ovulação, a mulher humana evoluiu de tal forma que é capaz de estar sexualmente ativa e de desfrutar da atividade sexual durante todo o ano. É ademais um fato que a mulher, ao contrário de outras primatas, é a única que parece ter capacidade para alcançar um orgasmo[22].
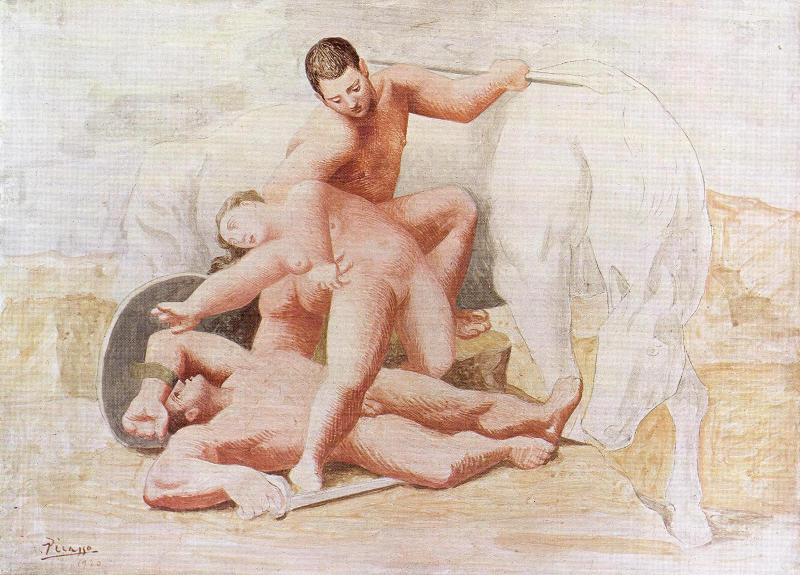
Aqui poderíamos nos perguntar se a gravidez poderia ter sido um fator que restringisse a atividade sexual dos homens e mulheres primitivos. No entanto, no contexto de uma formação social que ainda não compreendia a imediata conexão entre a atividade sexual e a concepção, coisa que não era fácil de intuir tendo em conta o lapso de nove meses que tarda a mulher em dar a luz, é difícil pensar que a gravidez levasse as mulheres a rechaçar o sexo. Dado, ademais, que as mulheres são sexualmente ativas durante todo o ano, não devia ser simples para os primitivos humanos dar-se conta do papel que jogam as relações sexuais na concepção. E mais, em uma sociedade na qual o cuidado dos filhos era uma tarefa de todo o grupo, a gravidez estava longe de supor uma carga suportada exclusivamente pelas mulheres que pariam os filhos. Assim, pois, é evidente que em semelhante contexto histórico o estupro era um fenômeno que estava ausente.
Não obstante, à medida que a sociedade foi progredindo desde a época primitiva, e à medida que a questão da propriedade e o produto excedente foram adquirindo importância, as primeiras sociedades de classe começaram a afirmar o direito paterno sobre a progênie, promovendo assim a legitimidade da unidade familiar monogâmica. Engels chamava esta progressiva desaparição do direito materno de “primeira derrota histórica do sexo feminino”, um processo que abriu o caminho para que o sexo feminino fosse progressivamente identificado como “mulher-do”, propriedade do guardião masculino da unidade familiar. Neste sentido, a afirmação independente da sexualidade feminina foi sendo cada vez mais estigmatizada.
Dentro deste processo de limitação da sexualidade feminina a fim de monopolizar os direitos reprodutivos das mulheres, que se impunha pouco a pouco e ia aumentando a opressão, o estupro começou a identificar-se gradualmente como um ataque sexual de caráter criminal sobre as mulheres. O sentido genérico da palavra rape [estupro, em inglês] ilustra muito bem como se percebia a sexualidade feminina e como se foi conformando com o passar do tempo. A raiz da palavra é o verbo latino rapere, que significa tomar ou colher pela força. Originalmente se definia como o sequestro de uma mulher contra sua vontade ou a do homem sob cuja autoridade vivia, e o coito nem sequer era um elemento necessário. Considerada mais como um sério crime contra a propriedade do homem “proprietário” da sequestrada do que como um ataque à mulher, as leis antigas costumavam ditar uma compensação financeira por parte do violador (sobretudo nos casos em que as mulheres acabavam comprometidas com alguém), que se devia pagar à família da mulher cujos “bens” haviam sido “violados”. Simplesmente, a princípio o estupro foi considerado como um crime contra a comunidade e a família da mulher afetada, não como um ataque ao corpo da mulher sem seu consentimento. Não surpreende, pois, que as mulheres começaram também a ser castigadas por manter relações sexuais sem a permissão dessas comunidades e famílias. Como resultado, toda atividade sexual que saísse das normas, como o adultério, a fuga com o amante, etc., também se considerava um estupro. Só com o passar do tempo (a partir da Baixa Idade Média), em algumas partes do mundo, o estupro começou a ser definido em seu sentido moderno e a excluir de seu âmbito algumas práticas, como a fuga sem a permissão familiar.
Este desenvolvimento histórico está estritamente ligado ao surgimento da figura do sujeito individual, um produto do período renascentista em Europa, época em que gradualmente se foram superando as leis senhoriais feudais, substituídas pela lei municipal que surgiu nas novas cidades que prosperaram com a expansão do comércio e que eram controladas pelas ricas famílias de mercadores. Nesta luta contra as leis comunais feudais que garantiam a propriedade hereditária dos recursos (também dos lucros comerciais) e os direitos baseados no pertencimento a um Estado, comunidade, etc., os novos municípios (paraísos do capitalismo mercantil em ascensão) começaram a afirmar os direitos e o status do indivíduo frente à comunidade. Por conta disso, inclusive o estupro começou gradualmente a deixar de ser considerado como um ataque à família ou à comunidade a que pertencia a mulher, e a ser concebido como um ataque aos direitos inalienáveis do indivíduo.

O surgimento da figura do sujeito individual não foi simplesmente um produto das leis municipais, mas de transformações socioeconômicas através das quais os indivíduos foram arrancados da estrutura comunitária à medida que o trabalho e a propriedade deixavam de depender do pertencimento do indivíduo a uma comunidade ou a um Estado. Nestas novas condições socioeconômicas, a eleição individual do companheiro não só se fez possível, como também desejável. O surgimento da Ilustração, a progressiva perda de influência da igreja ortodoxa, etc., foram fatores que também contribuíram com o processo que necessitavam as mulheres para poder (e querer) exercer seu consentimento individual à margem da comunidade e da família. Assim, se foram desenvolvendo os paradigmas e as sanções legais oportunas, apesar das limitações que eram impostas pela transição do pré-capitalismo ao capitalismo, marcada por complexidades (questão à qual voltaremos mais tarde). Com o tempo, pois, a escolha e o consentimento individual foram adquirindo importância, e o estupro terminou sendo definido como o coito sem o consentimento individual da mulher. Além disso, dito consentimento supunha claramente uma ação “voluntária” que, se por um lado afirmava sua independência frente aos ditados da comunidade, por outro também implicava a exclusão de certos indivíduos dessa possível escolha. Basicamente, a mulher podia escolher, mas só entre certos homens.
Com a extensão do colonialismo aos países do Oriente e da África, as transformações econômicas que se produziram e as intervenções do Estado colonizador na vida social das colônias terminaram provocando o desenvolvimento de estruturas socioeconômicas similares, um desenvolvimento que culminou no surgimento de regimes legais semelhantes nas colônias, que foram impondo progressivamente a figura do sujeito individual e os direitos do indivíduo[23]. No contexto da Índia, há duas coisas que é importante assinalar no que diz respeito à evolução da categoria estupro. Primeiro, a palavra “estupro” se dizia (e em general se segue dizendo) “izzat lootna”. Esta terminologia indica que, como em outras partes do mundo, o estupro não tinha nada que ver com a questão do consentimento individual da mulher. Ao contrário, o significado do termo estupro era um ataque à honra da família da mulher e de sua comunidade. Neste sentido, o estupro se concebia e identificava com o acesso sexual ilegítimo a uma mulher, que implicava desonra para a família/comunidade e, portanto, incluía também as relações sexuais consentidas entre um homem e uma mulher. A segunda coisa a apontar sobre a evolução da categoria estupro na Índia é o conflituoso e gradual processo através do qual o termo evoluiu até chegar a englobar o elemento de consentimento individual por parte da mulher[24]. No século XIX, na Índia, os debates em torno da legislação colonial, como no caso do ritual sati, a idade de matrimônio, etc., nos ajudam a perceber todo este processo através do qual a escolha e o consentimento individual terminaram sendo uma parte crucial do tecido legislativo das sociedades colonizadas.
Não é preciso dizer que este processo através do qual foi surgindo a figura legal do sujeito individual, com o desenvolvimento da economia capitalista, esteve assolado por complicações[25] e, portanto, não foi um processo de desenvolvimento linear. Não obstante, este processo impulsionou várias mudanças institucionais e legais, e gradualmente terminou estabelecendo novas formas de direito de propriedade e de relações laborais que muitas vezes desafiavam o sistema tradicional de direitos baseados no nascimento. Em muitas circunstâncias, o Estado colonial impunha deveres contratuais e cidadãos baseados na figura do sujeito individual frente ao Estado. Neste complexo processo, para evitar que “o indivíduo se refugiasse no anonimato de sua comunidade” e que “mudasse o nome para escapar de suas responsabilidades individuais legais ou contratuais”[26], é que pela primeira vez se outorga às mulheres a condição de sujeitos individuais.
De fato, os anais jurídicos do período colonial estão recheados de casos de “fugas” (relações entre indivíduos de distintas castas) nos quais os “tutores” masculinos tentavam separar suas filhas dos homens com quem haviam escolhido viver. Estes “tutores” costumavam acusar estes homens de sequestro, rapto e matrimônio forçado de suas filhas. Alguns interessantes estudos sobre estes casos de “fuga” revelam que o Estado colonial se viu obrigado a determinar e estabelecer os direitos individuais das mulheres, por um lado, e a proteger os direitos familiares ou comunitários tradicionais, por outro[27]. Claro, com o passar do tempo as profundas mudanças econômicas foram erodindo as travas impostas pelas castas e a comunidade, e com a entrada de cada vez mais mulheres na força de trabalho os direitos individuais das mulheres foram sendo implantados, às vezes por completo.
O que evidencia tudo isto é que à medida que o fortalecimento do capitalismo, do direito e a ética burguesa se iam reforçando mutuamente, as mulheres adquiriram pela primeira vez (isto é, pela primeira vez desde a época primitiva, quando sua vida sexual estava menos restringida) “liberdade” para consentir ou rechaçar o sexo. No entanto, o direito da mulher a exercer sua escolha permanecia limitado, pois a escolha estava condicionada para o rechaço na maioria das vezes e só consentir em certos casos. Assim, pois, embora a noção de consentimento fosse transferida à mulher como indivíduo, a lógica dos direitos de propriedade, exclusivos ou de proteção sobre a sexualidade feminina, permaneceram incrustados na mentalidade da maioria das mulheres, assim como na opinião pública, e tudo isso terminou dando forma àquilo que se percebia como estupro. Junto à estigmatização da atividade sexual feminina antes de uma relação (como o matrimônio) em casal, a demonização da mulher “promíscua”, etc., e junto ao fortalecimento da norma de formar casal com alguém da mesma classe, casta, etc., surgiu o estupro como um ataque recorrente sofrido pelas mulheres.
Nestas condições sociais, o estupro se converteu em uma possibilidade efetiva para as mulheres, enquanto que os ataques aos homens eram uma exceção. Isso se deve ao fato de que a trajetória histórica da sexualidade masculina demonstra que os homens não estão cultural nem socialmente condicionados a rechaçar relações sexuais com a mesma frequência e pelas mesmas razões pelas quais as mulheres se veem obrigadas a isso. Estas diferenças óbvias no desenvolvimento da sexualidade masculina e feminina devem ser atribuídas às transformações econômicas, que foram erodindo gradualmente o papel “produtivo” das mulheres e exagerando seu papel reprodutivo, assim como às estruturas de domínio (família, Estado, grupos sociais dominantes, etc.) que emergiram com as sociedades classistas. Em outras palavras, mais que tratar-se de um fenômeno onipresente, o estupro, como experiência e categoria juridicamente reconhecida, é produto de um processo histórico de formação de classe, e portanto, é um desenvolvimento tardio na sociedade humana.
Isto nos leva à questão de saber como o desenvolvimento do capitalismo, com a transformação das normas sociais, a estrutura familiar e os vínculos de casamento, foi provocando mudanças na forma de definir o estupro. É uma questão historicamente importante: como impacta exatamente na sexualidade masculina e feminina o surgimento e a expansão do capitalismo por todo o mundo?, como surgiram as bases que terminaram mudando a compreensão e a categorização do estupro?
A parte 3 deste artigo será publicada no próximo domingo.

Notas
[14] Susan Brownmiller (1993), Against Our Will: Men, Women and Rape (New York: Ballantine Books).
[15] Lee Ellis (1989), Theories of Rape: Inquiries into the Causes of Sexual Aggression (New York: Hemisphere): 10.
[16] Randy Thornhill and Craig T. Palmer (2001), A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion (Cambridge: The MIT Press).
[17] Não se pode negar que o problema da “história natural do estupro” é que se baseia em muitas perspectivas sem pé nem cabeça, como aquelas que defendem que existem diferenças genéticas entre o homem violador e o não violador, ou que o homem sexualmente agressivo (estuprador) tem maior capacidade de engravidar uma mulher do que aquele que não força as mulheres.
[18] Esta aproximação a-histórica à desigualdade de gênero impregna os discursos de muitas renomadas feministas. Por exemplo, sabe-se que Simone de Beauvoir afirmou que as mulheres “não têm passado nem história” (citado por Lerner (1986), Creation of Patriarchy, New York: Oxford University Press: 22). Do mesmo modo, Andrea Dworkin, em uma entrevista, disse: “Creio que a situação da mulher é basicamente a-histórica” (E. Wilson (1982), “Interview with Andrea Dworkin”, Feminist Review, vol. 11: 27).
[19] Christine Helliwell (2000), “It’s only a Penis”: Rape, Feminism, and Difference,” Signs, vol. 25 (3): 789-816; Peggy Reeves Sanday (1981), “The Socio-Cultural Context of Rape: A Cross Cultural Study,” Journal of Social Issues, vol. 37 (4): 5-27. Christine Helliwell e Peggy Sanday demostraram que algumas comunidades contemporâneas como os Gerai da comunidade Dayak na Indonésia ou os Minangkabua estão livres de estupros.
[20] Friedrich Engels (1973), A origem da família, da propriedade privada e do Estado.
[21] A existência de hordas com este tipo de atividade sexual levou ao desenvolvimento de um genótipo relativamente pequeno, e, portanto, a reprodução de uma progênie de similares características. Ademais, a natureza do sistema de caça e coleta implicava que as qualidades e as capacidades individuais estavam tão vinculadas à coletividade humana que era difícil que um indivíduo se distinguisse dos demais. Assim, pois, os distintos fatores que levam a escolher preferencialmente a uma determinada parceira, como o status, o físico e as capacidades, etc., não eram predominantes.
[22] Tal como a forma masculina da raça humana, a feminina desenvolve certa memória muscular e sensibilidade no tato na fase pré-natal, ou seja, durante seus 9 meses de existência na bolsa amniótica do útero materno. Protegida e cuidada pelo cálido e espesso fluído do útero, a espécie humana desenvolve uma maior sensibilidade ao tato em certas partes de seu corpo, isto é, nas zonas erógenas, que incluem os genitais, glândulas mamárias, lóbulos da orelha, etc. Desenvolvendo este sentido do tato que acalma os nervos, os músculos e os órgãos sensoriais, a espécie humana tenta replicar o que aprendeu na fase pré-natal. Neste sentido, o sexo é uma forma desenvolvida de tato e sensibilidade à que o ser humano se acostuma na longa fase pré-natal. De fato, assim como o canto é uma forma desenvolvida da fala, o sexo pode ser considerado como uma forma desenvolvida de tato humano. Claro, as consequências e a intenção implicadas na interação sexual são determinadas pelas formas de relacionar-se dos indivíduos. Portanto, o sexo não é só questão de psicologia, mas está profundamente mediado e transformado pelo meio social em que vivem os humanos. Nas sociedades divididas em classes, os significados culturais e pessoais ligados aos indivíduos, objetos e situações influenciam enormemente em nosso desejo sexual.
[23] Radhika Singha (2000), “Settle, Mobilize, Verify: Identification Practices in Colonial India”.
[24] Radhika Singha (1998), A Despotism of Law (New Nova Délhi: Oxford University Press).
[25] A transição da estrutura social e econômica indiana desde o pré-capitalismo ao capitalismo foi ao mesmo tempo freada e facilitada pelo Estado colonial, que limitou a sobrevivência, recreação e reprodução das velhas formas sociais. Falaremos mais adiante disso.
[26] Radhika Singha (2000), “Settle, Mobilize, Verify: Identification Practices in Colonial India”.
[27] Prem Chowdhry (2007), Contentious Marriages, Eloping Couples: Gender, Caste and Patriarchy in Northern India (New Nova Délhi: Oxford University Press).
Traduzido por Pablo Polese. O texto de Maya John foi originalmente publicado em Radical Notes e sairá dividido em sete partes, uma por semana.








“Critical to our study is the recognition that rape has a history, and that through the tools of historical analysis we may learn what we need to know about our current condition.”
Crítico para nosso estudo é o reconhecimento de que o estupro possui uma história, e pelas ferramentas de uma análise histórica poderemos aprender o necessário sobre nossa atual condição. – Susan Brownmiller, excerto de AGAINST OUR WILL.