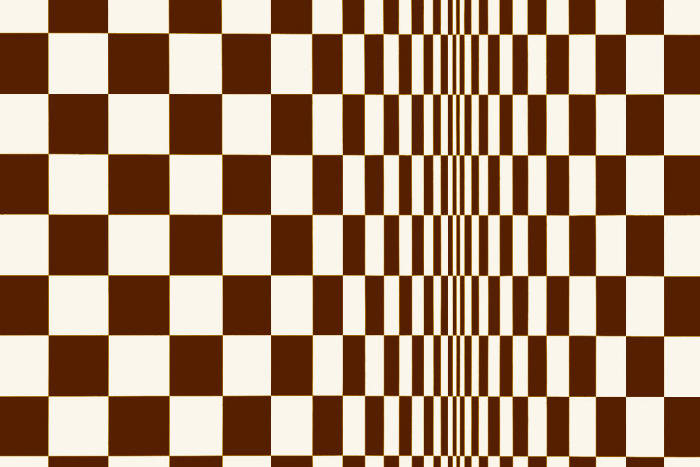Por Arthur Moura
Em 5 de maio de 2021, o massacre do Jacarezinho marcou uma ruptura simbólica: pela primeira vez em décadas, o Estado brasileiro agiu sem qualquer pudor em exibir a face nua da sua função repressiva. Naquele episódio, vinte e oito pessoas foram executadas sob o pretexto de uma operação “contra o tráfico”, mas o que se viu foi o ensaio geral de uma nova forma de governar — um governo pela morte. O texto que escrevi então, intitulado Jacarezinho e o Narcoestado, já apontava esse caminho: o Estado não “falha” ao matar, ele cumpre sua função estrutural de defesa dos interesses das classes dominantes, transformando o controle social em fonte de lucro e poder. Aquele massacre foi o laboratório da doutrina que amadureceria quatro anos depois, nas favelas da Penha e do Alemão. O que mudou entre 2021 e 2025 não foi a natureza da violência, mas sua administração: a morte tornou-se um dado de gestão, planejada, mensurada, legitimada como política pública. O que era “excesso” virou método; o que era “ilegal” virou norma. Do Jacarezinho à Penha, percorremos o itinerário completo de um Estado que, em meio à crise estrutural do capitalismo dependente, já não disfarça sua fusão com as forças do crime, da milícia e do capital. A repressão não é resposta à desordem — é o próprio modo de produzir ordem. E essa ordem se ergue sobre o extermínio cotidiano de uma população negra e periférica, herdeira dos quilombos e das senzalas, hoje confinada em territórios de abandono onde o Estado se ausenta como direito e reaparece como bala. Se o Jacarezinho foi o ensaio, a Penha é a maturidade do narcoestado: o momento em que a barbárie deixa de ser exceção e se torna a linguagem administrativa do poder.
A operação intitulada “Contenção”, deflagrada em 28 de outubro de 2025 nos complexos do Alemão e da Penha no Rio de Janeiro, responde a uma dinâmica que há décadas vem se reproduzindo. A novidade reside apenas na escala — o aparato mobilizado, os mortos contabilizados, a cobertura midiática — mas o núcleo da ação permanece intacto: a velha guerra contra o tráfico de drogas, as facções, o “poder paralelo”. O que muda, e com intensidade, é que essa guerra se converteu em política de Estado. Logo, para compreendê-la, devemos deslocar o foco da contenda imediata para o fundamento estrutural: por que essa guerra é vital ao Estado? Por que ela se realiza exatamente nos territórios periféricos? Quem são seus agentes reais — não apenas visíveis à luz da mídia, mas aqueles que continuam invisíveis porque se inserem no funcionamento do sistema?
O Estado burguês, forma política do capital, tem por pressuposto a defesa dos interesses das classes dominantes e de suas classes auxiliares. O aparato repressivo, portanto, é componente ordinário. A Operação Contenção evidencia menos a “naturalização” abstrata da força letal e mais um regime de legalidade gerencial: dispositivos jurídicos, métricas operacionais e rotinas administrativas que convertem a morte e a coerção em indicadores de desempenho. As falas do secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, não apenas justificam a letalidade; elas a integram a um desenho de governo em que apreensões, autos de resistência arquivados, “neutralizações”, narrativas de “narcoterrorismo” e cooperação interagências funcionam como chaves de autorização para orçamento, compras públicas, blindagem política e expansão tecnológica. Ao declarar que o Rio “vive um estado de guerra”, Curi enuncia uma doutrina de gestão territorial: ausência social estruturada (sem escola de tempo integral, creche, saúde, renda, cultura) e hiperpresença policial como tecnologia de controle. Esse arranjo produz inimigos substituíveis (a mão de obra juvenil negra) e soberanias sobrepostas (Polícia Civil, PM, PRF, Forças Armadas, MP e Judiciário) que distribuem a exceção, mantendo-a lícita e repetível. Em termos materiais, isso reordena o espaço urbano (valorização fundiária seletiva, expulsões lentas, captura de serviços informais) e fornece fluxo de renda para a economia da segurança. A favela — quilombo contemporâneo de sobrevivência negra — é alvo preferencial porque o próprio Estado se retirou como garantidor de direitos e reaparece como gestor do risco e da punição, impondo à juventude negra — majoritariamente criada por mães solo, com pais mortos ou encarcerados — um cardápio de explorações equivalentes: o subemprego degradado ou o recrutamento por organizações armadas que disputam, com o Estado, a extração de valor dos mesmos corpos. A letalidade não é erro; é método contábil da ordem.
O uso da expressão “estado de guerra” também é revelador. Ela legitima a militarização total da vida civil, a suspensão prática das garantias constitucionais e a instauração de um regime de exceção permanente nos territórios periféricos. Ao afirmar que “a alta letalidade era previsível, mas não desejada”, ele naturaliza o massacre. A previsibilidade da morte é, para ele, um dado operacional — uma espécie de efeito colateral aceitável dentro da lógica da segurança. Essa frase contém toda a essência da racionalidade instrumental que domina o Estado capitalista em crise: a morte não é um erro, mas um custo calculado, inscrito na contabilidade da gestão social. A afirmação de que “as vítimas dessa operação foram os militares mortos ou feridos” é um gesto de desumanização total. Reduzir dezenas de civis executados a “criminosos que optaram por não se render” é uma forma moderna de eugenia política. A palavra “opção” desloca a responsabilidade: os mortos tornaram-se culpados de sua própria execução. A necropolítica de Estado transforma o poder de matar em ato administrativo. O secretário também reforça o velho argumento de que o governo estadual age “sozinho” contra o crime, reclamando da falta de apoio federal. Essa retórica é estratégica: produz a imagem de um Estado heroico e abandonado, lutando contra forças maiores. Mas, na prática, serve para esconder o verdadeiro abandono — o do povo pobre, o das favelas, o dos trabalhadores precarizados que vivem sob cerco. A disputa entre governo estadual e governo federal é apenas disputa de gestão da barbárie. Nenhum dos lados questiona o princípio fundamental da política de segurança: o de que a vida periférica é descartável e o território popular é zona militarizada.
 Quando Curi afirma que a operação foi “planejada” e que “cumpriu as normas legais”, temos a normalização do absurdo. Cumprir a lei enquanto se assassinam dezenas de pessoas é o sinal inequívoco de que a legalidade foi totalmente absorvida pela lógica da exceção. O problema não é o descumprimento da lei — é a lei que já incorporou o crime como sua função. A modernidade jurídica burguesa sempre conviveu com a violência como fundamento; mas agora, sob a decomposição do Estado burguês, essa violência emerge à luz do dia como princípio organizador. A lei e o fuzil são instrumentos complementares da mesma racionalidade de controle. O discurso de Felipe Curi não difere, em essência, das doutrinas contrainsurgentes elaboradas durante a ditadura militar. A ideia de “territórios hostis”, “guerra interna”, “poder paralelo” e “eliminação do inimigo” são as mesmas. Apenas mudaram o cenário e a semântica. O inimigo, antes identificado como “subversivo”, é hoje o “traficante”, o “criminoso”, o “narcoterrorista”. A função política é idêntica: manter a população aterrorizada, justificar o orçamento bélico, garantir a disciplina da força de trabalho e impedir a organização autônoma das classes subalternas. A favela é tratada como colônia interna — espaço de ocupação e saque, laboratório da política de exceção.
Quando Curi afirma que a operação foi “planejada” e que “cumpriu as normas legais”, temos a normalização do absurdo. Cumprir a lei enquanto se assassinam dezenas de pessoas é o sinal inequívoco de que a legalidade foi totalmente absorvida pela lógica da exceção. O problema não é o descumprimento da lei — é a lei que já incorporou o crime como sua função. A modernidade jurídica burguesa sempre conviveu com a violência como fundamento; mas agora, sob a decomposição do Estado burguês, essa violência emerge à luz do dia como princípio organizador. A lei e o fuzil são instrumentos complementares da mesma racionalidade de controle. O discurso de Felipe Curi não difere, em essência, das doutrinas contrainsurgentes elaboradas durante a ditadura militar. A ideia de “territórios hostis”, “guerra interna”, “poder paralelo” e “eliminação do inimigo” são as mesmas. Apenas mudaram o cenário e a semântica. O inimigo, antes identificado como “subversivo”, é hoje o “traficante”, o “criminoso”, o “narcoterrorista”. A função política é idêntica: manter a população aterrorizada, justificar o orçamento bélico, garantir a disciplina da força de trabalho e impedir a organização autônoma das classes subalternas. A favela é tratada como colônia interna — espaço de ocupação e saque, laboratório da política de exceção.
Quando o secretário diz que “o Rio vive um estado de guerra”, ele não mente — apenas não diz quem declarou essa guerra. Não foram os moradores que invadiram as instituições; foi o Estado que invadiu os lares dos trabalhadores. A guerra não é entre “o bem e o mal”, como repete a imprensa, mas entre o capital e a vida. As forças de repressão são o braço armado da acumulação, necessárias para conter o excedente humano que o capital não absorve. Por isso, essa guerra não termina. Ela é vital ao funcionamento do sistema. Ela renova a legitimidade de governos que se sustentam pelo medo e pela promessa de ordem, e movimenta toda uma economia paralela de segurança, armas, blindados, vigilância, contratos e corrupção. A fala de Curi é exemplar de uma classe dirigente que governa pela violência e pela mentira. Seu discurso combina tecnocracia e brutalidade, moralismo e cinismo. Ao justificar o massacre em nome da legalidade, ele reafirma o dogma central do Estado burguês: a preservação da propriedade e da hierarquia social acima da vida. No fundo, o que Santos chama de “contenção” é a gestão da miséria. É a administração do excesso humano produzido pela crise estrutural do capitalismo dependente. É o modo pelo qual o Estado regula o fluxo da barbárie que ele mesmo produz.
A guerra urbana é o instrumento de contenção da superpopulação relativa — uma massa de trabalhadores precarizados, racializados e confinados nos territórios periféricos, cuja existência excede as necessidades de valorização do capital, mas cuja disciplina é vital à estabilidade da ordem. O que se chama de “combate ao tráfico” é a máscara ideológica dessa contenção: um dispositivo que converte a pobreza em ameaça e a miséria em inimigo. A guerra contra o Comando Vermelho é o álibi que legitima o reordenamento social e territorial exigido pelo capital — reorganiza a cidade, valoriza o solo, desloca populações, reconfigura poderes locais e renova o pacto entre Estado, milícia e mercado. Desde meados da década de 1980, como mostram estudos de Loïc Wacquant, entre outros, o aparato estatal trata as favelas como zonas de exceção: territórios coloniais internos onde se exercita a soberania do extermínio. O que estamos diante, portanto, é de um Estado que internalizou a necropolítica; a chamada “guerra às drogas” é método de governo — uma política de morte administrada em nome da ordem. Por que esse confronto se realiza, e mais ainda, por que se concentra nos territórios como o Morro do Alemão/Penha? Esses espaços são exemplos paradigmáticos: densos assentamentos periféricos, população majoritariamente negra, renda per capita inferior à média da cidade, infra-estrutura pública deficiente — e historicamente sob o controle, parcial ou total, de facções armadas (como Comando Vermelho) ou de milícias que surgiram no vazio estatal. Esse entrelaçamento entre informalidade econômica, ausência estatal e violência organizada é largamente documentado. Ali se instaurou uma governança paralela — criminal, política, econômica — e o Estado, longe de erradicá-la de modo frontal, passa a disputá-la ou a se fundir com ela. O território da favela constitui, então, um laboratório de acumulação de exceção: nela a população é alvo de policiamento militarizado, desaparecimento de garantias, letalidade elevada e lucro mediante extração (direta ou indireta) das suas vidas. Vejamos a dinâmica concreta da operação: milhares de agentes (2.500 segundo fontes) mobilizados em blindados, drones, armas automáticas; a reivindicação governamental de “narcoterrorismo”; múltiplos corpos deixados nas ruas; escolas fechadas; transporte interrompido. Isso revela que a operação não se dirigia apenas a líderes do tráfico, mas visava um território como conjunto. Em tal operação, a morte é parte do desenho. A continuidade do projeto de Estado-guerra torna-se visível. O que ocorrera em 5 de maio de 2021 no Jacarezinho foi, portanto, ensaio: a maturidade se verifica agora. O que ocorre é uma política de contenção ativa, não um remendo de segurança pública. O aparato repressivo coincide com o “arranjo” do narcoestado: Estado, milícia/facção, capital imobiliário e burocracia de segurança rendem-se à lógica da excepção permanente.
O que o Estado chama de “território conflagrado” são, na verdade, territórios de sobrevivência negra — verdadeiros quilombos modernos, erguidos sobre as ruínas da cidadania negada. A favela, historicamente, foi o refúgio dos descendentes da escravidão, empurrados para os morros e para as franjas urbanas por um projeto sistemático de exclusão. Ao longo das décadas, o poder público se retirou desses espaços, abandonando gerações inteiras à sobrevivência e à violência cotidiana. Onde o Estado não constrói escolas de tempo integral, não garante creches, não oferece alternativas de renda ou de lazer, instala-se a lei do desespero. Os jovens negros, crescem entre duas únicas possibilidades: a exploração direta pelo capital, em trabalhos degradantes e sem futuro, ou a exploração pelas organizações criminosas que disputam o controle territorial com o próprio Estado. Ambas operam segundo a mesma lógica: a de extrair vida e energia de corpos negros descartáveis. A ausência de políticas públicas não é omissão; é método. O abandono é forma de dominação. A favela, reduzida à condição de campo de guerra, é também a expressão mais radical do fracasso — ou melhor, do sucesso — da ordem capitalista em manter um povo sob controle pela carência.
 Mas por que existe esse confronto, além da cobertura ideológica “combate ao tráfico”? Porque o território periférico habita duas funções para o capital: função de reserva de vida e função de acumulação através da precarização. O estado-capital, em crise estrutural, precisa disciplinar o excedente humano que o sistema econômico não absorveu: jovens negros descartados, desempregados, subempregados. A favela, então, deixa de ser apenas cenário de “crime” e passa a ser palco de uma reorganização da força de trabalho, da valorização fundiária das suas encostas, e da extração direta de renda — via transporte informal, gás, eletricidade paralela — gerida por milícias ou traficantes. A repressão violenta serve à contenção desse excedente e à reorganização disciplinar da periferia. Assim, esse confronto é componente estrutural da governança neoliberal tardia em contextos dependentes como o Brasil. A ideologia da “guerra às drogas” opera como mecanismo de racialização das periferias, legitimando o abate de corpos como política de Estado. Nessas condições, a guerra não “combate o crime”, ela produz o crime como vetor de disciplina. O que se chama “crime organizado” é ao mesmo tempo agente econômico e instrumento de governança.
Mas por que existe esse confronto, além da cobertura ideológica “combate ao tráfico”? Porque o território periférico habita duas funções para o capital: função de reserva de vida e função de acumulação através da precarização. O estado-capital, em crise estrutural, precisa disciplinar o excedente humano que o sistema econômico não absorveu: jovens negros descartados, desempregados, subempregados. A favela, então, deixa de ser apenas cenário de “crime” e passa a ser palco de uma reorganização da força de trabalho, da valorização fundiária das suas encostas, e da extração direta de renda — via transporte informal, gás, eletricidade paralela — gerida por milícias ou traficantes. A repressão violenta serve à contenção desse excedente e à reorganização disciplinar da periferia. Assim, esse confronto é componente estrutural da governança neoliberal tardia em contextos dependentes como o Brasil. A ideologia da “guerra às drogas” opera como mecanismo de racialização das periferias, legitimando o abate de corpos como política de Estado. Nessas condições, a guerra não “combate o crime”, ela produz o crime como vetor de disciplina. O que se chama “crime organizado” é ao mesmo tempo agente econômico e instrumento de governança.
E mais: esse confronto se concentra em territórios como Alemão/Penha porque ali a resistência institucional é débito — presença estatal fragilizada, burocracia limitada, infraestrutura deficiente. A facção domina, sim, mas justamente porque o Estado permitiu o vácuo. Projetos como as Unidade de Polícia Pacificadora (UPPs) foram tentativas de ocupação pacificadora, sobretudo em função de mega-eventos, mas não alteraram profundamente os mecanismos estruturais — com retorno da violência e da repressão militarizada. O confronto cresce justamente quando o Estado decide que não tolera mais a autonomia paralela da facção — não para “libertar” o território, mas para assumir ou cooptar esse domínio e inseri-lo no arranjo da acumulação capitalista dependente. A facção é parte da engrenagem: tráfico, milícia, mercado imobiliário, transporte informal — tudo isso absorve a favela no ciclo. O ataque, portanto, não é contra a “criminalidade” puramente, mas contra um rival que precisa ser disciplinado para que a ordem funcional prossiga. Essa contenção, contudo, não se dá num lúdico vazio: ela se dá pela normalização da exceção. A operação reafirma que o Estado opera segundo nova lógica: a exceção não é suspensa, é internalizada. O direito democrático, a jurisdição civil, tornam-se acessórios. Como analisa a teoria crítica da necropolítica, o Estado define quem “pode viver” e quem “deve morrer”. Isso é visível nas favelas onde jovens negros são mortos por operações policiais com quase nenhuma responsabilização. O sistema de garantias tampouco opera com intensidade. A impunidade é parte integrante: a letalidade elevada se legitima pela ausência de consequências reais. É certo como o nascer do dia que as forças responsáveis sairão incólumes. A operação de 2025 confirma: seletividade letal + impunidade = regime de guerra permanente.
E nesse ponto se impõe: nem a esquerda institucional nem a direita resolverão o problema — porque ambas são parte da lógica da barbárie criminosa promovida pelo Estado. A direita homenageia o exterminador, a esquerda pede “menos letalidade”, “reforma policial”, “mais direitos humanos” — mas mantém intacta a compreensão de que o Estado-segurança pode curar o mal social. Essa crença é falsa. O que temos é o próprio Estado-segurança agindo como gestor da violência e da disciplina social. A esquerda institucional replica a confiança no Estado e na fórmula de policiamento, apenas com cor diferente. A direita replica com maior virulência. Em ambos os casos, reproduz-se o narcoestado. Quando examinamos a gestão de Cláudio Castro no Rio de Janeiro, percebemos que ele não inaugura o modelo — ele o aprofunda. Não é a causa, mas o operador consciente de uma maturidade do modelo. Ele governa por meio da guerra, faz da operação letal sua marca, contabiliza mortos como troféus de poder. E mais importante: institucionaliza a lógica da exceção. A mídia anuncia “a maior operação em 15 anos”, os jornais festejam o aparato, os analistas falam em “choque de ordem”. Mas a verdade é que esta operação diz menos sobre um governo, e mais sobre o funcionamento avançado do regime capitalista dependente brasileiro — em que a periferia é zona de sacrifício, de extração, de experimentação da governança de exceção. A letalidade não é falha da democracia — é parte da sua fibra repressiva.
Ainda mais: esse modelo de controle e exceção está intrinsecamente ligado à acumulação de capital — imobiliário, transporte, serviços informais, gás, eletricidade clandestina. As facções e milícias operam com o apoio tácito do Estado ou sob sua tolerância. Elas fornecem canais de lucro, controlam territórios, garantem “serviços” e absorvem o excedente. O Estado, quando entra com a operação, não entra para “erradicar” esse sistema — entra para reorganizá-lo sob sua tutela ou sob nova hegemonia. A Operação Contenção é momento em que o Estado reivindica esse território como seu e anuncia que a lógica é “ou o Estado ou o criminoso”, mas o criminoso já é parte do Estado. Logo, o que se anuncia é: “Nós tomamos o comando”. E o comando exige espetáculo, letalidade, vigilância e medo. Para os moradores da favela, essa guerra não traz segurança — traz terror. Para o capital, traz oportunidade: valores fundiários das encostas sob risco caem; investidores especulam; transporte informal é controlado; violência gera terceirização de segurança privada; o aparato repressivo justifica verbas, contratações e negócios de guerra urbana. No final, a favela torna-se duplamente explorada: pela facção/mercado e pelo Estado repressivo. A cura prometida jamais vem, porque o caminho escolhido foi o da guerra, não da inclusão.
O que está em jogo não é “menos letalidade” ou “melhor polícia”: é a superação do regime de segurança como política social. A solução não está no Estado, mas contra o Estado da segurança. A tarefa para a vanguarda política não é reformar a polícia, mas superar o regime de acumulação e disciplina que justifica sua letalidade. O inimigo não é apenas o traficante nem apenas o policial: é o arranjo que transforma corpos (principalmente corpos negros e periféricos) em território de guerra, lucro e impunidade. A Operação Contenção mostra que o tempo do narcoestado já alcançou sua maturidade: não é mais fratura ou exceção — é forma de governo. É essencial que reconheçamos isso para que possamos pensar uma saída que rompe com a lógica da contenção, que substitui a guerra por democracia substancial, reparação, transformação estrutural e protagonismo da classe trabalhadora periférica. Sem isso, estaremos sempre dizendo “menos letalidade” enquanto a guerra avança, e estaremos sempre constatando os corpos mortos sem investigar o sistema que os produz.
Não há como combater essa lógica com reformas. A esquerda institucional, ao clamar por “aperfeiçoamento da polícia”, “respeito aos direitos humanos” ou “nova política de segurança”, apenas reforça o edifício da dominação. Querem humanizar a barbárie, sem abolir sua causa. A direita, por outro lado, faz da barbárie sua bandeira, exigindo mais armas, mais fuzis, mais sangue. Ambas são faces do mesmo projeto: a manutenção da ordem capitalista e a perpetuação da miséria. A saída não está entre essas alternativas. A saída está na recusa radical dessa estrutura — na organização autônoma dos trabalhadores e dos povos periféricos, na construção de uma política de libertação que não dependa do Estado, mas o confronte. A história cobrará caro por essa normalização do horror. Quando o Estado chama de “guerra” o que é massacre, quando chama de “contenção” o que é extermínio, quando chama de “planejamento” o que é barbárie, já não restam dúvidas sobre o caminho percorrido. O Rio de Janeiro, sob Cláudio Castro e Felipe Curi, tornou-se o espelho mais límpido da degradação do Estado burguês brasileiro: um regime de segurança que não protege, uma democracia que mata, uma lei que justifica a exceção. E enquanto não rompermos esse círculo infernal, o país inteiro seguirá sendo governado pela morte.
 As forças armadas, inseridas nesse processo, cumprem o papel de guardiãs da propriedade e da estabilidade social, não o de defensores do povo. Sua função é assegurar que a guerra interna permaneça confinada às fronteiras invisíveis que separam o mundo legal do mundo descartável. São elas que definem onde o sangue pode ser derramado e onde deve haver silêncio. Essa estrutura vem se sofisticando. Desde as campanhas coloniais, a força armada do Estado se orienta menos pela defesa da soberania nacional e mais pela repressão das insurreições internas. É um exército voltado para dentro, para o controle de sua própria população. A operação de 2025 é apenas a face atualizada dessa função histórica. A verdadeira função das forças armadas nessa guerra é, portanto, política. Elas não combatem drogas, nem defendem vidas: asseguram a permanência de um regime de dominação. Funcionam como mediadoras entre as elites econômicas, o capital financeiro e os aparelhos policiais. Sua presença é a garantia de que a violência não transborde, de que a revolta popular não encontre brecha, de que a guerra permaneça controlada e produtiva. A militarização da vida cotidiana é a resposta preventiva à ameaça latente de desobediência social. É uma forma de neutralizar qualquer possibilidade de ruptura. O terror é método. É necessário compreender que a economia do tráfico e a economia formal não são mundos separados. O dinheiro do tráfico circula por bancos, financia campanhas, compra imóveis, sustenta empresas de fachada. A fronteira entre o legal e o ilegal é apenas uma convenção ideológica. O que existe, de fato, é uma divisão funcional do trabalho violento. O Estado regula quem pode matar, quem pode lucrar e quem deve morrer. Essa regulação é o coração da política de segurança. Por isso as operações nunca atingem os circuitos superiores do narcotráfico. A guerra é travada contra o elo mais fraco, contra a mão de obra precarizada, contra o corpo que serve de escudo para a economia da morte.
As forças armadas, inseridas nesse processo, cumprem o papel de guardiãs da propriedade e da estabilidade social, não o de defensores do povo. Sua função é assegurar que a guerra interna permaneça confinada às fronteiras invisíveis que separam o mundo legal do mundo descartável. São elas que definem onde o sangue pode ser derramado e onde deve haver silêncio. Essa estrutura vem se sofisticando. Desde as campanhas coloniais, a força armada do Estado se orienta menos pela defesa da soberania nacional e mais pela repressão das insurreições internas. É um exército voltado para dentro, para o controle de sua própria população. A operação de 2025 é apenas a face atualizada dessa função histórica. A verdadeira função das forças armadas nessa guerra é, portanto, política. Elas não combatem drogas, nem defendem vidas: asseguram a permanência de um regime de dominação. Funcionam como mediadoras entre as elites econômicas, o capital financeiro e os aparelhos policiais. Sua presença é a garantia de que a violência não transborde, de que a revolta popular não encontre brecha, de que a guerra permaneça controlada e produtiva. A militarização da vida cotidiana é a resposta preventiva à ameaça latente de desobediência social. É uma forma de neutralizar qualquer possibilidade de ruptura. O terror é método. É necessário compreender que a economia do tráfico e a economia formal não são mundos separados. O dinheiro do tráfico circula por bancos, financia campanhas, compra imóveis, sustenta empresas de fachada. A fronteira entre o legal e o ilegal é apenas uma convenção ideológica. O que existe, de fato, é uma divisão funcional do trabalho violento. O Estado regula quem pode matar, quem pode lucrar e quem deve morrer. Essa regulação é o coração da política de segurança. Por isso as operações nunca atingem os circuitos superiores do narcotráfico. A guerra é travada contra o elo mais fraco, contra a mão de obra precarizada, contra o corpo que serve de escudo para a economia da morte.
A reorganização promovida pelo Estado por meio da Operação Contenção é um ajuste na topografia do poder. Não se trata de restaurar a ordem, mas de redistribuir o caos. A cada massacre, as linhas de comando se redesenham, as alianças se refazem, o equilíbrio se recompõe. O que se vende como vitória é, na verdade, a manutenção do mesmo sistema em novas bases. A operação funciona como ritual de purificação: o Estado demonstra força, a mídia celebra, a classe média sente-se protegida, e o capital respira aliviado. A violência cumpre sua função simbólica de renovar a fé na autoridade, ao mesmo tempo em que reconfigura as relações de poder dentro da própria máquina estatal. O combate ao tráfico é uma ficção necessária. Ele alimenta o mito da autoridade moral e a crença na neutralidade das instituições. Mas o que se esconde sob esse discurso é o velho funcionamento da dominação de classe: o uso da violência seletiva como instrumento de governo. A operação não combate o crime; combate a possibilidade de emancipação. A cada corpo abatido, a cada casa invadida, o Estado reafirma que não há saída fora da sua tutela. A guerra é o modo de impedir que o povo perceba que o verdadeiro inimigo é o sistema que o extermina em nome da ordem.
A contenção, portanto, é mais do que uma política de segurança: é uma política de classe. Seu objetivo não é proteger, mas preservar. Preservar o lucro, preservar o medo, preservar o silêncio. O Estado se reorganiza quando as contradições sociais ameaçam escapar ao seu controle. Ele recalibra suas engrenagens, desloca o foco da crise econômica para o inimigo interno, e oferece à sociedade o espetáculo da guerra como catarse. Cada operação é uma pedagogia de submissão: ensina que a paz é privilégio, que a vida é concessão e que a morte é merecida. Ao fim, o que a Operação Contenção revela é o rosto nu do poder: o Estado como administrador do crime, o exército como tutor da ordem, a polícia como mediadora entre o legal e o ilegal. E enquanto a sociedade continuar acreditando que o problema é o “tráfico”, e não o sistema que o produz e o regula, a barbárie continuará sendo a linguagem oficial da política. A verdadeira contenção é a do povo: contido pelo medo, pela miséria e pela morte. É essa a vitória silenciosa do Estado sobre a vida.
A guerra interna brasileira é um projeto de Estado, não de governo. Sua permanência através das décadas revela que a repressão é uma necessidade funcional. O capital precisa de ordem para continuar existindo; e o Estado, sua forma política, se encarrega de garantir que essa ordem seja mantida pela violência legalizada. Mudam-se os governos, alternam-se os discursos, mas a estrutura permanece. Quando se fala em “forças de segurança”, fala-se na coluna vertebral da dominação burguesa. Ela é o verdadeiro partido permanente do Estado. O governo federal, em qualquer de suas versões, não se limitou a reproduzir essa estrutura — ele a expandiu. A crença de que o fortalecimento das instituições republicanas implicaria uma democracia mais robusta serviu de justificativa para a ampliação inédita dos aparatos repressivos. Durante os anos de euforia desenvolvimentista, a aposta era clara: blindar o Estado contra qualquer ameaça de ruptura social. Quando Dilma Rousseff inaugurou a chamada “Cidade da Polícia”, não estava promovendo modernização técnica ou eficiência administrativa; estava consolidando a centralização do controle policial e militar sobre o território urbano. Aquele complexo de delegacias especializadas, laboratórios e forças táticas sintetizava o projeto do Estado brasileiro pós-2003: sofisticar a repressão sob a estética da gestão.
A construção da “Cidade da Polícia” foi apresentada como símbolo de racionalidade e de combate à corrupção dentro das corporações. Mas o que ela de fato instituiu foi um modelo de integração entre inteligência policial, poder judiciário e tecnologia militar — um salto qualitativo na coordenação das forças repressivas. Sob o pretexto de combater o crime organizado, o Estado organizou a sua própria estrutura de guerra permanente. A esquerda institucional chamou isso de “segurança cidadã”; a direita, de “ordem e progresso”. Na realidade, tratava-se de consolidar a vigilância sobre os corpos e as vozes que ameaçavam a estabilidade da acumulação. O projeto político de “pacificação” dos territórios periféricos, as UPPs, e o investimento em infraestrutura policial foram faces da mesma moeda. A suposta integração social das favelas serviu de laboratório para a gestão militar da pobreza.
O compromisso do governo federal com as Forças Armadas jamais foi de confronto, mas de conciliação e recompensa. O orçamento da defesa, ao longo de duas décadas, cresceu exponencialmente. Nenhum governo ousou reduzir a influência política dos militares; ao contrário, todos procuraram reconvertê-la em força estabilizadora. As Forças Armadas foram mantidas como poder tutelar da república. Receberam verbas, cargos, homenagens e um papel central na legitimação moral do Estado. A velha casta fardada foi incorporada à máquina administrativa como símbolo de eficiência e patriotismo, ocultando sua função real: garantir que o povo permaneça no seu lugar. O fortalecimento das estruturas repressivas, nesse contexto, não é uma falha dos governos populares, mas sua contradição interna. Ao buscar governar para todos, mantiveram intactas as bases da dominação de classe. A conciliação com os militares e com a polícia foram o preço pago para assegurar a estabilidade institucional. Mas o preço cobrado foi alto: a militarização da vida. A retórica da “cidadania armada” e da “guerra ao crime” substituiu o horizonte de emancipação pela promessa de ordem. Assim, o Estado ampliou seus instrumentos de controle sobre as massas ao mesmo tempo em que se apresentava como seu protetor. A repressão deixou de ser atributo da direita e tornou-se política de Estado.
O governo federal atua como fiador moral e financeiro dessa estrutura. É quem garante o fluxo de recursos, os programas de modernização, os convênios de tecnologia e a retaguarda política para as operações de guerra interna. Mesmo quando critica as chacinas, o faz dentro dos limites da legalidade que ele próprio sustenta. Os governos progressistas e conservadores divergem no discurso, mas convergem na prática: nenhum rompeu com o pacto armado. O exército segue controlando a Amazônia sob a lógica da segurança nacional, as polícias seguem militarizadas e os territórios urbanos seguem vigiados por câmeras, drones e bases móveis. O Estado democrático de direito é, na prática, um Estado de exceção administrado. Nesse quadro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é apenas a personificação regional dessa engrenagem. Advogado, católico militante e aliado orgânico da extrema-direita, Castro é a expressão mais nítida do consenso repressivo. Herdou o cargo após o impeachment de Witzel e foi reeleito com o apoio das milícias políticas, dos empresários da segurança e do clero fundamentalista. Seu governo se sustenta sobre três pilares: a repressão armada, o moralismo religioso e a aliança com o capital imobiliário. Ele governa pela guerra e através da fé. Cada operação policial é um sermão sobre a necessidade da morte para garantir a paz.
Castro governa como um síndico do narcoestado. Administra o pacto entre o Estado formal e as forças ilegais que realmente controlam o território. Sua função é coordenar a convivência entre polícia, milícia e facções, equilibrando interesses e redistribuindo lucros. Quando um desses elementos se torna disfuncional — quando a violência escapa do script, quando o tráfico desafia a hierarquia ou quando a opinião pública exige espetáculo — o governador autoriza a chacina. A Operação Contenção é parte desse mecanismo de ajuste. Sob o pretexto de combater o “narcoterrorismo”, o Estado redefine as fronteiras da sua soberania e reestabelece a hierarquia do medo. A figura de Cláudio Castro representa a síntese perfeita do Estado burguês em sua fase de decomposição moral. Um homem de fé que abençoa o fuzil, um gestor que transforma o massacre em estatística, um político que governa com o evangelho numa mão e o decreto de morte na outra. Sua retórica de “guerra justa” legitima o genocídio e confere aparência de virtude à barbárie. Ele se apresenta como defensor da ordem, mas sua ordem é o caos administrado. É a mesma lógica que permeia todo o sistema: o poder não quer eliminar a violência, quer monopolizá-la.
As forças do Estado, do governo federal e do governo estadual estão articuladas por uma divisão de tarefas. O governo central fornece o enquadramento legal, o financiamento e o discurso de modernização. O governo estadual executa, com brutalidade, a política de contenção. As Forças Armadas garantem o pano de fundo moral e o respaldo simbólico da autoridade. Essa divisão mantém o equilíbrio entre as classes dominantes, ao mesmo tempo em que reprime qualquer movimento de ruptura. A violência se distribui de modo racional: o centro formula, a periferia morre. Essa estrutura revela o verdadeiro compromisso do Estado com as Forças Armadas. O pacto é simples: estabilidade em troca de autonomia. O exército preserva sua influência, sua estrutura corporativa, seus privilégios e seu papel de árbitro; em troca, garante que a república não seja atravessada por forças populares incontroláveis. Esse pacto, firmado na transição democrática e reafirmado por todos os governos subsequentes, é a espinha dorsal do regime. Ele explica por que a militarização da política é tão profunda e por que as chacinas se repetem com regularidade burocrática. O Estado aprendeu a governar pela exceção.
Em meio a essa engrenagem, o povo é o material de sacrifício. Cada operação policial é um ato litúrgico: celebra a união da nação em torno da violência e renova a fé nas instituições. A imagem de soldados patrulhando favelas, de helicópteros cruzando os céus e de blindados nas ruas serve como espetáculo de poder. O medo torna-se a cola ideológica da sociedade. O trabalhador, o morador, o corpo negro e pobre, são o preço da estabilidade. O Estado, ao matar, reafirma sua legitimidade. Enquanto a sociedade continuar acreditando que a mudança virá de dentro dessa estrutura, a guerra continuará sendo a política oficial. O compromisso do governo federal com as forças armadas é o compromisso do capital com sua própria guarda. O papel do governador é o de gestor local da violência. E o papel do povo, imposto pela força, é o de espectador e vítima. O verdadeiro combate não se trava entre Estado e tráfico, mas entre dominação e emancipação, entre vida e morte. E, nesse campo, o Estado escolheu seu lado há muito tempo.