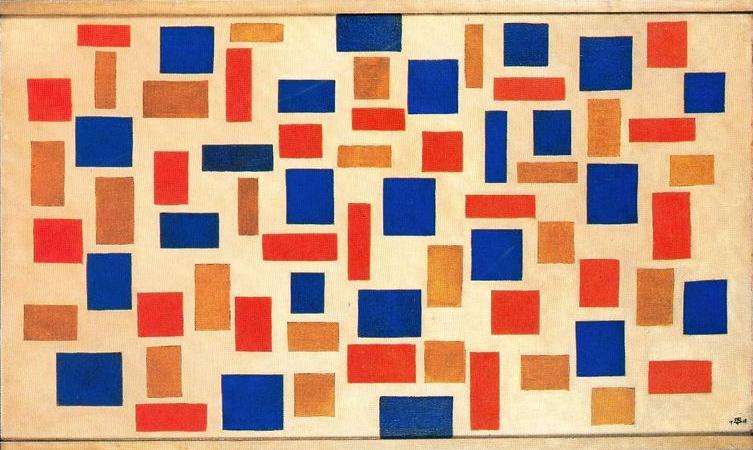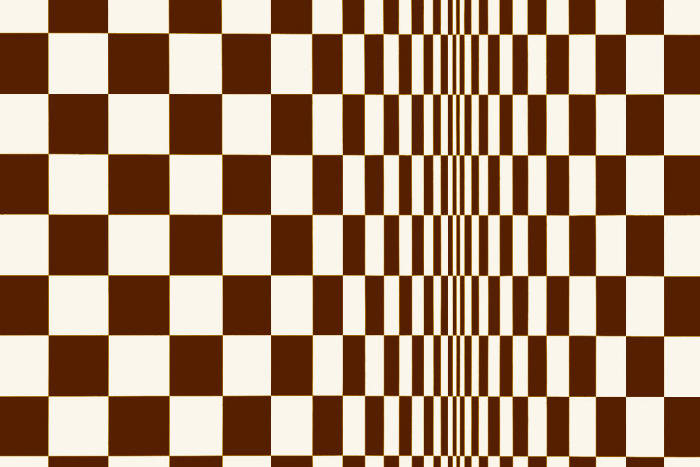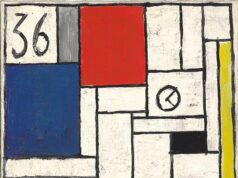Por Ronja Mälström
“Riot. Strike. Riot : The New Era of Uprisings” foi o livro que consagrou Joshua Clover como um dos principais pensadores contemporâneos sobre revoltas (riots) como métodos de luta política. Mantendo-se fiel às questões que teoriza, Clover acredita que teoria e prática não devem estar tão distantes uma da outra, ao contrário do que o meio acadêmico muitas vezes sugere. Por exemplo, Clover oferece treinamentos sobre “Conheça seus direitos” para pessoas que têm pouca experiência e não conhecem os riscos legais dos protestos — ele não é alheio aos métodos de luta que analisa.
Na conversa a seguir, Ronja Mälström faz a Clover todas as perguntas, por mais simples que fossem, que ela gostaria de ter feito antes de ler o livro dele. Como você verá, Clover argumenta convincentemente por que as greves (strikes) não são mais a principal forma de luta e sobre a importância de explorar métodos políticos que alguns podem considerar desconfortáveis ou perigosos. Sua perspectiva oferece uma estrutura para entendermos as formas pelas quais as pessoas lutam por justiça e pela paz, tanto hoje quanto historicamente. Começando pelo motivo pelo qual as pessoas lutam, em primeiro lugar.
JOSHUA CLOVER: Minha primeira regra absoluta é que as pessoas enfrentam seus problemas onde estão. Eu não ofereço soluções prontas, nem digo: “Não, vá para lá e faça isso”. As pessoas lutam onde estão. Se você odeia seu trabalho e ele te deixa infeliz, você luta nesse espaço para mudar isso. Minha impressão é que as pessoas estão em um lugar diferente agora do que estavam na década de 1950. A era do industrialismo, do trabalho fabril, declinou, especialmente no Ocidente superdesenvolvido. Para cada vez mais pessoas, o lugar onde encontram sua própria infelicidade é frequentemente fora do trabalho, e o lugar onde elas podem ter alguma influência para mudar o mundo também é frequentemente fora do trabalho. Então, vemos mais lutas fora do ambiente de trabalho. Este é o contexto social onde eu acho que as revoltas acontecem. Para mim, o que categorizamos como uma revolta está ligado a um contexto social e histórico muito amplo.
RONJA MÄLSTRÖM: Como podemos então dar sentido a essa categoria? Por que ocorre uma revolta, como ocorre uma revolta, quando ocorre uma revolta?
Meu objetivo era criar uma categoria que abrangesse diversos tipos de eventos, em vez de uma categoria específica e restrita. Acho que há quem olhe para uma determinada revolta e diga: “Isso não é uma revolta, é um levantamento, é uma insurreição”, para lhe conferir mais legitimidade política. Mas, na minha opinião, todos são politicamente importantes, certo? Não quero selecionar algumas formas e deixar outras de lado — dizer “essa não conta, não faz parte da vida política”. Eu queria incluir tudo o que faz parte da vida política. O que eu não queria era discutir sobre palavras. Simplesmente aceitei a palavra comum “riot”[1] e decidi tentar resgatá-la como categoria política.
O termo sofisticado que criei é “lutas da circulação”. Não preciso me aprofundar na economia política desse termo, exceto para dizer que “circulação” significa, mais ou menos, o mercado. Não apenas o supermercado literal, mas o mundo onde trocamos mercadorias, compramos e consumimos coisas para tentar sobreviver. Especialmente para pessoas que não têm um emprego fixo, que trabalham em casa ou, em geral, que não têm oportunidade de lutar no ambiente de trabalho. Elas ainda podem estar tendo dificuldades para sobreviver, conseguir comida para suas famílias, sentir-se seguras da polícia. Todas as coisas que acontecem na praça pública e no mercado, é lá que elas vão lutar. E é isso que uma revolta representa para mim. Qualquer tipo de luta que se desenrola nesse espaço. O mercado, a praça pública, o espaço de troca, de transporte, de consumo.
As pessoas que lutam ali podem ser trabalhadores, mas não estão se apresentando como trabalhadores. Esse é um ponto crucial. Eu posso ter um emprego, mas se eu bloquear uma rodovia porque quero paralisar o mundo porque a situação é intolerável, não estou fazendo isso como trabalhador, mas sim como alguém que pode bloquear uma rodovia. Esses são os parâmetros da categoria que uso para definir revolta — é uma definição bastante ampla, como você pode ver. Espero que isso comece a responder à sua pergunta.
Com certeza, entendo como isso inclui métodos como ocupações, bloqueios e inúmeras outras formas de luta.
Isso é importante. Se você reduzir as revoltas a “pessoas quebrando janelas”, não será explicado nada do que está acontecendo ou como a história mudou. Mas se você começar a observar todas essas lutas — o bloqueio, a ocupação, a barricada, os tumultos e os saques — todas essas coisas juntas, e como elas mudaram, surgiram e desapareceram, você pode começar a entender uma história de luta.
 Então, temos as lutas da circulação — o que vocês chamam de formas de resistência das quais participamos fora de nossos locais de trabalho e não como trabalhadores. E como você chamaria as lutas no local de trabalho?
Então, temos as lutas da circulação — o que vocês chamam de formas de resistência das quais participamos fora de nossos locais de trabalho e não como trabalhadores. E como você chamaria as lutas no local de trabalho?
Para manter nosso vocabulário pseudotécnico, se chamamos revoltas de “lutas da circulação”, deveríamos chamar as lutas no trabalho de “lutas da produção”. Lutas no local onde você produz bens, serviços ou gera lucros para o seu chefe. A greve é a mais famosa delas, mas não a única. Podemos também pensar na sabotagem e desfalque no local de trabalho, operações-tartaruga e até mesmo participação em reuniões de organização sindical.
Voltando às perguntas bobas, por que as greves têm boa reputação e as revoltas, má reputação?
Depende a quem você pergunta, haha. Em geral, acho que as greves têm maior legitimidade, mesmo entre quem não participa delas. Os participantes geralmente acham que o que estão fazendo é justificado, ou pelo menos espero que sim, seja uma greve ou um protesto.
Na verdade, acho que as pessoas têm um respeito bastante sensato pelo trabalho e pelos sofrimentos inerentes a ele. Elas o compreendem, inclusive as greves, nesse contexto. Muitas pessoas têm experiência com o trabalho, com salários baixos, tédio, exaustão, lesões, assédio do chefe; obrigação de trabalhar quando precisam cuidar da família. Todas essas coisas horríveis do trabalho. Por isso, elas simpatizam com as greves.
As greves muitas vezes foram e são muito violentas, tanto por parte da polícia quanto dos grevistas, ou de ambos. E essa é uma história esquecida. Mas a reputação de serem mais organizadas, mais pacíficas, mais voltadas a uma retirada do que a um ataque, faz com que as pessoas se sintam melhor em relação a elas de muitas maneiras. A greve parece algo passivo. “O que estou fazendo? Não estou trabalhando!” E não há nada que pareça imediatamente agressivo ou ameaçador quando meu vizinho diz: “Não estou trabalhando”.
As revoltas são vistas como caóticas, incontroláveis e voláteis, e você sabe que o bom liberal sempre se oporá a qualquer tipo de luta social que, de alguma forma, ameace chegar à sua porta. Portanto, o caráter indisciplinado de uma revolta, que faz parte de seu poder, também faz parte de sua ameaça e de seu risco. Isso faz com que o centrista, o liberal, seja naturalmente antipático às revoltas.
Só mais uma coisa sobre greves. Em países como a Suécia e a Finlândia, com uma longa história de fortes movimentos operários e de social-democracia, houve muitas ameaças ao direito de greve nos últimos anos e tentativas claras de limitar essa possibilidade. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Como isso se encaixa no contexto geral? Se seguirmos sua posição de que as lutas por direitos circulatórios, ou revoltas, são os principais focos de protesto hoje em dia, mas ao mesmo tempo observarmos que aqueles no poder estão visando as “lutas por direitos da produção”, limitando a possibilidade de greve.
Boa pergunta. Quer dizer, uma razão pode ser que as revoltas já são completamente ilegais. Não dá para torná-las ainda mais ilegais. Embora nos EUA haja grandes esforços para legalizar, por exemplo, atropelar pessoas que bloqueiam a rua. Várias novas leis foram aprovadas, assim como o aumento das penalidades contra protestos de qualquer tipo. Então, acho que é possível tentar criminalizar ainda mais as revoltas.
Parece haver bastante espaço para restringir as proteções legais para uma greve. Então, consigo entender porque isso poderia ser um interesse. Aqui chegamos talvez a um pouco do meu ceticismo, não em relação ao movimento operário histórico, mas em relação aos sindicatos e ao seu funcionamento. Acredito que deixar espaço legal e legitimidade para as greves foi, na verdade, uma estratégia útil para os capitalistas no período de expansão econômica massiva após a Segunda Guerra Mundial. Chamamos isso de “comprar a paz social”. É possível aumentar os salários para que as pessoas continuem indo trabalhar, porque o trabalho gera lucros enormes para os capitalistas e, por isso, há mais espaço para os trabalhadores se movimentarem e conquistarem ganhos correspondentes. Ficou claro que era do interesse do capital ceder a algumas demandas em vez de deixar a economia parar de crescer.
Você diria que mesmo antes do capitalismo já víamos revoltas ao longo da história? E que greves são, na verdade, a nova categoria?
Isso é absolutamente correto. Greves realmente não existiam antes do século XVII. Por outro lado, se observarmos atividades mais ou menos revoltosas, confrontos violentos com as autoridades, com o governo, elas estão quase se tornando “trans-históricas”. Sempre nos dizem para nunca começar uma redação com “Desde o início dos tempos”. Então, estou tentando evitar isso. Mas as lutas antiautoritárias são bastante constantes.
As revoltas camponesas e as revoltas de escravos são categorias humanas, políticas e históricas incrivelmente importantes. Estou tentando diferenciá-las das lutas por circulação, que são mais específicas historicamente e mais restritas. Elas podem parecer muito semelhantes às revoltas camponesas e de escravos, mas acredito que têm uma base diferente. Surgem de algo específico do capitalismo, na forma como ele estrutura os mercados locais e globais e como organiza nossas vidas para o lucro; como nos torna dependentes desses mercados para sobreviver. Na forma como inclui algumas pessoas e exclui outras, e nas formas particulares pelas quais coloca as pessoas umas contra as outras. Portanto, acho útil fazer essa distinção.
Mas também quero chamar a atenção para as semelhanças entre levantes camponeses ou de escravos e revoltas. As lutas pela circulação de mercadorias podem girar em torno do custo de vida, o preço da sobrevivência em um contexto de mercado, mas inevitavelmente envolvem confrontos com a polícia, uma vez que ela aparece. É importante lembrar que a polícia é uma invenção moderna. Nos Estados Unidos, a polícia só surgiu no século XVII ou provavelmente no XVIII. Sua origem está ligada a dois fatores: no Sul, como patrulhas de escravos, e no Nordeste, como forma de disciplinar a mão de obra.
Mas é também nesse sentido que se veem as ligações com todas essas lutas históricas, porque o confronto com a força coercitiva também faz parte dos levantes camponeses e de escravos. O confronto com a polícia conecta o levante de escravos à greve, à revolta. Todas elas têm a ver com a busca pela liberdade. Todas elas têm a ver com a luta no contexto em que se está inserido. Envolvem especificamente a tentativa de superar a força coercitiva que os aprisiona em um determinado modo de vida.
Minha grande referência intelectual, Fredric Jameson [que faleceu entre a realização desta entrevista e sua publicação], escreveu que é preciso sempre ter em mente a continuidade e a ruptura simultaneamente. Esse é o melhor conselho intelectual que já recebi. Aprendi isso em um livro — as pessoas deveriam ler livros.
Tento abordar isso com a sua pergunta, sobre se as revoltas sempre existiram. Há uma ruptura, que é a integração do mercado mundial, o fato de você ter que se vender para comprar mercadorias nesse mercado, mesmo enquanto o grão local é enviado para outro lugar onde pode gerar mais lucro. Isso transforma vidas. Acho que isso merece sua própria história e é diferente dos levantes camponeses e de escravos. Mas, como ambas inevitavelmente envolvem o confronto com forças coercitivas de violência que impõem a sua miséria, também existe uma continuidade.
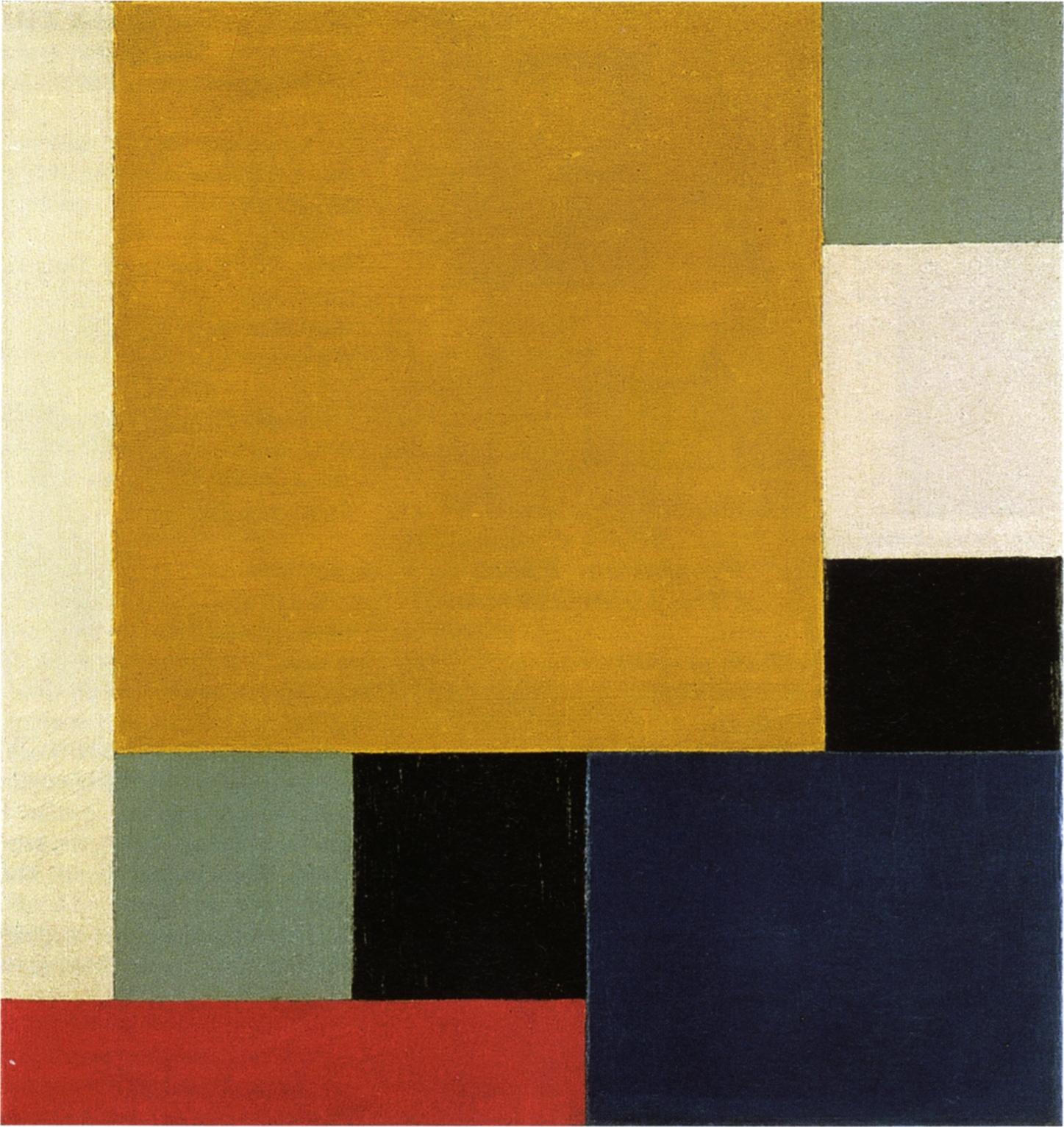 Você disse no início que queria resgatar as revoltas como categoria política. Pelo menos para mim, foi isso que aconteceu. Na época em que seu livro foi lançado, eu estava cercada por amigos que eram muito céticos em relação à ideia de revoltas, dizendo “revoltas não levam a lugar nenhum mesmo”. E, por outro lado, amigos achavam que não precisávamos de nenhuma teoria para as revoltas, mas que “as pessoas simplesmente as fazem”.
Você disse no início que queria resgatar as revoltas como categoria política. Pelo menos para mim, foi isso que aconteceu. Na época em que seu livro foi lançado, eu estava cercada por amigos que eram muito céticos em relação à ideia de revoltas, dizendo “revoltas não levam a lugar nenhum mesmo”. E, por outro lado, amigos achavam que não precisávamos de nenhuma teoria para as revoltas, mas que “as pessoas simplesmente as fazem”.
Eu estava insatisfeita com ambas as posições. Achei que poderíamos encontrar uma maneira de não criar uma lacuna tão grande entre o pensamento e a prática, de integrá-los. Através do seu livro, encontrei uma forma de conversar sobre revoltas com todos os meus amigos a partir de uma perspectiva mais metodológica e menos moralista. Pensando na luta como diferentes ferramentas, e nas revoltas como uma delas, e baseando nossa análise em quando fez sentido para as pessoas usar uma ou outra. Isso foi incrível, obrigada.
Agora, a conexão entre teoria e prática me leva à ideia de comuna, sobre a qual ainda não falamos, mas talvez possamos começar com o básico: o que a comuna significa para você?
Comecei a pensar nisso perto do final do livro. Para o próximo livro em que estou trabalhando, introduzo uma terceira categoria que acompanha as revoltas e greves, e sim, é a comuna.
Reprodução é o nome dado a tudo o que fazemos para que nossos amigos, nossa família e nossa comunidade possam existir de um dia para o outro, de um mês para o outro, de uma geração para a outra. Inclui tudo, desde cozinhar e cuidar uns dos outros até gerar e criar filhos, e tudo o que há entre esses dois extremos. O capitalismo precisa disso porque precisa de trabalhadores e de consumidores. Não se trata de algo para você e para mim, não é para proporcionar uma vida boa para nossos amigos e parentes em nossas comunidades, é para criar consumidores e trabalhadores para o capitalismo. Mas não precisa ser assim — a comuna aponta para essa possibilidade de outra vida.
A produção industrial em uma fábrica pode desaparecer com o fim do capitalismo. Fazer compras no supermercado ou na IKEA é circulação. Isso também é capitalismo, e quando o capitalismo acabar, isso também pode acabar. Mas o nosso cuidado mútuo, cozinhar uns para os outros, gerar e criar filhos juntos não vai acabar. Isso pode ser externo ao capital. Então, todo esse esforço que chamaremos de trabalho reprodutivo para reconstruir nossas comunidades dia após dia, geração após geração, é a base da comuna. Essa atividade é o que a comuna faz. Essa é a vida comunitária. A comuna é apenas um nome para a atividade reprodutiva separada do capitalismo, e acabamos pensando que, bem, isso é algo para o futuro.
Temos exemplos famosos no passado: a Comuna de Paris, mas também a Comuna de Xangai e a Comuna de Morelos durante a Revolução Mexicana, entre várias outras. Mas, na maioria das vezes, pensamos: “Bem, a comuna é algo do futuro. Vamos superar o capitalismo algum dia, mas a comuna não existe no presente.”
Ela existe, sim, no presente. E não me refiro àqueles grupinhos de 12 ricos com barbas e tudo mais que vão morar no campo e dizem que aquilo é um país. Não é disso que estou falando. O que quero dizer quando penso em comuna, e particularmente na comuna como tática, é o seguinte:
Para o meu livro, estou lendo bastante sobre os bloqueios de oleodutos — uma luta clássica da circulação, né? É a circulação desse recurso. Você não chega lá como um trabalhador dizendo “Estou em greve por causa do oleoduto”. Você chega dizendo: “Não vou deixar esse oleoduto passar pela minha terra, meu território, o território dos meus amigos, nossa terra comunitária. Não vou deixar que ele destrua os rios e o solo. Não vou deixar isso acontecer. Vou bloqueá-lo com mil dos meus amigos”. O que acontece?
Se você pretende permanecer lá e manter o bloqueio não apenas na segunda-feira, mas também na terça, quarta, quinta, sexta e pelo resto do ano, algumas coisas precisam acontecer. É preciso começar a cozinhar, então monta-se uma cozinha comunitária. As pessoas precisam descansar. Providenciam-se lugares para dormir e abrigo. As pessoas precisam receber cuidados médicos. Monta-se uma tenda médica e outras estruturas. Isso é o acampamento.
Não se trata de um acampamento de protesto tentando chamar a atenção para algo e dizendo: “Estamos indignados”. É algo muito prático. E o que esse acampamento prático está fazendo? Está fazendo exatamente o que chamávamos de trabalho reprodutivo há pouco tempo. Está fornecendo comida, abrigo, cuidados e comunidade para as pessoas que estão bloqueando o oleoduto. É uma comuna que começa a se formar como parte de uma tática de luta. Está realizando esse trabalho comunitário que identificamos com a comuna ou o trabalho reprodutivo, não para produzir mão de obra para o capitalismo, não para produzir consumidores para o capitalismo, mas para produzir um bloqueio ao oleoduto. E, na verdade, o bloqueio ao oleoduto não existe sem essa pequena comuna, e a comuna não existe sem o bloqueio. Eles estão totalmente ligados. São um só. Não é um ou outro. Você não precisa escolher entre militância e trabalho de cuidado. São a mesma coisa.
É aí que a comuna se encaixa, não como uma visão do futuro, o que é ótimo, mas como uma tática prática no presente em que todos já estamos envolvidos. E como sempre, meu trabalho não é dizer às pessoas o que fazer, mas sim tentar nomear as coisas corretamente, tentar descrever o que já está acontecendo. Os grandes teóricos são as pessoas que estão bloqueando os oleodutos e cuidando dos acampamentos. São eles que estão descobrindo como fazer isso e o que fazer para se libertar, e eu tenho a sorte de ter a oportunidade de tentar pensar sobre isso e formular as ideias em palavras.
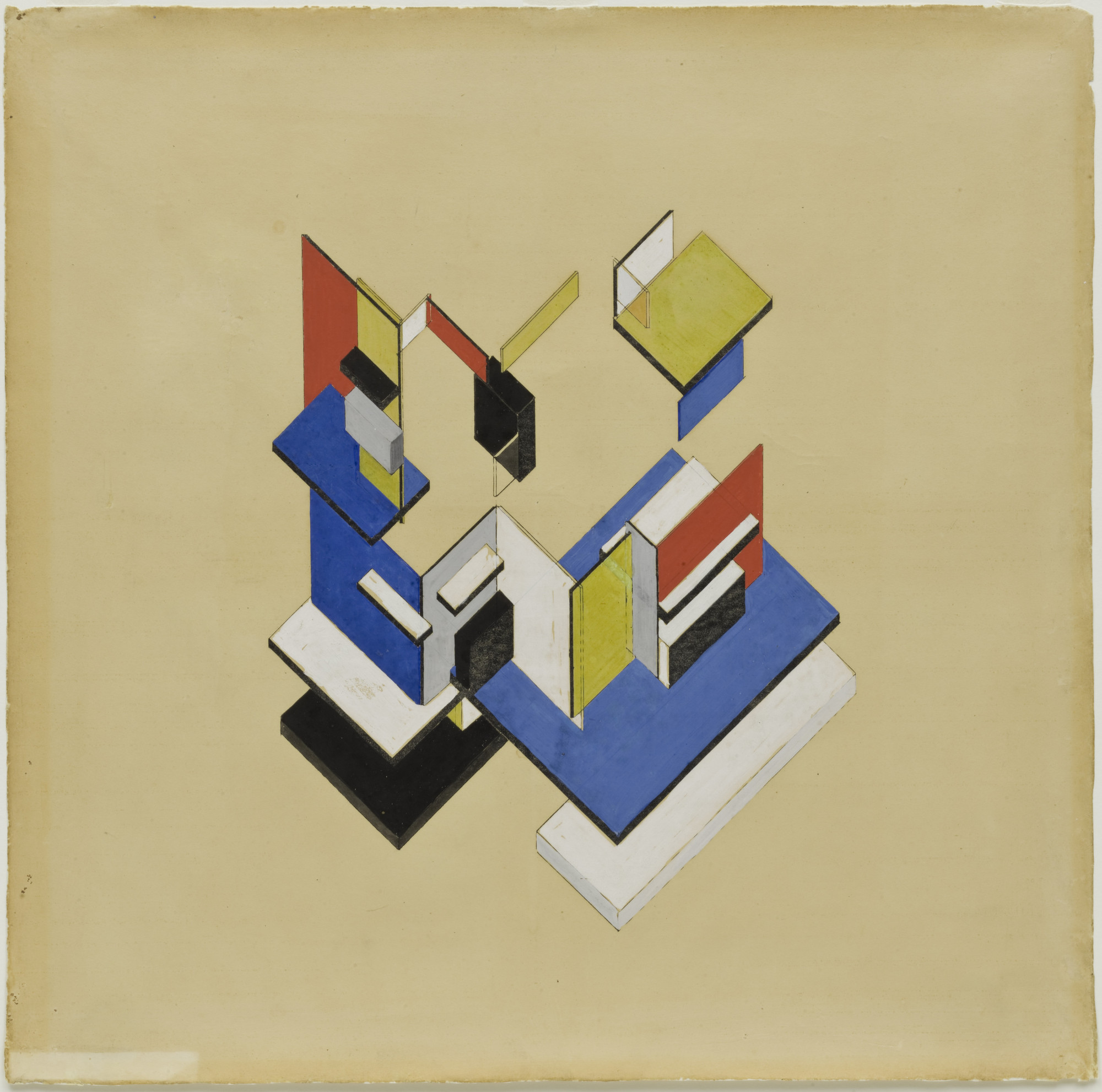 Essa visão da comuna me parece muito promissora, traz esperança. Tenho sentido falta de reflexões sobre continuidade e reprodução relacionadas à luta, nesse sentido.
Essa visão da comuna me parece muito promissora, traz esperança. Tenho sentido falta de reflexões sobre continuidade e reprodução relacionadas à luta, nesse sentido.
Se você não tem salário ou está vinculado a um emprego, não pode fazer greve, ou pode tentar, mas o que vai acontecer? Se você não tem muita saúde, o que acontece com todos nós em algum momento da vida, é difícil participar de uma revolta. Mas como é numa comuna? O que é preciso para fazer parte dela ou para lutar dessa forma?
Essa é uma ótima pergunta, sobre a qual não tenho certeza se refleti tanto quanto deveria, mas acho que você já ofereceu uma maneira útil de pensar a respeito. Se dividirmos, de forma redutiva, todos os tipos de luta no mundo em três categorias: revolta, greve e comuna; ou lutas da circulação, lutas da produção e lutas da reprodução, isso abre um amplo espaço para diversos tipos de atividade. E, idealmente, se pensarmos nelas como parte de uma unidade, em vez de escolhas opostas, isso significa que há muitas maneiras diferentes pelas quais as pessoas podem se posicionar em termos de como desejam participar.
Muitas vezes alguém diz que não, que a única tática correta é esta. Mas, como você apontou, haverá muitas pessoas que dirão que isso não é possível para elas. Mesmo que eu acreditasse nessa tática, mesmo que esse fosse o meu desejo, por vários motivos ela não é possível para mim: por causa de onde moro, da minha situação de cidadania, da minha situação laboral, das minhas capacidades físicas, entre outras coisas. E estar atento ao fato de que nem todas as formas de luta são possíveis para todas as pessoas é fundamental. Se pudermos pensar em todos nós juntos, com nossas diferentes capacidades, formando uma espécie de unidade, isso abre um leque enorme de caminhos que as pessoas podem seguir.
E é por isso que é importante não inventar oposições. Uma das mais destrutivas é o debate entre militância e cuidado. Alguém diz: “Vamos fazer algo muito militante” — algo codificado como militante, algo violento, arriscado ou simplesmente fisicamente ambicioso. E então alguém diz: “Bem, na verdade, deveríamos estar mais atentos ao trabalho de cuidado e nos concentrar nisso, sem cair na armadilha de tentar ser ultrarradicais e assim por diante”. Esse debate é frequentemente marcado por questões de gênero, com a militância codificada como masculina e o trabalho de cuidado como feminino. Mas também evoca outras diferenças, incluindo quem é capaz e de que maneira. Assim, surge uma oposição real entre militância e cuidado, apresentada como um debate ético. Qual é a coisa certa a fazer? E enquanto você escolher uma dessas opções, acabará com um conjunto incompleto de táticas e com pessoas excluídas.
Podemos pensar nessas coisas como uma unidade, como tenho tentado sugerir. A comuna e o bloqueio são um ótimo exemplo. Não se trata de uma coisa contra a outra, elas formam um todo. No fim, quero que as três — revolta, greve, comuna — formem um todo no qual as pessoas possam participar de diversas maneiras. A poetisa Diane di Prima tem um poema que termina com a frase: “Será preciso que todos nós empurremos a coisa por todos os lados para derrubá-la”. Essa é uma forma de colocar a situação.
Outra forma de dizer isso é: é isso que significa uma greve geral. Porque uma greve geral não é, na verdade, uma greve no sentido técnico de paralisação dos trabalhadores; envolve muito mais coisas. Greve geral é o nome dado quando a revolta, a greve e a comuna acontecem simultaneamente. É isso que a greve geral realmente é. E esse é o dia, a semana ou o ano em que haverá um papel para todos.
Obrigado, Joshua Clover. Chegar à greve geral é a maneira perfeita de encerrar esta entrevista e mal posso esperar que esse ano chegue. Você deu pistas essenciais sobre como compreender as várias formas de luta possíveis — ou impossíveis — para as pessoas e por que faz sentido usá-las em contextos e momentos específicos. Como você disse, as pessoas lutam onde estão e, idealmente, todas as diversas táticas juntas criam uma unidade.
Aguardo ansiosamente seu livro sobre a comuna [2], para entender ainda melhor essa tática nos dias de hoje. Só a ideia de algo que permanecerá mesmo após o fim do capitalismo já é poderosa.
As futuras revoltas, greves e comunas promovidas por aqueles que vocês chamam de “grandes teóricos” terão uma aparência um pouco diferente para mim, agora que tenho um arcabouço que permite conectar todos os pontos.
Ronja Mälström é escritora e editora do Turning Point. Ela se dedica a temas como comunidades organizadas, movimentos de resistência e alternativas para uma vida além do capitalismo e do patriarcado.
Notas
[1] Riot em inglês possuem um sentido que seria melhor traduzido como uma revolta na forma de um tumulto ou motim. Uma ação de uma multidão indignada que age normalmente nas ruas enfrentando forças do Estado, muitas vezes danificando propriedade. Traduzimos riot por revolta, embora revolta não carregue o sentido negativo que riot possui na sociedade (Nota do Tradutor).
[2] Joshua Clover faleceu em abril de 2025, o livro sobre a comuna que eles estava escrevendo acabou não sendo publicado (Nota do Tradutor).