Não devemos avaliar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra exclusivamente pelo o que ele pensa de si mesmo. Tampouco devemos pretender enquadrar o Movimento em declarações oficiais de “lideranças”. O Movimento está, efetivamente, em movimento. Por André Villar, Felipe Brito, Maurilio Botelho e Pedro Rocha [**]
Por dentro e por fora é uma série de artigos de debate sobre as lutas e os movimentos sociais, da iniciativa conjunta de Paulo Arantes e do coletivo Passa Palavra. Série aberta a um amplo leque de colaboradores individuais, convidados ou espontâneos, mais ou menos empenhados (ou ex-empenhados) nas lutas concretas, que ajude a aprofundar diagnósticos sobre a sociedade que vivemos, a cruzar experiências, a abrir caminhos – e cujos critérios seletivos serão apenas a relevância e a qualidade dos textos propostos.
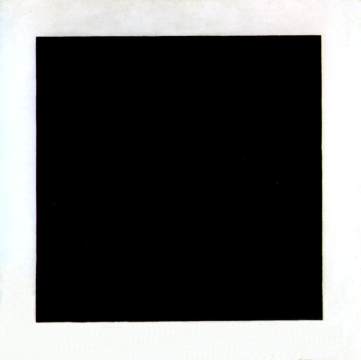 Na condição mui apreciável de “professores de filosofia” fomos lecionar para uma turma de Licenciatura em Educação no Campo, formada por militantes de movimentos sociais variados, mas, sobretudo, do MST. Tal licenciatura resultou de um dos diversos convênios instaurados entre o Movimento e as universidades públicas brasileiras, cujo número já ultrapassa, segundo consta, a casa dos setenta, com a ressalva de que os cursos de graduação ainda são extremamente minoritários e, quando aprovados, objetos de empedernida resistência nos castelos universitários. A licenciatura em questão foi criada por um convênio entre a UnB e o Iterra – instituição mantida pelo Movimento, com o intuito de captar recursos capazes de bancar os cursos promovidos pelo Instituto de Educação Josué de Castro. A apropriação dos espaços oficializados do saber pelo Movimento é coetânea às tentativas (ainda germinais, mas muito importantes) de consolidação de espaços autônomos de produção da crítica social. Talvez essas tentativas estivessem mais avançadas se o deslumbramento com a(s) ontologias(s) do trabalho(s) ─ importada(s) das contendas e querelas acadêmicas ─ e uma certa aquiescência diante das universidades (em parte, calculada, sabemos) fossem problematizados (ou, pelo menos, mais problematizados).
Na condição mui apreciável de “professores de filosofia” fomos lecionar para uma turma de Licenciatura em Educação no Campo, formada por militantes de movimentos sociais variados, mas, sobretudo, do MST. Tal licenciatura resultou de um dos diversos convênios instaurados entre o Movimento e as universidades públicas brasileiras, cujo número já ultrapassa, segundo consta, a casa dos setenta, com a ressalva de que os cursos de graduação ainda são extremamente minoritários e, quando aprovados, objetos de empedernida resistência nos castelos universitários. A licenciatura em questão foi criada por um convênio entre a UnB e o Iterra – instituição mantida pelo Movimento, com o intuito de captar recursos capazes de bancar os cursos promovidos pelo Instituto de Educação Josué de Castro. A apropriação dos espaços oficializados do saber pelo Movimento é coetânea às tentativas (ainda germinais, mas muito importantes) de consolidação de espaços autônomos de produção da crítica social. Talvez essas tentativas estivessem mais avançadas se o deslumbramento com a(s) ontologias(s) do trabalho(s) ─ importada(s) das contendas e querelas acadêmicas ─ e uma certa aquiescência diante das universidades (em parte, calculada, sabemos) fossem problematizados (ou, pelo menos, mais problematizados).
O Iterra ocupa uma parte de um prédio monstruoso, misto de pavilhão soviético e monastério medieval, de propriedade de alguns padres que, não mais o utilizando, cederam uma parte para o MST, outra para secretaria de Educação do município e alugaram o resto. O prédio, muito antigo, tem bruscas diferenças de temperaturas em seu interior. Deve ter sido uma enorme estrutura a assustar a cidade de Veranópolis, no passado. Hoje, com prédios de apartamento de cinco e seis andares brotando em várias partes da cidade, o velho mosteiro não destoa tanto, mas ainda assim é discrepante frente à arquitetura de classe média, encarnada nos novos edifícios estilizados.
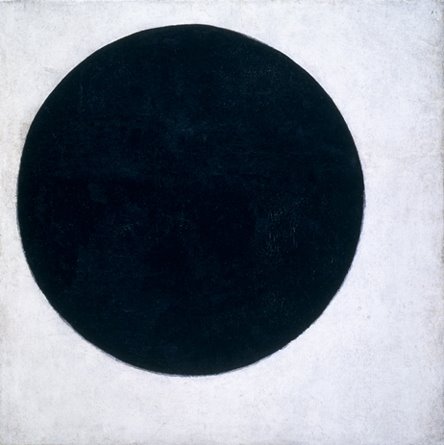 A cidade de Veranópolis pareceu-nos, pelo menos o seu centro urbano, uma réplica potemkiniana, incrustada na Serra Gaúcha: ruas largas e retas, equipamentos urbanos novos e limpos, calçadas organizadas, grande volume de carros para uma população tão pequena, prioridade ao pedestre na travessia (sic) e lojas estilizadas para todos os lados. Algo em torno de uma utopia interiorana norte-americana dos anos 50, daquelas que Jameson, em algum texto, comentou que se tornou a imagem idealizada do passado nas utopias negativas direcionadas ao futuro. Para arranhar a total integração sócio-urbanística da orgulhosa “cidade da longevidade”, esbarramos com uma senhora sem-teto, muito agasalhada, que enfrentava o frio de 10 graus recolhendo-se debaixo de marquises. Numa tarde, tivemos a oportunidade de presenciar, na nossa “deriva” pós-almoço, a senhora sem-teto gesticulando raivosamente com algum espectro que a atormentava e esbravejando as seguintes palavras: “Negro safado”. Para uma cidade basicamente composta por descendentes de europeus (italianos, poloneses e alemães), não nos parece exagerado enxergar no racismo uma mobilização dos problemas sociais sedimentados na subjetividade. Aprofundando uma das derivas diárias, encontramos um boteco e uma apropriaçãozinha do espaço urbano discrepante com a bitola potemkiniana. Sob tal epiderme seria um ponto inicial de periferia veranopolitana?
A cidade de Veranópolis pareceu-nos, pelo menos o seu centro urbano, uma réplica potemkiniana, incrustada na Serra Gaúcha: ruas largas e retas, equipamentos urbanos novos e limpos, calçadas organizadas, grande volume de carros para uma população tão pequena, prioridade ao pedestre na travessia (sic) e lojas estilizadas para todos os lados. Algo em torno de uma utopia interiorana norte-americana dos anos 50, daquelas que Jameson, em algum texto, comentou que se tornou a imagem idealizada do passado nas utopias negativas direcionadas ao futuro. Para arranhar a total integração sócio-urbanística da orgulhosa “cidade da longevidade”, esbarramos com uma senhora sem-teto, muito agasalhada, que enfrentava o frio de 10 graus recolhendo-se debaixo de marquises. Numa tarde, tivemos a oportunidade de presenciar, na nossa “deriva” pós-almoço, a senhora sem-teto gesticulando raivosamente com algum espectro que a atormentava e esbravejando as seguintes palavras: “Negro safado”. Para uma cidade basicamente composta por descendentes de europeus (italianos, poloneses e alemães), não nos parece exagerado enxergar no racismo uma mobilização dos problemas sociais sedimentados na subjetividade. Aprofundando uma das derivas diárias, encontramos um boteco e uma apropriaçãozinha do espaço urbano discrepante com a bitola potemkiniana. Sob tal epiderme seria um ponto inicial de periferia veranopolitana?
Deixando de lado a digressão urbanística e sociológica e retornando ao prédio, onde muito banho frio e autoflagelação devem ter sido praticados em nome da pureza do espírito, foi possível constatarmos um desnecessário mimetismo da escola burguesa por parte do Instituto de Educação Josué de Castro. Causou-nos algum espanto: ainda mais quando a ênfase dada ao discurso vivo de construção de um “saber próprio” é perpassado por referências pedagógicas pistrakianas e makarenkianas (Paulo Freire, “ultra-revolucionário” frente a esses teóricos da pedagogia do trabalho, quase não apareceu nas discussões ou referências). Mais até do que em Guararema, na Escola Nacional Florestan Fernandes, onde a organização dos alojamentos e dos espaços de convivência já provocam um início de ruptura na relação enrijecida professor-alunos, em Veranópolis existem alojamentos e salas específicas para professores (sejamos francos, os dormitórios também estavam sendo utilizados por alunos), e até a organização do tempo distingue momentos específicos para os professores se alimentarem antes dos alunos.
O tempo, aliás, medida da abstração tautológica burguesa, é aqui erigido como uma norma absoluta e, literalmente, mantendo viva a tradição beneditina dos mosteiros medievais do Ora et labora, não deixa nenhuma brecha para o “livre desenvolvimento da individualidade”: mesmo o tempo das atividades recreativas acaba sendo tutelado, como pudemos perceber com a “educação física”, onde se escolhe jogar futebol (homens e mulheres juntos, pelo menos), capoeira ou caminhada pelos arredores potemkinianos. O domingo, dia santificado do descanso, como os próprios alunos expressaram, acaba se tornando tão cansativo quanto os demais, pois o acúmulo de tarefas (fichamentos, leituras etc.) acaba transbordando. Numa conversa com algumas “alunas” brotou a expressão “ócio produtivo”. Mas, esse questionamento não foi tão presente se comparado às nossas experiências em Guararema, nos cursos das Comissões Político-pedagógicas, onde até mesmo nossa posição privilegiada de “professor” ─ que nos livra do “trabalho manual” executado na Escola, como, por exemplo, na limpeza e na horta ─ foi questionada.
 Não estamos, aqui, evocando um voluntarismo guevarista, onde se integra forçosamente o corte de cana pela manhã e a leitura teórica à tarde, ou exigindo um obreirismo tardio, supostamente apto a “formar” o intelectual pequeno-burguês com mãos finas de pianista. Entretanto, consideramos importante sinalizar que um processo de transformação social deve romper com as “separações” burguesas ─ algo, aliás, presente (com centralidade) no nosso “programa de filosofia” e nas discussões intra e extra-classes. Nessa perspectiva, problematizar a “pedagogia do trabalho” no bojo de uma reflexão sobre a reinvenção da vida social, parece-nos premente, ainda que, infelizmente, acabe por parecer uma imposição “de fora”.
Não estamos, aqui, evocando um voluntarismo guevarista, onde se integra forçosamente o corte de cana pela manhã e a leitura teórica à tarde, ou exigindo um obreirismo tardio, supostamente apto a “formar” o intelectual pequeno-burguês com mãos finas de pianista. Entretanto, consideramos importante sinalizar que um processo de transformação social deve romper com as “separações” burguesas ─ algo, aliás, presente (com centralidade) no nosso “programa de filosofia” e nas discussões intra e extra-classes. Nessa perspectiva, problematizar a “pedagogia do trabalho” no bojo de uma reflexão sobre a reinvenção da vida social, parece-nos premente, ainda que, infelizmente, acabe por parecer uma imposição “de fora”.
Nosso programa de “filosofia” tinha por objetivo básico expor e analisar os passos que levaram Marx à crítica da economia política, marcando o momento importante de sua tensa relação com Hegel e Feuerbach. Tratava-se, tematicamente, de demonstrar o percurso da alienação religiosa feuerbachiana até o fetichismo da mercadoria, passando pela “aplicação” do conceito de alienação ao Estado e ao dinheiro. O curso iniciava, portanto, com uma explanação sobre a herança hegeliana (direita e esquerda hegelianas), seguia pela crítica do Estado no jovem Marx até chegar à crítica da economia política “propriamente dita”, onde o automovimento do valor determina de modo fetichista o processo social de produção ─ o conceito de fetichismo se desenrolou tematicamente através de cinco “níveis”: representações invertidas em relação ao processo social (aparência x essência); relação de pessoas através de coisas; reificação de pessoas e personalização das coisas; autonomização do processo social; relação da coisa consigo mesma, cujo paroxismo encontra-se na fantasmagoria objetivada do capital fictício.
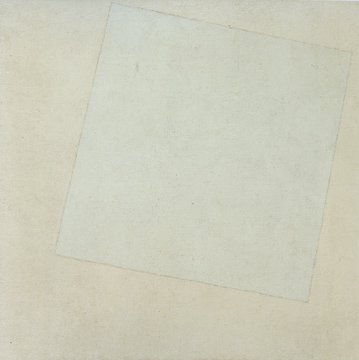 Embora aparentemente “cabeludo”, avaliamos que o programa surtiu efeitos: foram três dias seguidos de aulas, onde basicamente giramos conceitualmente sempre ao redor do mesmo tema, só “escapando” para contextualização histórica e fartos exemplos empíricos da desgraceira burguesa. Fazemos essa auto-avaliação comparando com o mesmo tema desenvolvido (quase que às pressas) em apenas dois dias em Guararema, ano passado, onde não foi tão bem recepcionado. Para além de uma melhor aptidão para apresentar a temática, devemos destacar, prioritariamente, a homogeneidade da turma: diferente da Escola Florestan Fernandes, onde havia militantes de origens diversas e formação totalmente distintas (graduados ao lado de pessoas apenas alfabetizadas), tratava-se agora de uma turma de graduação. Que isso, em hipótese alguma, não signifique um elogio às turmas seriadas, dado que a experiência em Guararema também foi bastante proveitosa, por outros termos. Todavia, o critério burguês de semi-formação é ainda uma forte limitação para o diálogo e o desenvolvimento de determinadas questões complexas, com elevado grau de obscuridade, da crítica da economia política.
Embora aparentemente “cabeludo”, avaliamos que o programa surtiu efeitos: foram três dias seguidos de aulas, onde basicamente giramos conceitualmente sempre ao redor do mesmo tema, só “escapando” para contextualização histórica e fartos exemplos empíricos da desgraceira burguesa. Fazemos essa auto-avaliação comparando com o mesmo tema desenvolvido (quase que às pressas) em apenas dois dias em Guararema, ano passado, onde não foi tão bem recepcionado. Para além de uma melhor aptidão para apresentar a temática, devemos destacar, prioritariamente, a homogeneidade da turma: diferente da Escola Florestan Fernandes, onde havia militantes de origens diversas e formação totalmente distintas (graduados ao lado de pessoas apenas alfabetizadas), tratava-se agora de uma turma de graduação. Que isso, em hipótese alguma, não signifique um elogio às turmas seriadas, dado que a experiência em Guararema também foi bastante proveitosa, por outros termos. Todavia, o critério burguês de semi-formação é ainda uma forte limitação para o diálogo e o desenvolvimento de determinadas questões complexas, com elevado grau de obscuridade, da crítica da economia política.
Nossa atenção principal ao desenvolver essa temática foi apresentar o capitalismo como um sistema social impulsionado por uma lógica automática, autonomizada frente aos sujeitos, que carrega um inerente ímpeto destrutivo. O burguês foi, volta e meia, apresentado não apenas como um mero sujeito dotado de “vontade de exploração”, mas como parte integrante deste automatismo (abominavelmente, privilegiada, decerto) e, portanto, também objeto dessa desgraceira social. Citações freqüentes de Marx, textos lidos e destrinchados impediram desconfianças sobre essa abordagem (isso foi realmente impressionante, ainda mais se considerarmos a participação de lideranças regionais do movimento). Como exemplo, podemos citar um parágrafo de Salário, preço e lucro (p. 138, da edição “Economistas”): “sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos, o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites”. Um dos “alunos” mais participantes, um senhor provavelmente na faixa de quarenta anos, chegou mesmo a comentar, usando o exemplo atual da crise das fusões bancárias, que muitos burgueses eram expulsos da ciranda econômica.
Importante para a consolidação de toda essa discussão foi a leitura prévia, indicada por algum professor (provavelmente o responsável pela parte de “Economia Política”) de Para além do capital, de Mészàros, o remanescente marxista da Escola de Budapeste que deu sobrevida ao “marxismo ortodoxo”, mas teve o mérito de assinalar a problemática do limite objetivo do capital – o automovimento do capital culmina com a corrosão de seus próprios fundamentos sociais, arrastando a humanidade e a natureza nesse redemoinho mórbido. Trabalhando com uma questionável separação entre “capital” e “capitalismo”, o húngaro colaborou com o desenvolvimento da nossa argumentação, já que o exemplo do “socialismo real” servia de demonstração de uma sociedade que aboliu os capitalistas, mas continuou presa às categorias sociais burguesas. Um dos militantes mais participativos até sugeriu o relacionamento do governo Lula com o automatismo burguês, ressaltando não bastar apenas a “troca do conteúdo de classe” do governo.
 Digna de registro, ainda, foi a explosão, no último dia de aula, da discussão sobre gêneros, responsável por um salutar “acirramento de ânimos” no interior da turma, composta majoritariamente por jovens mulheres, algumas delas com filhos ─ muitas vezes uma mãe ia ao fundo da sala para amamentar o bebê, trazido da “ciranda” [1]. A discussão foi suscitada por algum comentário lateral de um dos alunos e em seguida foi polarizada por uma jovem de São Paulo (simpatizante do anarquismo, segundo suas próprias declarações extra-classes) que argumentava que a “dominação masculina” continuava presente no capitalismo atual e o senhor já citado, insistindo que o modelo tradicional de família baseado na exploração do “trabalho doméstico” feminino tinha sido superado. O debate foi tão acirrado que membros da turma, pouco participativos até então, pediram a palavra nesse momento. O auge de toda a discussão foi atingido quando uma das jovens mães direcionou o debate não apenas para o interior do movimento (onde persiste a posição subordinada da mulher), mas para as relações monetárias familiares (“a mulher precisa pedir ao marido autorização para gastar o dinheiro ganho conjuntamente”). Além do mais, a jovem paulistana, com sagaz ironia, sumariamente definiu o casamento atual como a “união de misérias” – um expediente frente à precariedade da existência atual.
Digna de registro, ainda, foi a explosão, no último dia de aula, da discussão sobre gêneros, responsável por um salutar “acirramento de ânimos” no interior da turma, composta majoritariamente por jovens mulheres, algumas delas com filhos ─ muitas vezes uma mãe ia ao fundo da sala para amamentar o bebê, trazido da “ciranda” [1]. A discussão foi suscitada por algum comentário lateral de um dos alunos e em seguida foi polarizada por uma jovem de São Paulo (simpatizante do anarquismo, segundo suas próprias declarações extra-classes) que argumentava que a “dominação masculina” continuava presente no capitalismo atual e o senhor já citado, insistindo que o modelo tradicional de família baseado na exploração do “trabalho doméstico” feminino tinha sido superado. O debate foi tão acirrado que membros da turma, pouco participativos até então, pediram a palavra nesse momento. O auge de toda a discussão foi atingido quando uma das jovens mães direcionou o debate não apenas para o interior do movimento (onde persiste a posição subordinada da mulher), mas para as relações monetárias familiares (“a mulher precisa pedir ao marido autorização para gastar o dinheiro ganho conjuntamente”). Além do mais, a jovem paulistana, com sagaz ironia, sumariamente definiu o casamento atual como a “união de misérias” – um expediente frente à precariedade da existência atual.
Quanto à discussão, a nosso ver central, sobre as possibilidades de emancipação em relação às categorias burguesas objetivadas (dinheiro, mercadoria, Estado etc.), o debate não foi tão intenso quanto em Guararema, onde exemplos do próprio movimento brotaram (produção autônoma de alimentos, distribuição não-mercantil, brigadas de construção de casas e equipamentos agrícolas etc.), mas o próprio cuidado em discutir tal assunto pareceu ser um resultado da maturidade teórica ─ ao utilizarmos o exemplo muito limitado da produção autônoma de verduras e do aquecimento solar de água existente na Escola Florestan Fernandes, uma das “alunas” comentou que os professores estavam “idealizando” o movimento, pois o MST, em sua prática cotidiana seria “muito mais limitado” em relação a esses temas.
Por fim, é interessante destacar o impacto provocado em nossos interlocutores por uma leitura “envenenada” da “filosofia”, que não fica adstrita ao “mundo especulativo”. Embora tenhamos frisado desde o primeiro momento que Marx, a rigor, não faz “Filosofia” ou “Economia Política”, mas crítica da filosofia e crítica da economia política, a recepção de todas as discussões foi muito boa, a partir da demonstração de que a “filosofia” pode conter elementos capazes de criticar e explicar os processos sociais mais “evidentes”, “habituais”, “comezinhos”.
 Enfim, nossa descrição de tudo isso não intenciona idealizar um movimento social específico, até porque nosso contato, até agora, é superficial e restrito a cursos internos de formação de militantes ou a cursos conveniados com universidades. Contudo, uma característica pulsante do MST, merecedora de privilegiada atenção em nome de uma apreensão adequada do movimento, diz respeito à divergência de posições entre as “bases” e as “lideranças”, e entre as próprias “bases”. A tentativa constante de criar seus próprios “intelectuais orgânicos” e de propiciar às “bases” reflexões teóricas diversas e aprofundadas permite que, nesse processo, até mesmo os cânones do movimento sejam questionados (um dos “alunos” havia comentado, em certo momento, que a condição do próprio camponês estava em xeque com a automatização da agricultura). Um outro aspecto crucial a ser enfocado, refere-se à maior preocupação em sustentar uma forma de organização capaz de impor uma tensão constante ao Estado e ao mercado, em detrimento da ânsia pela “tomada de poder”, tratada como o “marco zero” da construção do socialismo.
Enfim, nossa descrição de tudo isso não intenciona idealizar um movimento social específico, até porque nosso contato, até agora, é superficial e restrito a cursos internos de formação de militantes ou a cursos conveniados com universidades. Contudo, uma característica pulsante do MST, merecedora de privilegiada atenção em nome de uma apreensão adequada do movimento, diz respeito à divergência de posições entre as “bases” e as “lideranças”, e entre as próprias “bases”. A tentativa constante de criar seus próprios “intelectuais orgânicos” e de propiciar às “bases” reflexões teóricas diversas e aprofundadas permite que, nesse processo, até mesmo os cânones do movimento sejam questionados (um dos “alunos” havia comentado, em certo momento, que a condição do próprio camponês estava em xeque com a automatização da agricultura). Um outro aspecto crucial a ser enfocado, refere-se à maior preocupação em sustentar uma forma de organização capaz de impor uma tensão constante ao Estado e ao mercado, em detrimento da ânsia pela “tomada de poder”, tratada como o “marco zero” da construção do socialismo.
Ora, o MST não é alheio ao Estado (nem poderia ser, tendo em vista os vínculos capilarizados de financiamento e recursos provenientes desde o Incra até o Ministério da Educação), nem alheio ao mercado (já que as fontes básicas de “integração” dos assentamentos vinculam-se a pequenos fornecedores de alimentos para o mercado e, agora – que perigo!! ─, a pequenos fornecedores de cana e grãos para a produção de agrocombustível). Contudo, uma diferença em relação aos partidos políticos de esquerda e a outros movimentos sociais organizados é que estão dadas, em suas próprias condições de reprodução (executada, ainda, através do mercado e mediada pelo Estado), as potencialidades de desenvolvimento de “formas embrionárias” (Marx) pós-estatais e pós-mercantis.
Não devemos avaliar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra exclusivamente pelo o que ele pensa de si mesmo. Tampouco devemos pretender enquadrar o Movimento em declarações oficiais de “lideranças”. O Movimento está, efetivamente, em movimento – permitam-nos a redundância! São patentes os freios advindos de entulhos nacionais-estatistas-desenvolvimentistas-circulacionistas. Contudo, nem tão patente assim, despontam incômodos e desencaixes perante as tutelas do capital e do seu invólucro institucional ─ o Estado ─, que ainda não conseguiram engendrar uma práxis anti-capitalista, alternativa à hegemônica e oficializada no interior do Movimento.
 Assim, as discussões fomentadas no MST (agroecologia, sementes crioulas etc.) formam uma contribuição indispensável ao empenho inicial de “escape” da lógica absurda e destrutiva do mercado. Isso o torna uma “base” imprescindível para pensar o impensável, isto é, o “êxodo da sociedade de mercado”. Os estorvos impingidos à vida social contemporânea obrigam-nos a orientar, num primeiro momento, a desconexão da economia de mercado pela produção de bens de consumo, o contrário do caminho histórico traçado pelo “socialismo real”, que colocava a produção de meios de produção (D1) na base de toda a autonomia do “Estado proletário”. Com isso, o momento posterior de “produção de meios de produção” (logicamente não muito distante) deve, a partir da experiência acumulada, se orientar contra a estrutura burocratizada, especializada e megalomaníaca da indústria burguesa (e soviética). As necessidades de uma produção autônoma de bens de consumo, por sua vez, devem ditar as próprias necessidades da produção dos “bens de capital, energia e equipamentos”, que não precisaria mais ser regida por uma lógica de gigantismo (a produção de energia elétrica, por exemplo, não precisará mais se orientar pela monstruosidade das usinas).
Assim, as discussões fomentadas no MST (agroecologia, sementes crioulas etc.) formam uma contribuição indispensável ao empenho inicial de “escape” da lógica absurda e destrutiva do mercado. Isso o torna uma “base” imprescindível para pensar o impensável, isto é, o “êxodo da sociedade de mercado”. Os estorvos impingidos à vida social contemporânea obrigam-nos a orientar, num primeiro momento, a desconexão da economia de mercado pela produção de bens de consumo, o contrário do caminho histórico traçado pelo “socialismo real”, que colocava a produção de meios de produção (D1) na base de toda a autonomia do “Estado proletário”. Com isso, o momento posterior de “produção de meios de produção” (logicamente não muito distante) deve, a partir da experiência acumulada, se orientar contra a estrutura burocratizada, especializada e megalomaníaca da indústria burguesa (e soviética). As necessidades de uma produção autônoma de bens de consumo, por sua vez, devem ditar as próprias necessidades da produção dos “bens de capital, energia e equipamentos”, que não precisaria mais ser regida por uma lógica de gigantismo (a produção de energia elétrica, por exemplo, não precisará mais se orientar pela monstruosidade das usinas).
Todos estes apontamentos, que não podem ser pensados detalhadamente a priori, como um “plano” para execução ao estilo socialista, mas no interior do processo mesmo de desconexão, constituem apenas um caminho para refletir sobre as potencialidades contidas num movimento que, às vezes, parece não entender sua própria função nessa situação mundial de início de século XXI, onde considerável parte da esquerda repete, ruidosamente, slogans anacrônicos. Não se trata de querer, de fora, formular a consciência correta para o movimento. Porém, também não se trata de se desvencilhar dessa tarefa, esperando a objetividade dos processos nos conduzir ao portal emancipatório ─ a demanda do movimento por diálogo sinaliza uma dificuldade em se autodefinir, proporcionada pelo desmoronamento categorial capitalista, além de uma pluralidade de concepções emanadas do seu interior: aponta, enfim, a uma abertura para a história… (E ficar com escrúpulos sobre a “consciência de fora” ou queda no “vanguardismo” nessa altura é um moralismo teoricista fora de sentido).
Quem são, afinal, os “sem-terra”? Camponeses? Exército industrial de reserva rural? Neolumpen? Que tipo de práxis são capazes de engendrar? Deixando incólumes suas categorias analíticas, a esquerda tradicional passará ao largo dessas respostas. Transtornados pela dinâmica de colapso, os fenômenos sociais, além da complexidade imanente, passam a ficar confusos, tornando a tarefa de apreensão do real mais hercúlea ainda. As contradições, dificuldades e crise de identidade de um movimento amplo e complexo como o MST é expressão de algo maior do que simplesmente a “crise do socialismo” ou “crise do marxismo” (mais de um milhão de membros, que não são eleitores como as massas mobilizadas pelos partidos de esquerda tradicionais). É uma demonstração de uma nova ordem de problemas que precisam ser resolvidos. Como bem registrou Marx: a humanidade só levanta os problemas que é capaz de resolver ─ o próprio problema, na verdade, só surge quando as condições para resolvê-lo já existem ou estão, pelo menos, em vias de aparecer.
 Não existe nenhuma garantia dada a priori para a emancipação das mulheres e homens da dominação fetichista do capital. O automovimento das coisas, na sua lógica imanente, não nos conduzirá num rumo emancipatório; ao contrário, nos chafurdará cada vez mais no lamaçal de barbárie high-tech. Entretanto, em um mundo no qual a idéia de emancipação futura deixou de ter fundamentos reais, a única fundamentação real para o futuro é a idéia de emancipação.
Não existe nenhuma garantia dada a priori para a emancipação das mulheres e homens da dominação fetichista do capital. O automovimento das coisas, na sua lógica imanente, não nos conduzirá num rumo emancipatório; ao contrário, nos chafurdará cada vez mais no lamaçal de barbárie high-tech. Entretanto, em um mundo no qual a idéia de emancipação futura deixou de ter fundamentos reais, a única fundamentação real para o futuro é a idéia de emancipação.
Notas
[*] O estranho título destas impressões foi inspirado em uma placa de trânsito do município de Veranópolis, RS. Achamos que é uma descrição perfeita de nossa relação ainda colateral, transversal, oblíqua com o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra.
[**] Professores de filosofia do Rio de Janeiro.
[1] A Ciranda é o local destinado às crianças do movimento, enquanto os pais estão envolvidos com as atividades diárias. Para as mulheres, especialmente, é muito importante.
Ilustrações: telas de Kazimir Malevitch.







Segue o texto dos professores de filosofia, que vieram com a Roberta Lobo, e vejam que os caras falam…indicado pelo Manoel e Rafael, que por acaso descobriram que os caras tinham escrito, e nem ao menos para dialogar com a gente.
Vale a pena ler….
É parece que os filósofos acharam seus ratinhos de laboratório e vejam só: somos nós estudantes deste curso. Nós ao menos nos identificamos como classe trabalhadora e sabemos de que lado estamos. Estes que aqui vieram já perderam de mão há muito tempo isso, pois não pisam o mesmo chão no qual pisamos ao lado dos trabalhadores e sendo nós os próprios trabalhadores, mas veja assim já sabemos como os identificar: como a classe oposta a nossa, pois a nossa classe é o que é o mais claro para a sociedade.
Parabéns a esse grupo de filósofos pela diplomacia que aqui tiveram. De fato, esse trabalho escrito que foi feito por eles é o que qualquer revista veja poderia se propor, assim vocês filósofos já tem um mercado garantido para vender a um alto custo o seu produto!!