Por Fagner Enrique
Toda nação é um mito porque o nacionalismo elege um conjunto limitado de tradições culturais que se manifestam com maior ou menor intensidade e regularidade num dado território e cria a partir daí um amálgama cultural oficial e abstrato, o qual supostamente dá forma ao caráter da população que habita este território (caráter este supostamente manifesto na sua visão de mundo, nos seus comportamentos etc.), tendo em vista estabelecer um Estado que (também supostamente) corresponde a este caráter e às aspirações de todos os que ali residem. Deste modo – se seguirmos este raciocínio até os seus desdobramentos finais –, por corresponder às “aspirações gerais da nação”, o Estado nacional nunca é autoritário (perigosa dedução, para os trabalhadores).
Ou seja, toda nação é um mito: ou porque no território submetido à autoridade do Estado nacional não se manifesta uma única tradição cultural, isto é, porque no território submetido à autoridade do Estado nacional não existe homogeneidade cultural – o que significa dizer que nem todos falam a mesma língua, obedecem aos mesmos costumes, professam a mesma religião, possuem a mesma visão de mundo etc.; ou porque, mesmo que num dado território se manifeste uma tradição cultural mais ou menos homogênea, esta tradição cultural é internamente contraditória, pois as condições sociais existentes no interior daquele território são diversas – o que significa dizer que, mesmo que todos falem a mesma língua, obedeçam aos mesmos costumes, professem a mesma religião etc., existem naquele território desigualdades sociais.
Pelo que se pode notar, as metas do nacionalismo têm sido historicamente: a de, num dado território, submeter todas as demais tradições culturais a uma só (inventada), através do emprego da violência oficial do Estado; e, sobretudo, a de ocultar a diversidade de condições sociais que continuam a existir, num dado território, mesmo que a população deste território seja constituída por indivíduos que compartilham uma só tradição cultural. De um lado, o nacionalismo oculta a existência de diversidades culturais no interior de territórios (quase sempre) marcados por diversidades deste tipo; de outro, o nacionalismo oculta a existência de desigualdades sociais no interior de territórios também (e sempre) marcados por desigualdades deste tipo. Podemos supor que, sempre que se formaram nações, os dois processos tiveram lugar, ou, melhor, os dois processos precisaram ter lugar para que se formassem nações.
 Seja como for, em todos os territórios submetidos a um Estado nacional existem tradições culturais minoritárias, as quais são obrigadas a se submeter, de uma forma ou de outra, à ou às tradições culturais eleitas como oficiais por este mesmo Estado nacional; e em todos os territórios submetidos a um Estado nacional existem condições sociais diversas, isto é, desigualdades sociais, as quais não só subsistem como também se mantêm em permanente contradição, o que é o mesmo que afirmar que, no interior de todos os territórios submetidos a um Estado nacional, existem lutas de classes (em processo de efetivação, mas também em potencial).
Seja como for, em todos os territórios submetidos a um Estado nacional existem tradições culturais minoritárias, as quais são obrigadas a se submeter, de uma forma ou de outra, à ou às tradições culturais eleitas como oficiais por este mesmo Estado nacional; e em todos os territórios submetidos a um Estado nacional existem condições sociais diversas, isto é, desigualdades sociais, as quais não só subsistem como também se mantêm em permanente contradição, o que é o mesmo que afirmar que, no interior de todos os territórios submetidos a um Estado nacional, existem lutas de classes (em processo de efetivação, mas também em potencial).
Por que supor que a formação de nações levou em cada país à subordinação de um conjunto concreto e heterogêneo de tradições culturais a um conjunto abstratamente homogêneo de tradições culturais? Porque a formação de nações se deu no interior de sociedades marcadas por desigualdades sociais: todo Estado nacional (e, por conseguinte, toda nacionalidade) existe para colocar em prática a estratégia de poder de uma elite (constituída por uma ou mais classes sociais dominantes): estas, quando vão traçar os limites de seus Estados nacionais, não só se apropriam seletivamente do território sobre o qual se debruçam como também se apropriam seletivamente das tradições culturais que este território contém em seu interior, aproveitando tão somente aquilo que lhes parece proveitoso, para a referida estratégia de poder, e descartando ou deixando de lado tudo aquilo que lhes parece inútil.
Por que no interior de todo Estado nacional subsistem desigualdades sociais e, portanto, lutas de classes? Em poucas palavras: porque – além de os Estados nacionais serem síntese de interesses sociais dominantes e, assim, expressão concreta de desigualdades sociais – indivíduos de mesma condição social e de diferentes nacionalidades não foram capazes (ainda) de se unir num esforço coletivo de abolição internacional (ou mundial) destas desigualdades sociais. Pelo contrário, foram indivíduos de mesma condição social e de diferentes nacionalidades que se tornaram, no decorrer dos séculos, capazes de se unir em esforços coletivos de perpetuação internacional, continental e, por fim, mundial das desigualdades sociais.
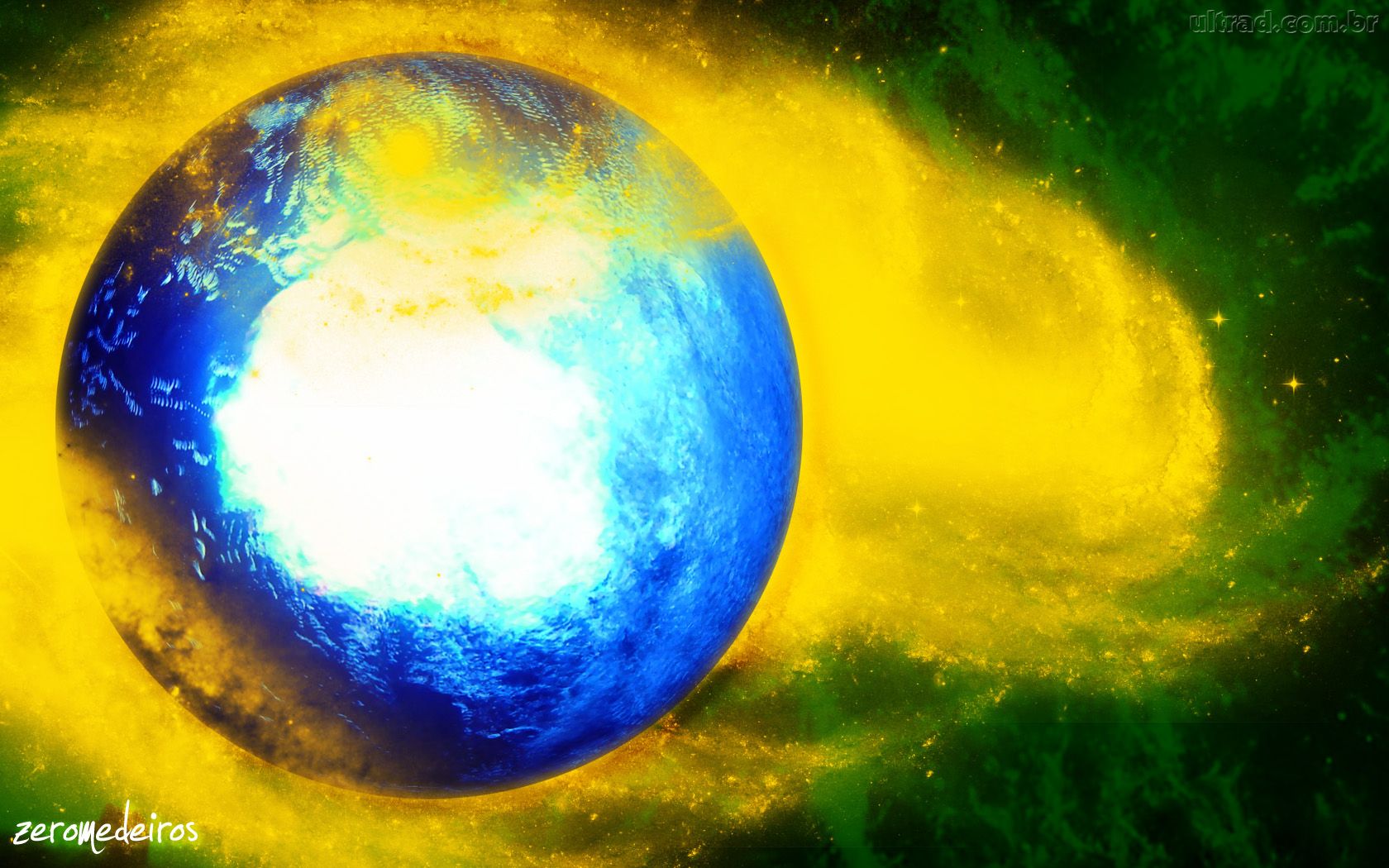
Trata-se de uma ilusão (mais do que utópica) conceber, nos marcos do capitalismo, nações no interior das quais os conjuntos concretos e heterogêneos de tradições culturais subsistentes não precisam se submeter a conjuntos abstratos e homogêneos de tradições culturais inventadas (e impostas): fosse assim, o mercado capitalista não só não estaria funcionando hoje como teria começado por não ter funcionado nunca. Além do mais, a forma de propriedade dos meios de produção introduzida pelo capitalismo não poderia ter-se jamais difundido, já que ela é incompatível com várias das tradições culturais do passado (e poder-se-ia até afirmar: com a maior parte delas).
O comunismo, por seu turno, não se dedicará a estabelecer uma sociedade que seja um mosaico de tradições culturais diversas, concretas e heterogêneas (a utopia pós-moderna): o comunismo terá por único objetivo a subordinação de toda cultura, seja ela qual for (incluindo-se aí a tecnologia), ao conjunto de instituições que o proletariado – internacionalmente considerado – fará nascer de sua luta contra o capital e o qual será destinado a servir de mediação na relação homem-natureza e na relação indivíduo-sociedade. Toda a diversidade cultural das eras passadas de horror e de barbárie será absorvida seletivamente pela sociedade comunista, através daquelas instituições, no processo de abolição das desigualdades sociais: não se trata de devolver a cada tradição cultural do passado o seu “lugar de direito”, “subtraído pelo capitalismo”; trata-se, pelo contrário, de selecionar, no interior de cada tradição cultural do passado, o que é que há de valer alguma coisa na nova sociedade, constituída por um novo ser humano.
Também não passa de uma utopia conceber um mundo capitalista no qual uma nação não “avança” sobre as demais, afirmando-se como novo centro e estabelecendo para si novas periferias. Os antigos centros podem se tornar novas periferias e vice-versa, mas o capitalismo não pode existir sem centros e periferias, dado que o seu desenvolvimento é desigual, apesar de combinado. E não é só internacionalmente que o capital precisa, para se desenvolver, de reproduzir a dicotomia centro-periferia: toda nação é interiormente caracterizada pela mesma dicotomia (o que muitos insistem em não querer enxergar).
Os instrumentos mediante os quais é colocado em prática o imperialismo não são, exclusivamente, as invasões de exércitos e as diplomacias de canhões; os investimentos externos diretos também são instrumentos de avanço de uma nação sobre outra, mas o que ocorre é que, por meio destes, conciliam-se interesses de setores das classes dominantes de ambas as nações. Ao invés de denunciar a conciliação internacional de interesses de classes dominantes – conciliação esta que reforça, dentro das fronteiras de cada nação, a miséria de suas respectivas periferias – a esquerda nacionalista de cada país prefere sair em defesa de um desenvolvimento nacional pactuado com suas respectivas classes dominantes, como se o capital nacional fosse melhor do que o capital estrangeiro. Não se dão conta de que este tipo de pacto está a ser descartado (há décadas) pelas classes dominantes de todos os países capitalistas, sejam eles centrais ou periféricos. Num contexto de ofensiva neoliberal em escala global, há ainda quem deixe de lado o internacionalismo proletário autêntico – a solidariedade, que salta por sobre as fronteiras nacionais, entre trabalhadores assalariados não gestores e entre estes e as demais classes sociais subalternas, que porventura subsistem aqui e ali – em favor de uma solidariedade internacional de patriotismos (destinados a estabelecer, cada um em seu espaço cerrado, cada um detrás de suas cercas, capitalismos estatais).
Por que as estas mesmas esquerdas não denunciam – como o fazem muitos dos que escrevem neste site – a formação de um novo bloco imperialista, composto pelo Brasil e outros países mais? E por que estas mesmas esquerdas não denunciam que a formação deste novo bloco imperialista não muda o fato de que, no Brasil e no mundo, as periferias só estão a crescer? O único imperialismo é o norte-americano? Não existem também periferias nos EUA? Não existe, também aí, pobreza e miséria, trabalhos precários? É como se nos EUA, e nos países chamados “ricos”, todos fossem ricos e cá somos todos pobres e como se o imperialismo silencioso, o imperialismo oculto, não fosse tão imperialista quanto aquele que anuncia sua chegada com estouros de bombas e com o empilhar de corpos.
Não se trata de ir em defesa de tradições culturais do passado que estão a ser destruídas pelo capital. Elas o serão, se já não o foram, e – mais importante do que isto – elas não nos servem mais, ou, melhor, não servirão a homens novos, num mundo novo. Todos os herdeiros das antigas tradições, consumidas pela voragem capitalista, que sobreviveram, ou integraram as fileiras do proletariado ou integraram as fileiras das classes dominantes capitalistas ou seguiram vivendo às margens de uns e de outros, morrendo aos poucos e/ou vendo morrerem consigo suas tradições.
O capitalismo, contudo, não precisa destruir por completo e de uma vez por todas as tradições culturais do passado. Pode deixá-las a definhar lentamente. É o que acontece atualmente. E, depois de rebaixá-las a seu atual estado de miséria, o capitalismo pode até promover a “diversidade cultural”, através do multiculturalismo ou da difusão de “mentalidades pós-coloniais”: um novo produto para abarrotar as prateleiras (pseudo) intelectuais do mercado cultural capitalista. O definhar das tradições derrotadas afigura-se, então, como “novo mercado”, o qual encontra para si uma legião de consumidores. O que o capitalismo não pôde deixar de fazer e não pode deixar de continuar a fazer é destruir os obstáculos que as tradições do passado impuseram ao seu desenvolvimento e criar um homogeneidade cultural instrumental (as nações modernas) capaz de garantir o seu desenvolvimento e de lhe facilitar a dinâmica (ou o seu arranque inicial).
Mas a dinâmica do capitalismo superou já essa fase. O capitalismo precisa agora de um novo instrumento. Esse instrumento são as grandes companhias transnacionais, as quais superaram os Estados nacionais na sua capacidade de garantir o acesso do capital a novos mercados consumidores e a novos mercados fornecedores de força de trabalho e de matérias-primas. E é contra essas empresas que a esquerda nacionalista também pretende erguer as fronteiras nacionais: logo estas, que não são mais capazes de conter nem de dar novo fôlego ao desenvolvimento do capitalismo? Serão elas capazes, então, de dar novo fôlego às lutas anticapitalistas?
O Estado nacional, claro está, deve continuar a existir, para nutrir a ilusão de que, num dado território, inexistem contradições de classe, inexistem interesses sociais concorrentes. Ele só não é mais tão útil assim para promover, num momento posterior, o avanço do capital “nacional” sobre outras partes do planeta.
Deveria ficar claro, portanto, que os Estados nacionais, que nunca corresponderam às aspirações gerais das populações residentes no interior de suas fronteiras, servem agora aos interesses de parcelas cada vez menores destas populações. Servem tão somente para tentar amenizar ou reprimir os surtos de revolta social (e isto o fazem com primor, como alguns de nós têm visto e sentido na pele) e para tentar dar sustentação ao avanço do capital “nacional” – associado a outros capitais “nacionais” – sobre o além-fronteira, avanço este ao qual corresponde o avanço, no interior de cada fronteira nacional, de periferias cada vez mais vastas, nas quais residem populações cada vez mais brutalmente excluídas do direito de acesso à abundância de riquezas concentradas nos grandes centros das grandes cidades. Sobre tudo isso as esquerdas nacionalistas, do Brasil e do além-mar, silenciam vergonhosamente (ou estupidamente). Quando não mal-intencionado, não se trata de um nacionalismo de esquerda, nem de um de direita, trata-se de um nacionalismo debiloide.







“Ao invés de denunciar a conciliação internacional de interesses de classes dominantes, a esquerda nacionalista prefere sair em defesa de um desenvolvimento nacional pactuado com suas respectivas classes dominantes.”
– Há que tempos que a esquerda anda a dizer que a federalização da UE caminha por dentro da conciliação dos interesses do grande capital – nomeadamente o financeiro mas não só. E há que tempos que o Passa Palavra, secção portuguesa, se anda a defender o federalismo capitalista contra o que se diz o nacionalismo quando, na realidade, do que se trata é de retomar algum poder ao grande capital por parte dos povos em sua situação económica concreta – concretude essa que sem terra, sem geografia, não é mais do que uma variável qualquer em quadros gráficos e equações matemáticas congeminadas pela banca para tomar o lugar do real e reproduzir o seu domínio.
A conciliação internacional dos grandes capitais só poderá ser enfrentada se houver, como contrapartida, uma conciliação internacional dos movimentos proletários anticapitalistas (mas não para, a partir daí, estabelecer uma conciliação nacional entre trabalhadores e classes dominantes capitalistas). Esquematicamente: grandes capitais se associam em enormes empresas, as quais utilizam tecnologias avançadíssimas e são, portanto, capazes de explorar seus trabalhadores numa escala sempre maior; os trabalhadores destas empresas, porém, gozam de uma qualidade de vida superior, pois, apesar de serem eles explorados ao extremo (pelo mecanismo da mais-valia relativa), trabalham sob condições mais confortáveis, são melhor remunerados e têm empregos estáveis; os demais trabalhadores são obrigados a se contentar com empregos de menor remuneração e a trabalhar sob condições extremamente precárias de trabalho, além de enfrentar a instabilidade do emprego, entre outras coisas (a sua realidade é a da mais-valia absoluta); uns são capazes de acessar e de usufruir de uma parte das riquezas concentradas nos centros dos grandes centros urbanos; os demais são excluídos do acesso a grande parte destas riquezas e amontoam-se nas periferias, onde ficam total ou parcialmente segregados; tanto uns quanto outros são obrigados a encarar uma realidade na qual os sindicatos não têm mais (ou têm cada vez menos) a capacidade de lhes garantir qualquer ascensão social e que são eles, individualmente e no interior de suas respectivas empresas, que têm que alcançar esta ascensão social, por conta própria (pois os sindicatos têm visto reduzida, em sua importância econômica, sua base de sustentação, o Estado nacional, o mesmo ocorrendo com os partidos social-democratas do “Estado de bem-estar social”); esta situação se reproduz, igualmente, em todos os países, tanto nos países centrais como nos periféricos; isto é, em todos os países capitalistas, sejam eles avançados ou atrasados, se observa um abismo entre o grande capital e os capitais pequeno e médio, se observa um abismo entre trabalhadores qualificados e trabalhadores precários, se observa um abismo entre os centros dos grandes centros urbanos e suas periferias, e estes abismos são cada vez maiores. Essa é a geografia do mundo capitalista contemporâneo, e é essa nova geografia que os trabalhadores precisam conhecer e se preparar para enfrentar, internacionalmente articulados numa estratégia global de luta anticapitalista. Confrontar a conciliação internacional de interesses de classes dominantes, fazendo uso do nacionalismo econômico, não deu certo ontem e não dará certo hoje, sobretudo hoje, em tempos de consenso neoliberal.
Excelente texto, Fagner.
As características do nacionalismo identificadas por vc formam o esquema do atual renascimento nacionalista de algumas regiões da Europa. Penso em Portugal, mas também na Catalunha e na Sardenha, onde a crise econômica fortaleceu o nacionalismo apesar da multiplicidade linguística, religiosa e do capital “transnacionalizado”. Um nacionalismo de base supraclassista, porém com ares progressistas e apoiado por setores da esquerda. Seu texto me fez pensar ainda no seguinte: se nem a história catastrófica do nacionalismo europeu, nem o internacionalismo proletário e a transnacionalização do capital barraram o nacionalismo ideológico atual, resta aos trabalhadores tão somente a radicalização anti-nacionalista; resta somente o confronto. Evocar e praticar o internacionalismo entre organizações proletárias anticapitalistas talvez seja insuficiente. O que vc acha?
( um exemplo – http://passapalavra.info/2013/08/83171)
Vavá, não sei dizer. Acho que depende de cada situação concreta. A situação retratada no link que você compartilhou… acho que se trata de um partido fascista mesmo (o AfD), como se pode notar. Eu acho que o confronto aberto, de fato – que é, mediatamente, um confronto entre classes, pois é um confronto entre instituições que resultam da práticas destas classes (e que ao mesmo tempo condicionam seu desenvolvimento) -, só pode ser sempre “adiado”. Quero com isso dizer que a tendência para a qual caminham as lutas sociais é sempre para o confronto aberto, e brutal. O importante é “adiar” o confronto aberto, o confronto “final”, para uma situação na qual o proletariado esteja em condições de vantagem. O problema é que, fazendo uso do nacionalismo, os grupos de esquerda “adiam” tal confronto aberto para uma situação na qual a vitória do proletariado encontra-se seriamente comprometida, ou então para as famosas “calendas gregas” mesmo. Agora, uma reflexão necessária: será que a “vitalidade” do nacionalismo – no seio da esquerda – não resulta de uma situação, de certa forma (ou totalmente), alimentada pela própria esquerda, que não consegue dar uma resposta internacionalista ao capitalismo? Eu acho que sim. Depois que o problema já está instalado fica difícil dizer “bem, agora que estes nacionalistas estão aí, temos que partir para brigas de rua com eles”, porque isto não eliminaria o problema em sua raiz. De qualquer forma, eu acho que internacionalismo deve voltar ao centro mesmo de uma estratégia revolucionária global e de longo prazo, capaz de reunir a esquerda anticapitalista, a ser delineada desde já e a ser colocada em prática o quanto antes possível, mas o nacionalismo de esquerda é um grande empecilho (vide os comentários de nacionalistas de esquerda que volta e meia surgem neste site). Uma tal estratégia global vai, necessariamente, de encontro à ideologia e às práticas dos nacionalistas de esquerda (e de direita), e os confrontos aí talvez sejam inevitáveis. Mas o importante é que seja gestada uma nova síntese programática para a esquerda comunista em geral, que seja internacionalista e autogestionária em sua essência, além de ser formulada com base numa análise científica da realidade em processo. Em resumo: temos que atacar o nacionalismo em suas bases mesmo, em sua raiz.