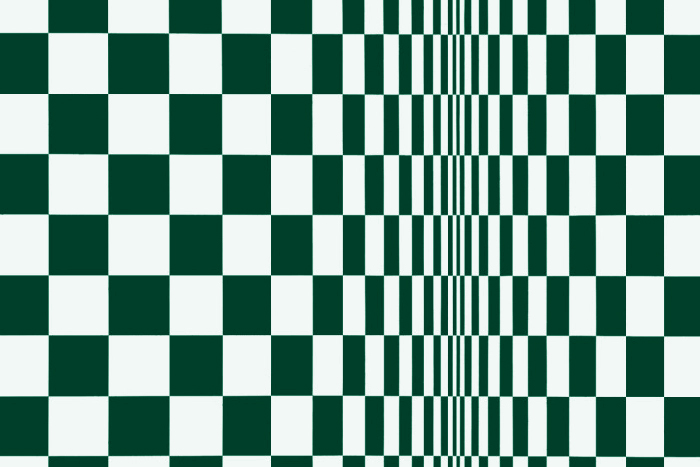Por Raquel Azevedo
Há um paradoxo na atuação dos bancos centrais durante a pandemia: embora a política monetária seja a esfera econômica mais afastada de qualquer apelo democrático, as medidas adotadas pelos bancos centrais garantem a liquidez da economia com mais agilidade do que as adotadas pelos governos. Mais do que isso, há algo na extensão da atuação dos bancos centrais que indica uma mudança de natureza em relação às crises anteriores. No livro Buying time, Wolfgang Streeck defende que, com a dissolução de Bretton Woods, as crises de legitimação do capitalismo teriam seu fundamento na separação entre economia e democracia. Diferentemente do primado da política sobre a economia que teria marcado os 30 anos gloriosos do pós-guerra, os últimos 50 anos de história econômica seriam a história da desdemocratização do capitalismo, isto é, da ruptura entre as políticas econômicas de Estado e a estrutura específica de representação política que o caracteriza, especialmente nos EUA e na Europa. Para Streeck, a crise de legitimação causada pela autonomização da economia numa esfera à prova da demanda popular foi sistematicamente adiada nesse período através de três artifícios monetários: a inflação, o aumento da dívida pública e o endividamento privado. São três casos em que a política monetária permite postergar um conflito distributivo através da antecipação de recursos.
O roteiro histórico que Streeck tem em mente é bem conhecido. Em meados da década de 1970, a política monetária expansionista ajudou a acomodar salários que cresciam mais do que a produtividade. Era ainda um aceno à força dos sindicatos na década anterior. O efeito inflacionário dessa medida combinado com o baixo crescimento levou os bancos centrais a adotarem um rígido controle do nível de preços na década de 1980. Sob Ronald Reagan e Margaret Thatcher, a inflação assumiu a posição de um sintoma de fraqueza e desunião política. A contraparte da estabilização monetária do período foi o aumento do desemprego. O que restava de um capitalismo democrático fundado no combate à inflação se sustentou no aumento da dívida pública. Na década de 1990, essa tendência foi novamente revertida através de cortes de gastos e privatizações. O endividamento público foi crescentemente substituído pelo endividamento privado até 2008. O que resta saber é se as operações de quantitative easing – em que o banco central compra títulos no mercado secundário para aumentar a liquidez da economia –, instrumento com que os bancos centrais dos países ricos responderam à crise de 2008 e que, durante a pandemia, foi incorporado também pelos bancos centrais dos países emergentes, seriam uma nova forma de compra de tempo. Estamos adiando outra crise de legitimidade do capital ou há novas questões envolvidas? A resposta passa por entender que tempo foi comprado antes e qual está sendo comprado agora.
A crise econômica associada à pandemia pode ser considerada a primeira do Antropoceno — a era em que a atividade humana, especialmente aquela associada à queima de combustíveis fósseis, se torna uma força geológica — não exatamente por causa de sua extensão. Todas as crises que se seguiram às guerras napoleônicas se caracterizam por serem fenômenos do mercado mundial (embora essa seja a primeira, segundo o Fundo Monetário Internacional, em que toda a economia mundial está se contraindo, sem distinção entre países ricos e pobres). Além disso, se essa crise fosse apenas quantitativamente diferente das demais, deveríamos concluir que não há senão uma mudança de grau com a de 2008. Não é bem o caso. Há uma mudança da natureza do tempo que a política monetária está comprando agora. Por mais que os mercados tenham incorporado o tempo de produção de uma vacina para estimar a recuperação da atividade econômica, há uma temporalidade distinta da econômica envolvida nesse processo. Ou seja, por mais que os mercados tenham conseguido precificar a recuperação, seu fundamento é uma temporalidade que os mercados não controlam.
Talvez seja insuficiente propor um novo arranjo para as formulações de Streeck que leve em conta não mais três, mas duas formas de compra de tempo através da política monetária: o combate à inflação na década de 1980 e o combate à deflação agora (no Brasil, a inflação acumulada dos últimos 12 meses ficou em 2,4% em abril, abaixo, portanto, do piso da meta). A natureza do tempo que é comprada em cada caso através da antecipação de recursos é distinta. Adam Tooze coloca o problema em termos mais simples em um artigo no The Guardian: em nenhuma das crises anteriores havia qualquer dúvida de que voltar ao trabalho era a coisa certa a fazer. O caso é exatamente o oposto agora. Talvez a atuação dos bancos centrais seja a forma de manifestação desse novo tipo de crise que se impõe.