Por Manolo
Discutíamos, eu e um amigo, algumas coisas sobre Florestan Fernandes. Ele está pesquisando muito sobre a obra deste sociólogo e sobre o financiamento de pesquisa por agências estrangeiras, e em meio ao debate trouxe algumas informações importantes, que reproduzo em citação longa, italicizada para distingui-la de meu próprio texto:
A Fundação Ford via uma convergência muito profunda entre suas visões acerca da relação entre racismo e desenvolvimento econômico e a abordagem de Florestan, motivo pelo qual estreitou laços durante alguns anos, colocando ele na direção de projetos de pesquisa da Fundação, financiando palestras, encomendando artigos, traduzindo trabalhos etc. Florestan recebeu uma bolsa de cerca de 62 mil dólares pelo semestre todo em que passou nos EUA, pagos pela Fundação. A tradução de seu livro A integração do negro na sociedade de classes para o inglês esteve intimamente atrelada à Fundação Ford e se não me engano também à Fundação Rockefeller, e o resultado foi o seguinte: o livro de mais de 1000 páginas virou um livro de 500, recortado e reorganizado priorizando as partes em que as propostas políticas do Florestan iam no mesmo sentido defendido pela Fundação, nomeadamente as partes sobre reformas econômicas, as políticas raciais e a organização do movimento negro rumo à passagem da situação de marginalidade para a formação de elites capazes de se tornarem uma vanguarda modernizadora nacional, de modo que essa integração do negro à sociedade de classes permitiria que o país superasse o atraso econômico e a persistência do legado escravista. Até os anos 1970 o Florestan defendia que o movimento negro priorizasse a luta por iguais condições de competição e status, visando ao máximo ter acesso aos benefícios materiais da “inclusão”. Apenas posteriormente ele passa a tematizar de modo mais crítico a postura do movimento negro frente às políticas públicas do estado. As várias variações de termos usados pelo Florestan no livro de 1965: “negro”, “mulato”, “pessoas de cor” etc receberam orientação expressa, por parte do articulador político da tradução (que era da Fundação Ford), de não serem jamais traduzidas como black. Vale lembrar que naquele período existia o black power, e a palavra black era mais associada a essas políticas (Panteras Negras, Malcolm X etc.), enquanto a palavra negro era mais associada às vertentes de luta pelos direitos civis, Martin Luther King etc. Na tradução todas as variações foram eliminadas e tudo foi uniformemente traduzido como negro, o que inclusive rendeu críticas em algumas resenhas do livro, que apontaram imprecisão conceitual por parte de Florestan. Igualmente, não utilizaram afro-american ou african-american em nenhuma passagem, sendo esses termos ligados aos orgãos “afrocentristas” do nacionalismo cultural negro estadunidense. A tradução recebeu um prêmio. O livro saiu traduzido em 1969 pela Editora da Universidade de Columbia, como The Negro in Brazilian Society, com 489 páginas, e foi relançado em 1971 numa coleção Books for Young Readers. Pra se ter uma ideia, a edição que tenho aqui é da Globo, em dois tomos, e tem 621 páginas no tomo 1 e 439 páginas no tomo 2. Atentem ainda que a menção à sociedade de classes também desaparece.
Disse ainda o meu amigo sociólogo, complementando a torrente de informações anterior:
À primeira vista a interpretação que tive foi a de que Florestan vendeu a alma pro diabo ao aceitar a remodelagem do livro e a uniformização dos termos todos em um só: negro. No entanto, me aprofundando mais no assunto, reparei que a uniformização atendia ao interesse político maior do Florestan de que o movimento negro “se unificasse”, portanto as divisões identitárias entre mulato, mestiço, pessoa de cor etc poderiam se tornar um empecilho à medida em que cada uma reivindicasse um fortalecimento de sua identidade em contraposição à outra. Ok, pensei, Florestan jogou politicamente. Porém depois pensei: mas A integração do negro na sociedade de classes se pretende também um livro historiográfico… Conclusão: ao uniformizar os termos, ele vendeu a alma pro diabo sim, pois abriu mão do rigor teórico historiográfico em prol de interesses políticos…
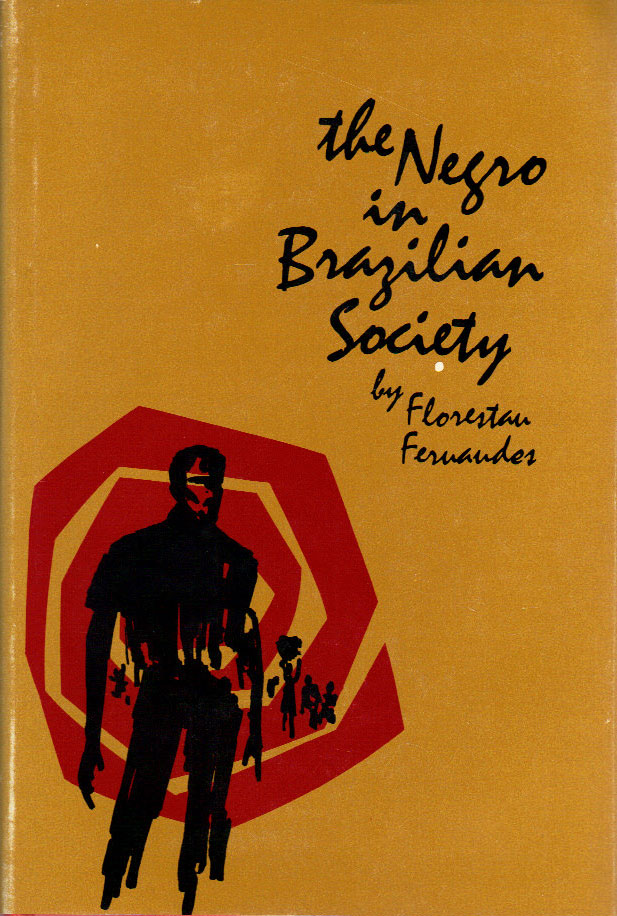
As afirmações deste meu amigo tomam como ponto de partida a tese de doutorado em História defendida em 2011 por Wanderson da Silva Chaves na USP, mesmo que não reproduzam com fidelidade absoluta a argumentação do autor. A tese, muito bem alicerçada em bibliografia e fontes primárias, é interessantíssima, leitura que recomendo. Voltando ao meu amigo: são muitas afirmações polêmicas de uma vez só, mas documento é documento. Frente a um documento, frente a uma fonte primária, a interpretação pode variar, as conclusões podem diferir, mas os fatos a que esta fonte se refere não se podem negar. Daí eu ter começado uma longa resposta, que terminou virando artigo. A conclusão de que Florestan Fernandes “vendeu a alma ao diabo” pode até partir de documentos incontestáveis, mas, como inferência a partir deles, é totalmente anacrônica. É projetar sobre o passado questões do presente, como se lá já estivessem dadas. Vou me demorar na explicação, mas acho que vale a pena.
* * *
Florestan é um caso complexo, porque chega à questão dos “negros” por meio de Roger Bastide, de quem foi uma espécie de “orientando”, “auxiliar de pesquisa”, “pupilo” etc. As palavras aproximam-se do significado real, mas as relações não se davam no modelo que conhecemos hoje: Florestan já era professor universitário desde 1945, e inclusive substituiu Bastide na cadeira de sociologia da USP em 1954. É um modelo mais antigo de organização do trabalho docente universitário, anterior à reforma de 1968 que extinguiu as cátedras e criou o regime departamental vigente com pequenas modificações até hoje. Mas, voltando ao principal: a “fase indígena” de Florestan Fernandes parece coincidir com o período em que estava, na falta de palavra melhor, “tutelado” por Fernando de Azevedo, enquanto a “fase negra” de Florestan Fernandes coincide com o período em que Roger Bastide foi seu “tutor” (novamente, na falta de uma palavra melhor, porque não é exatamente esta a relação).

Por isso não se pode entender adequadamente A integração do negro na sociedade de classes sem ler, antes ou depois mas sempre de forma comparativa, Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo. Neste último, Florestan Fernandes é “pupilo”, “auxiliar de pesquisa”, “orientando” ou como quer que se chamasse a relação naquele tempo, mas a direção da pesquisa era de Roger Bastide. (Estudantes mesmo na época da pesquisa, e que dela participaram, eram Fernando Henrique Cardoso, Ruth Correia Leite (depois casada com FHC), Maria Isaura Pereira de Queiroz e Marialice Mencarini Foracchi; todos, depois, com profícua carreira acadêmica.)
Diz a introdução de Paulo Duarte a este livro:
Há muito tempo ANHEMBI tomara a decisão de patrocinar um inquérito em profundidade sobre o tema do negro em S. Paulo. […] Órgão destinado principalmente a estudos desta espécie, logo após seu aparecimento, mobilizou-se para esse inquérito solicitando o auxílio do elemento mais indicado para orientá-lo e dirigi-lo: Roger Bastide, professor de sociologia da Universidade de São Paulo, o qual há longos anos se vinha dedicando aos nossos estudos sociais, principalmente os atinentes aos negros no Brasil. Roger Bastide procurou logo a colaboração de um dos seus antigos alunos, Florestan Fernandes, que é uma das mais belas revelações da nossa Universidade, sendo o seu nome hoje alinhado já, sem favor nenhum, entre os mais ilustres no meio intelectual brasileiro.
Florestan Fernandes era, em 1955, ainda uma “jovem revelação” de 35 anos. Mestreou-se e doutourou-se com estudos sobre os tupinambá, tinha àquela data quase dez anos de carreira docente e mais ou menos quatro anos desde que se doutorara, mas ainda era uma “estrela em ascensão”. Seria algo equivalente aos “jovens” intelectuais públicos que se fazem presentes no debate político brasileiro recente, alguns inclusive com “doutorado lá fora”, como Laura Carvalho, Monica de Bolle, Pedro Ferreira de Souza, Silvio de Almeida, Vladimir Safatle, Sabrina Fernandes, Pablo Ortellado, Icles Rodrigues, Rosana Pinheiro Machado etc.
A pesquisa sobre as relações entre “brancos” e “negros” representou uma guinada temática na carreira de Florestan Fernandes, mas ainda em 1961, ao publicar Folclore e mudança social na cidade de São Paulo, ele estribava sua produção em material construído sob a orientação de Roger Bastide. A publicação de A integração do negro na sociedade de classes em 1964, ainda é, portanto, herança da “sombra” de Roger Bastide. Tanto assim que a “fase desenvolvimentista” da carreira de Florestan Fernandes, que considero iniciada em 1968 com Sociedade de classes e subdesenvolvimento, tematiza problemas do desenvolvimento econômico e da integração das sociedades de países ditos “subdesenvolvidos” na economia capitalista. Daí em diante a temática indígena e “racial” teve caráter subsidiário, auxiliar, frente a um tema de maior abrangência. Florestan Fernandes não abandonou os estudos sobre o tema, tampouco esquivou-se de palestrar ou pronunciar-se publicamente sobre ele; suas atenções, não obstante, passaram a dividir-se com a problemática do desenvolvimento capitalista, pelas quais, a esta altura de sua carreira, tornou-se mais conhecido.
* * *
Por que falar de tudo isso? Para explicar melhor por que é anacrônico dizer que Florestan Fernandes “vendeu a alma ao diabo” ao “uniformizar os termos” expressivos das “marcações raciais” no Brasil dos anos 1950 e 1960.

Primeiro, porque a pesquisa Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo foi quem abriu as portas do movimento negro paulista à academia. Engana-se quem pensa que o movimento negro brasileiro surgiu com o MNU em 1978. Havia, na década de 1950, duas grandes correntes no movimento negro brasileiro. A mais antiga, já então em declínio mas ainda com certo peso e autoridade, vinha dos tempos da luta contra a escravidão, e era formada tanto pelas antigas irmandades católicas fundadas por escravos (p. ex., as muitas Irmandades de N. S. do Rosário dos Pretos existentes pelo país afora) quanto pelas associações mutualistas formadas para a compra de alforrias e qualificação profissional de libertos (p. ex., a Sociedade Protetora dos Desvalidos, a Sociedade Montepio dos Artistas etc.). A mais recente (para a época), que o varguismo desbaratara no plano formal mas que persistira na informalidade e nas redes de contatos, era a dos epígonos da extinta Frente Negra Brasileira, como a Associação Cultural do Negro, a União dos Homens de Cor, a Associação José do Patrocínio, o Teatro Experimental do Negro, o Teatro Profissional do Negro, o Teatro Popular Brasileiro (do sempre esquecido Solano Trindade) etc., onde fervilhava o debate influenciado pelo movimento negro estadunidense das primeiras décadas do século XX (UNIA de Marcus Garvey, NAACP de W. E. B. DuBois etc.), pelas lutas independentistas mundo afora e pelas contradições sociais internas à sociedade brasileira. Basta ver os agradecimentos na introdução de Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo para perceber a importância do apoio das organizações do movimento negro brasileiro de ambas as fases na realização da pesquisa. Tanto houve apoio das organizações quanto de militantes históricos do movimento negro (José Correia Leite, Arlindo Veiga dos Santos, Ruth de Souza etc.), que receberam agradecimento nominal na introdução. Pode-se dizer, assim, que a voz do “negro” nesta pesquisa foi muito mais a voz do movimento negro, do “negro” politicamente organizado, da intelectualidade “negra”… e foi tomada como sendo a voz de todos os “negros”.
* * *
Em segundo lugar, porque a eliminação das gradações “de cor” é pauta antiquíssima do movimento negro, baseada no fato de as gradações da mestiçagem (“mulato”, “cafuzo”, “mameluco”, “escurinho”, “moreno”, “moreninho”, “cabo verde”, “sarará” etc.) representarem uma gradação de cor de pele e de traços fenotípicos que hierarquizavam a população desde as pessoas com menor presença de tais traços até aquelas que se poderia chamar de “tipicamente negras” (o “preto retinto”), resultando em melhores oportunidades sociais, econômicas e políticas para os primeiros e piores para os segundos. Tal gradação vinha desde os tempos da escravidão, e era o que pautava a ascensão social dos “mulatos”, dos “mestiços” etc., sempre com o beneplácito da aristocracia agrária então dominante. Sei-o por experiência própria: a família de minha mãe, descendente de paupérrimos camponeses portugueses chegados ao Brasil até a década de 1910, era muito racista, e meu pai, como toda sua família, era negro. Para “passar” como “menos negro”, dizia-se “escurinho”, “moreninho” etc., com pouco efeito: durante toda minha infância ouvi todo tipo de comentário racista contra meu pai depois de o casal se separar, e ainda fui “orientado”, como “filho branco de pai preto”, a “casar com branca” para “não ter filho preto”, como se carregasse um estigma. Neste e em outros casos, o “colorismo” era um duplo faz-de-conta: de um lado, o “negro” dizia-se ser outra coisa para facilitar sua mobilidade social ascendente, e do outro certos “brancos” em posições de poder aceitavam ou rejeitavam esta autoidentificação, a depender de seus interesses em cada caso. Nesta e em tantas outras situações semelhantes, importa menos o fato de haver ou não “brancos” não-racistas em posições de poder, mas sim o fato de os “brancos” em posição de poder terem a possibilidade de escolha entre um comportamento racista e um comportamento democrático, enquanto aos “negros” obriga-se a viver sempre em guarda, sempre com uma estratégia de sobrevivência pronta, porque a eles nenhuma escolha é dada senão a de ficar onde estão, a de “saber seu lugar”. O combate às gradações surgiu, portanto, como forma de combate a este “colorismo” original. Tinha, portanto, caráter “progressista”. Limitadíssimo, mas “progressista”. Numa sociedade construída sobre a escravidão colonial de caráter racista, onde “trabalho” e “fenótipo” apareciam à primeira vista como misturados, subsumir todas as “cores” a uma só significava, neste contexto semântico e sociológico, unificá-las todas contra um adversário comum — o racismo — e combater as divisões internas.
Não acho, portanto, que Florestan Fernandes, ao evitar tratar das gradações e tratar a todos indiscriminadamente como “negros”, tenha “vendido a alma ao diabo”. No contexto dos anos 1950 a “moda” na sociologia era certo elogio à “mestiçagem”, de cunho freyreano, que, de um lado, pressupunha usar a mestiçagem como “diluição” das “cargas hereditárias” dos negros pela sua progressiva eliminação da população por meio do “embranquecimento”; e, de outro lado, usava o outro pressuposto da mestiçagem, a de que “todo mundo tem um pé na cozinha”, para dizer que não havia preconceito racial. Miscigenação, portanto, com predominância do elemento “branco” e diluição e progressiva erradicação do elemento “negro”. (Note-se a ausência gritante do elemento “índio”, que se diz ter sido completamente exterminado mas que a historiografia recente sobre o tema demonstra ter, na verdade, interiorizado-se, pois a própria São Paulo do início do século XX, cidade “intaliana”, teve muito maior influência da migração indígena do que se costumava pensar, e além disso no final do século XIX não faltavam notícias de ataques indígenas — de tupinambás, pataxós, kariris etc. — a cidades do interior brasileiro etc. Este tema ainda renderá muito daqui por diante.) Agrupar todas as diferentes “escalas de cor” numa só categoria era uma das estratégias de combate a esta “moda” freyreana da “democracia racial”. O problema é que o contexto hoje é outro, e lidamos com os efeitos daquilo que um dia poderá ter sido uma pauta “progressista”, cujos limites tornam-se a cada dia mais evidentes.
* * *
Em terceiro lugar, porque a pesquisa de Roger Bastide e Florestan Fernandes não pode ser entendida fora do contexto de um enorme esforço, por parte da UNESCO, de realizar pesquisas sobre as relações raciais no Brasil. Vivia-se então ainda os impactos da Segunda Guerra e o tipo de racismo “científico” dos nazistas precisava ser combatido, também, por cientistas. Saiu uma declaração da UNESCO em 1950 sobre a questão racial, já então muito criticada por ainda reconhecer como “raças” a “caucasoide”, a “mongoloide” e a “negroide”, e revisada no ano seguinte para afirmar que a única “raça” humana é a Homo sapiens. A questão colonial e das independências das antigas colônias também aparecia como um fortíssimo desafio político às potências vencedoras da Segunda Guerra. Muito por força da mitologia freyreana da “democracia racial”, que influenciou os estudos de seus colegas boasianos Melville J. Herskovits, Franklin Frazier, Donald Pierson e Ruth Landes divulgados mundo afora, a UNESCO bancou alguns estudos para, na prática, fazer o elogio da “democracia racial” e responder tanto à demanda de crítica ao racismo “científico” quanto à demanda de “pacificação” dos conflitos coloniais. Os estudos foram coordenados, no Brasil, por Alfred Métraux, então chefe de um departamento de cientistas sociais da UNESCO, e envolveram tanto a pesquisa de Roger Bastide quanto outras, menos conhecidas mas igualmente importantes. Sei da pesquisa sobre “raça” e classe no Brasil rural feita por Charles Wagley, que nunca encontrei para ler, mas conheço com certo detalhe a pesquisa feita na Bahia pelo médico e antropólogo Thales de Azevedo, que teve seus resultados publicados em 1953. É curioso como o antropólogo baiano apresenta mais explicitamente as motivações da pesquisa:
…uma monografia mais descritiva do que interpretativa, assim elaborada para corresponder aos objetivos do Programa de Tensões da UNESCO quando, sob a direção do Prof. A. Métraux, nos solicitou a elaboração de um livro sobre uma situação, a das relações raciais e a da ascensão social das pessoas de cor em uma cidade brasileira, que servisse para mostrar a outros povos uma solução para o problema do convívio entre tipos étnicos diferentes…
Diga-se de passagem que o trabalho de Thales de Azevedo — As elites de cor: um estudo de ascensão social — sofreu censura prévia: quando os resultados da pesquisa empírica demonstraram que o preconceito racial era a norma, e não a “democracia racial”, Métraux solicitou que os dois ensaios que tratavam deste aspecto não fossem publicados com a chancela da UNESCO. Isto porque, diferentemente do que aconteceu no caso paulista, a imagem da Bahia “pintada” pelos antropólogos boasianos (Herskovits, Frazier, Pierson, Landes etc.) era a do melting pot racial, a do mais perfeito e harmônico convívio entre “raças”. (Deve-se levar em conta as diferentes formas de racismo nos EUA e no Brasil para entender melhor a questão, mas o tema não vem ao caso agora.) No estudo de Thales de Azevedo, que não sofreu influência do movimento negro nem a buscou, a gradação de “cores” é pintada com toda a força, e o caráter socialmente hierarquizante desta gradação fenotípica é demonstrado sem qualquer possibilidade de refutação. Ocorre que Thales de Azevedo, apesar de evidenciar o atrito “racial”, era ele próprio um partidário da “miscigenação com hegemonia do elemento branco” (como a vasta maioria dos intelectuais baianos de sua época), e gastou grande número de páginas de sua obra na tentativa de justificar, contra os fatos, sua tese. (Sem qualquer outra consideração, como os inúmeros relatos de viajantes à Bahia ao longo dos séculos, basta olhar os censos de 1872 e 1890 para ver como teria sido numericamente impossível qualquer “hegemonia do elemento branco”.)
Seria a intenção de Métraux encontrar um caso de “conflito” em São Paulo e um de “harmonia” na Bahia? Não sei. Métraux conhecia o Brasil, conhecia São Paulo e Salvador, mas isso pouco ou nada diz a respeito. O fato é que, analisando o estudo do caso paulista e o do caso baiano, os resultados são exatamente estes, e Thales de Azevedo denunciou em outras oportunidades, e por toda a sua restante carreira, as pressões feitas tanto por instituições de pesquisa quanto pela mídia tendentes a abafar as vozes de quem afirmasse a existência de um problema “racial” no Brasil. Reconhecia o racismo e os conflitos “raciais”, mas pretendia resolvê-los sempre sob a hegemonia dos “brancos”.
* * *
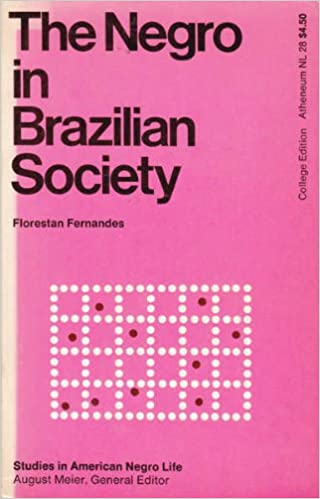
Daí dizer: no Brasil da década de 1950 teria sido “vender a alma ao diabo” recusar esta forma originária de “colorismo”? A meu ver, não. Defendê-lo é defender um tipo de “neutralidade científica” de cunho positivista que tem pouco lugar nas ciências sociais. O problema, aqui, diz respeito não ao financiamento externo como problema, como se o sociólogo fosse um agente inerme frente às “forças imperialistas”, mas ao jogo de interesses entre as pautas políticas do sociólogo como agente interno, de um lado, e de outro as pautas políticas da agência de financiamento como agente externo, inclusive como vetor de soft power dos governantes de seu país de origem e da classe social a que pertencem seus dirigentes.
Além disso, Florestan acreditou que o progressivo alastramento da “ordem social competitiva” (ou seja, do capitalismo, com proletarização, assalariamento, acumulação primitiva etc.) terminaria por eliminar o racismo, que tratou como um “resquício” do período anterior à “modernização”. É como Florestan Fernandes houvesse aplicado ao “colorismo”, em face do surgimento de organizações políticas dos “negros”, o mesmo mecanismo do processo de “simplificação dos antagonismos de classe” descrito na primeira parte do Manifesto Comunista (não se pode esquecer que, antes de acadêmico, Florestan Fernandes fora militante trotskista): de uma sociedade racialmente estratificada numa miríade de graus “de cor” como ponto de partida, a “modernização” capitalista terminaria metamorfoseando os antagonismos “raciais” em antagonismos de classe, seja pela incorporação de negros em lugares de poder, seja pela progressiva democratização nas relações sociais. Pode-se dizer que era esta, também, a esperança das organizações do movimento negro de perfil “integracionista” e “assimilacionista” então existentes? Muito provavelmente sim, se tivermos em conta o caráter minoritário de organizações com perfil “separatista”, de inspiração garveísta — mas estaria sendo apressado com tal conclusão sem antes verificar o que diziam por meio de sua imprensa. A esperança tornou-se realidade? Sabemos que não, mas tanto Florestan Fernandes quanto as organizações do movimento negro daquela época não sabiam disso, tampouco tinham como sabê-lo — e é isto o que importa.
A geração seguinte do movimento negro, a que (como Lélia Gonzalez) veio a fundar o Movimento Negro Unificado (MNU), já não partilhava das mesmas esperanças. Percebera muito atentamente o cruzamento entre a questão “racial” e a exploração capitalista, mantendo em sua pauta um diálogo sempre tenso entre a opressão política de matriz “racial” e a exploração econômica. Percebera que a opressão racista servia bem aos capitalistas, que ora negavam-na, ora diminuíam seu impacto e extensão, ora usavam-na sem pudores para controlar a massa de trabalhadores negros cujo trabalho exploravam. Foi esta geração que mais intensamente combateu o “colorismo”, muito mais que a geração anterior, ao ponto de o tema tornar-se central em sua militância e hoje a gradação “colorista” ser quase o resquício de um passado distante, criticada sempre que aparece. (Sim, há setores “coloristas” dentro do próprio movimento negro. Quaisquer que sejam suas justificativas, elas reproduzem a mesma tática de “dividir para conquistar” que, durante o regime escravista, levou a muita animosidade entre escravizados “da terra” e escravizados “africanos”, entre “africanos” e “mestiços” etc., rivalidade muito bem comprovada em termos historiográficos e sempre estimulada pela aristocracia agrária e seus feitores.) É, também, a geração cuja ação evidenciou mais notavelmente os limites dessa tática, porque é a geração responsável pela reivindicação e posterior implementação do sistema de cotas para acesso a vários lugares (concursos públicos, universidades etc.) e que, ao ver como a “autodeclaração” como critério de “marcação racial” nestes casos deu curto-circuito, terminou criando as nefastas comissões de aferição.
Mas isso é outra história, e já situei o que queria dizer sobre Florestan Fernandes e suas relações com os “negros”. Espero que meu amigo tenha se sentido diretamente provocado e siga o debate. Se não o fizer, respeito sua proverbial discrição e privacidade — mas o debate que proponho gira em torno de temas de atualidade inegável, e ganharíamos todos (eu e o público leitor) se o debate prosseguisse de forma mais articulada.









Seria muito interessante se o Manolo ou o Nicolas Lorca escrevessem sobre esse “sempre esquecido” Solano Trindade. Olhando seus poemas, percebe-se que ele foi um dos primeiros militantes do movimento negro que discutia “questões de classe” em paralelo as “questões raciais”.
Excelente artigo, Manolo. Esse anacronismo e essa visão superficial acerca da obra de Florestan Fernandes tem me preocupado seriamente, a ponto de, numa conversa, o interlocutor afirmar para mim que o referido autor, no campo da discussão racial, não teria nenhuma outra contribuição para além dos anos 1960 e que, por isso, não serviria mais como referência. Ao mesmo tempo, é essa mesma galera que endossa todas as políticas da Fundação Ford e da Fundação Rockefeller no Brasil, sem qualquer crítica a esses financiamentos.
pedinte,
não posso falar por Nicolas Lorca, mas, falando por mim, digo que é preciso entender a enorme diferença que vai de um apreciador ou admirador de uma obra até um especialista naquela obra, naquele tema, naquela forma artística, naquele artista. Relativamente a Solano Trindade sou um apreciador da obra e um admirador da figura humana, nada além disso. Não tenho a bagagem necessária para escrever um artigo sobre ele ou sua obra. Melhor dizendo: tenho tanta bagagem quanto tenho relativamente a Fela Kuti, cuja obra aprecio e cuja contraditória figura me provoca sentimentos igualmente contraditórios. Se escrevesse sobre Solano Trindade, seria um artigo simplório, cópia do que já existe por aí na internet — e se já existe, não vejo por que refazê-lo.
João Marques,
se é o mesmo João Marques que conheci há muitos anos, lembrará que foi você mesmo quem me ensinou sobre Florestan Fernandes e sua relação com o movimento negro. Só o que fiz, ao longo dos anos, foi aprofundar o caminho que você me mostrou.
Manolo,
se você se refere ao João Marques da FDUFBA (2004-2008), é ele mesmo. Acompanho seus textos – e os demais do Passapalavra – e fico feliz com a sua sempre capacidade crítico-analítica, ainda mais num tempo histórico de culto à ignorância e à respostas açodadas.
Um forte abraço,
João Marques
Concordo integralmente com o Manolo, tanto sobre Solano Trindade quanto sobre Fela Kuti
“Vinde irmãos macumbeiros
Espíritas, Católicos, Ateus.
Vinde todos brasileiros.
Para a grande reunião.
Para combater a fome
Que mata a nossa nação
Vinde Maria Pulcheria
João de Deus, José Maria
Anicacio, Zé Pretinho
Para a grande reunião
Para combater a malária
Que mata a nossa nação
Vinde trapeiro, pedreiro,
Lavrador, arrumadeira,
Caixeiro, funcionário.
Combater tuberculose
Que mata a nossa nação
Vinde irmãos sambistas.
Da favela, da Mangueira
Do Salgueiro, Estácio de Sá.
Para a grande reunião.
Combater o analfabetismo
Que mata nossa nação.
Vinde poetas, pintores,
Engenheiros, escritores,
Negociantes e médicos
Para a grande reunião
Combater o fascismo
Que mata nossa nação”. (Toque de reunir. Solano Trindade)
Gostei muito da provocação, e senti falta da conclusão. Não sabia dos cortes na tradução nem da eliminação das gradações, e o que v. especula faz muito sentido, conhecendo a autocrítica (não no sentido de autoimolação, mas de reconsideração mesmo) que Florestan faz de seus trabalhos sobre a questão racial. O debate sobre o contexto tanto da pesquisa inicial com Bastide quanto da tradução me parece fundamental para entender essa autocrítica. É possível inclusive, acho eu, identificar diferenças significativas entre Bastide e Florestan em “Brancos e Negros em São Paulo”, pois os textos são assinados de forma independente, o que me parece ter sido uma solução de compromisso entre uma posição que enfatizava mais o conflito (a de Florestan) que a outra. Mas é um palpite, não fiz um estudo detalhado disso. Recentemente li uma transcrição de uma sessão dessa pesquisa, se minha memória não fala, a própria condução da sessão, em que há muitos depoimentos da comunidade negra paulistana sobre casos de racismo, é transmitida para uma liderança.
Fiquei um tanto confuso com o comentário de Haroldo Ceravolo Sereza. Ele diz sentir falta de uma conclusão num artigo que tem uma conclusão muito explícita. Os leitores precisam entender que nem tudo o que encontramos internet afora satisfará nossos desejos, porque quem escreveu já disse tudo o que precisava dizer para os fins a que se propunha.
Oi Manolo,
Seu artigo é ótimo e eu acho que você deveria escrever mais sobre o tema, porque a partir dos dados que você levantou eu imagino que tenha muito mais a dizer. Mas é opinião de leitor, entendo o que v. chama de conclusão explícita é realmente uma conclusão explícita para algumas questões que você levanta, mas não para as muitas outras que para mim apresentou. Meu intuito era só elogiar mesmo. Grande abraço.
O ostracismo pelo qual Florestan passou na universidade após o AI5 se deve, justamente, por sua crítica aos financiamentos das fundações ligadas às grandes fortunas do Brasil e dos EUA. Talvez fosse interessante investigar o papel desses financiamentos na atual construção das narrativas sobre os negros. Isso é fácil de fazer, é só verificar quem financia essas pesquisas e os discursos para imprensa desses funcionários do grande Capital.
* * * * * *
Manolo, parabéns pelo texto, vou atrás da hipótese de Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo ter aberto as portas do movimento negro paulista à academia. Numa mesa com Márcia Lima (USP/CEBRAP/FORD/ITAÚ/UNIBANCO), que deveria homenagear Florestan e Integração do Negro, Sidney Chalhoub segue os passos do orientador Robert Slenes e tenta desqualificar o sociólogo. Em dois momentos de sua fala, Chalhoub afirma ser muito diferente de Florestan, pois aprende estudando e não ouvindo a militância do movimento negro! É curioso um camarada defender cotas mas ser contra ouvir a militância do movimento negro sobre questões que dizem respeito ao que os negros vivem…
Para conferir a fala de Chalhoub (entre minutos 25 e 26), bem como as demais, segue o link da atividade: https://youtu.be/ZHuLcUgKO3k
Caro João Marques, muito obrigado! Um abraço, Paulo
Desculpem a insistência no tema, olhem que bonito
a fala do Miltão sobre a interlocução com Correia Leite e Florestan:
“Houve um período em que a gente tinha contato com o “Clarim d’Alvorada” da Frente Negra Brasileira(2), o José Correia Leite, Jayme de Aguiar, Henrique Cunha, nós tínhamos discussões sistemáticas com ele. Houve uma época em que nós tínhamos discussões sistemáticas com o Florestan Fernandes. Por exemplo: aquele livro A Incorporação do Negro na Sociedade de Classes, é um livro importante e tal, mas ainda era o ponto de vista de um branco sobre o negro. A partir dessas discussões que a gente faz com o Florestan, ele muda o rumo da obra dele e começa a fazer uns livros muito mais fortes, profundos, revolucionários mesmo. Entendeu? Tinha um sociólogo chamado Eduardo Oliveira e Oliveira, negro, gay assumido, era outra figura importante com quem tivemos contato. Tivemos contato com pessoas importantes, como a Thereza Santos, teatróloga, que fez a peça E Agora… Falamos Nós, que discutia a questão do negro, escrita pelo Oliveira e Oliveira. Figuras fundamentais que foram dando base pra gente.” https://fpabramo.org.br/2020/12/29/miltao-do-movimento-negro-unificado-com-certeza-vamos-avancar/?fbclid=IwAR1-tcGFkZXg4Jt8LfyhGQQyqbMgUS2OTG3VIJGirLPdYOQrrNAIo3osKDU