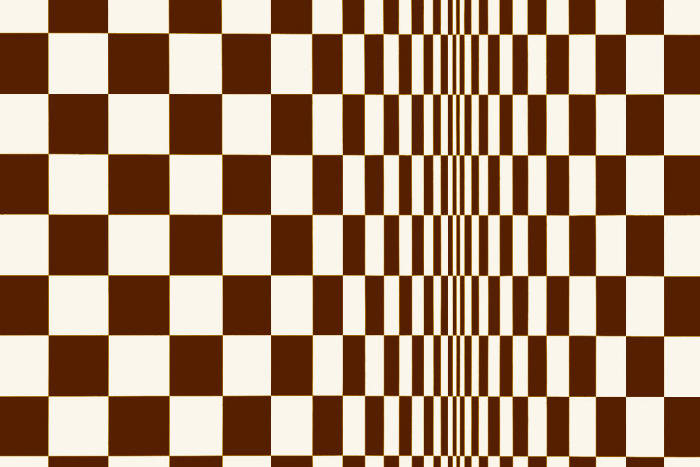Por Miguel Serras Pereira
Passados quinze anos sobre a publicação da minha tradução do Quixote de Cervantes [1], pareceu-me que talvez valesse a pena retomar parte das várias notas e breves textos ocasionais que, entretanto, fui levado a escrever sobre aquilo a que Walter Benjamin chamava a “tarefa do tradutor”.
Acontece que, sempre que sou convidado a intervir sobre essa tarefa, dou por mim a associar quase livremente certas páginas, interrogações, formulações que encontrei ao longo dos anos ao ler (e reler) o que, entre uns quantos mais, e além do já citado Walter Benjamin, Octavio Paz, George Steiner ou Antoine Berman escreveram sobre o tema. Mas, a partir de certo momento, é a imagem da torre ou da fossa, da maldição ou da bênção, de Babel que, pouco originalmente e na esteira de tantos outros, me parece ter de interrogar, uma vez mais.
E se, mais do que somente mito ou metáfora da dispersão ou divisão das línguas, o episódio de Babel fosse, ao mesmo tempo, uma outra narrativa, uma outra versão da invenção da linguagem? Quer dizer, desse momento — que Lévi-Strauss considera consistentemente só poder ser súbito — em que, do corpo-a-corpo de um grupo humano com a paisagem de que é parte, se dá a metamorfose que cria essa forma ontológica nova que é a palavra, com a sua potência de significação indefinida, a sua posição, produção, exigência de sentido, cuja erupção transforma a natureza, o teor, a própria “substância” desse corpo-a-corpo de onde vem, transformando no mesmo lance a natureza, o teor e a própria “substância” da sua paisagem anterior.
Assim entendido, o episódio de Babel mostrar-nos-ia que a potência de metamorfose que a linguagem faz ser no real, faz ser no ser, é ao mesmo tempo a potência de multiplicidade ou multiplicação indefinida das línguas — ou, por outras palavras, que a invenção da linguagem é multilingue, indefinidamente multilingue em si própria, e que, por isso, no núcleo metafórico e metamórfico mais fundo e denso da singularidade de cada língua pulsa esse multilinguismo, essa potência de multiplicidade ou multiplicação, que torna impossível, sob pena de morte, a sua codificação exaustiva, o seu ensimesmamento identitário, a fixação e a resolução especulares e sem resto da sua história. Do mesmo modo, a necessidade da tradução que se faz sentir entre as línguas — devido a essa sua multiplicidade ou multiplicação que, a esta luz, o episódio de Babel nos mostra confundir-se com a própria criação ou invenção da linguagem — é, ao mesmo tempo, uma necessidade ou exigência interna de cada língua singular na qual, através de um corpo-a-corpo primeiro dos humanos com a paisagem de que são parte, a linguagem nasce e transforma essa paisagem. Trata-se de uma necessidade ou exigência interna que cada língua, enquanto invenção da linguagem, partilha com todas as outras e a abre a todas as outras, pois que a criação singular que distingue cada língua de todas as outras é obra dessa potência de metamorfose ontológica comum que faz com que cada língua seja parte inteira da criação da linguagem enquanto tal, e que faz também com que, ao traduzir-se a si própria, recriando-se e repetindo a criação radical dessa metamorfose ontológica que é a invenção da linguagem, cada língua possa, sempre na sua história singular, traduzir outras e traduzir-se noutras.
Assim, condensando em extremo, podemos dizer talvez que, se cada “poema original”, se cada “poema autêntico”, como lhe chama Gastão Cruz, recria ou repete de certo modo a criação da sua própria língua, a tradução desse poema noutra língua repete, ao recriar a língua de chegada que a tradução ao mesmo tempo preserva e transforma, a própria invenção da linguagem enquanto tal que em cada língua singularmente se consuma. Tal é a poética da tradução que, como querem Gastão Cruz e Octavio Paz, escreve o mesmo poema noutra língua e, fazendo-o, continua e renova a invenção da linguagem através da comunicação ou comunhão que cria entre as línguas.
Conheci várias traduções do romance de Cervantes antes de me ter passado pela cabeça a possibilidade de vir a ser seu tradutor. Li, primeiro, uma adaptação da obra que existia na “Biblioteca dos Rapazes”, da Portugália; mais tarde, na adolescência e até aos 20 anos, a tradução de Aquilino Ribeiro [2], que é uma versão e até uma “revisão” do texto de Cervantes, e a dos viscondes de Castilho e Azevedo [3]. Mais tarde ainda, mas bastante cedo e nos meus tempos de estudante, pude felizmente conhecer o texto castelhano e dar-me conta do que há de radicalmente insatisfatório nas duas últimas versões citadas. A crítica principal que se pode fazer à tradução de Aquilino consiste em admitir o que ele próprio diz dela e das suas preocupações ao fazê-la: trata-se de rever Cervantes, de melhorar o seu estilo lamentável, para o pôr mais à altura do seu génio de efabulador; trata-se também de aportuguesar o texto, de o adaptar a uma certa ideia da língua e da literatura portuguesas, em vez de tentar importar a sua estranheza e originalidade, a sua diferença e voz singulares. Um pouco pelo mesmo vezo, embora um pouco mais modestamente e menos declaradamente também, peca a tradução dos dois viscondes: inscreve-se na tradição das belles infidèles, das traduções patrióticas e melhoradoras, que adaptam e limam as arestas do original, normalizam e elidem as singularidades tanto da língua de partida como davoz e da poética distintivas do autor.
Quanto à minha tradução, da qual não sou evidentemente o melhor juiz, é devedora de uma inspiração e de uma reflexividade crítica diferentes: a ideia é acolher a alteridade da língua e da voz, ou, se se quiser, do tempo e do modo. É por isso que a tradução é re-criação ou, como diria Octavio Paz, confronto com essa impossibilidade de “fazer o mesmo poema noutra língua”, sendo que esta noção de poema inclui o romance e os outros géneros literários que se queiram considerar. Nos casos importantes, é necessário imprimir à língua e à cultura de chegada ou de recepção transformações e desvios em relação à simples normalidade com um alcance comparável aos que a obra traduzida operou ou criou na língua, cultura, tradições literárias, etc. do texto de partida.
Há, entre nós, excelentes exemplos deste modo de traduzir e de entender a tradução, com tudo o que isso implica dentro e fora parte do mundo literário ou textual: para citar apenas um caso maior, pense-se no trabalho de João Barrento. No entanto, gostaria de prestar homenagem aqui à memória daquele que foi o meu principal “interlocutor mental”, ao reler, como que para as ouvir, as passagens que mais me fizeram hesitar: David Mourão-Ferreira, poeta e tradutor de poesia de incalculável grandeza, além de leitor de uma generosidade crítica exemplar que evoquei muitas vezes como um viático enquanto levava a cabo o meu trabalho. De certo modo, tive também dois outros interlocutores mentais, que nunca consultei de viva voz ou por escrito sobre a minha tradução e com os quais creio que nem sequer me aconteceu falar enquanto a estive a fazer: Maria Velho da Costa e Almeida Faria. Porquê estes e não outros? Eis uma questão a que não sei responder: decerto porque são autores de páginas que admiro imensamente, figuras maiores da ficção portuguesa — e não só — contemporânea. Mas há alguns mais – ainda que não demasiados – dos quais poderia dizer o mesmo e com quem não tive o mesmo género de “práticas” imaginárias. É verdade – embora não seja uma explicação – que Maria Velho da Costa chamou a um dos seus primeiros livros Desescrita, e que é necessário, também para traduzir, “desescrever” a própria língua, tocando o seu sem-fundo inicial, e assim chegar o mais perto possível do que não está escrito que habita a obra traduzida e nela nos leva, como diria Cesariny, “lá longe onde se cruzam as nascentes”. Lembre-se que Proust associava a condição do autor-“fazedor” à condição de “estrangeiro na sua própria língua”, e que a tradução dita literária, como a filosófica, faz com que tanto o tradutor como o leitor experimentem um pouco como uma língua estrangeira aquela mesma que lhes é aparentemente mais familiar ou natural, ao mesmo tempo que esta emergência da estranheza, da incerteza e do que não está escrito na língua nos põe em contacto com a criação da linguagem e, nessa criação, com aquilo a que já tenho chamado a “língua de ninguém” que há no fundo ou sem-fundo de cada língua e de cada voz, e que é necessário atravessar, para traduzir, como antes para a escrever, a obra – do mesmo modo que para essa “leitura bem feita” do “fazer” do poema ou do romance que George Steiner nos recomenda. Quanto a Almeida Faria, o seu Cavaleiro Andante, e não só, entabula um diálogo em profundidade, embora implícito e não sei até que ponto consciente por parte do seu autor, com o Quixote ou, talvez melhor e mais geralmente, com aquilo a que Milan Kundera chama a sua tradição.
Não é, sem dúvida, de ânimo leve que se aceita a responsabilidade de traduzir um livro que, para muitos, é o primeiro romance da história da literatura universal, quer dizer que é o romance que cria o género romance, que cria essa forma profundamente original de criação reflexiva e crítica, até então inédita entre as coisas feitas pela humanidade, a que Milan Kundera chama a “tradição do Quixote” ou a “tradição de Cervantes”, que são, no seu vocabulário, sinónimos da “tradição do romance”, apresentada por seu turno como um traço civilizacional distintivo, que nada tem de natural ou de antropologicamente automático e que, diria eu, importa defender, porque é solidário de uma sociedade trabalhada pelo projecto de autonomia (Castoriadis), pela liberdade responsável, pela criação de liberdade e pela liberdade de criação, cuja metáfora podemos encontrar no verso de Sophia, que a minha memória nunca mais deixou de quase obsessivamente evocar desde que o li pela primeira vez, e que nos fala dos que “Navegavam sem o mapa que faziam“. À margem da minha actividade de tradutor, tenho feito da arte que este verso nos propõe o núcleo do que poderia ser uma cidadania democrática plena e um dos fins maiores de uma formação democrática consequente. Mas, se virmos bem, é também navegando sem o mapa que fazem que os romances se escrevem, ao mesmo tempo que o mundo que o romance pressupõe é um mundo onde se navega sem mapa, ou que os mapas antecipados não contêm, denunciando radicalmente a falsidade de um mundo exaustivamente cartografado ou sequer cartografável. A verdade humana — individual e social —, pois é disso que se trata, tem de ser criada de novo a cada encruzilhada para ser verdadeira.
As Escrituras dizem-nos que a verdade liberta. Mas a verdade que liberta não é a revelada, mas a que criamos, ou, se se quiser, a que se revela na medida em que, para o bem e para o mal, nos reconhecemos como criação e acção. Porque também a “acção” característica do romance, a acção que se representa na tradição de Cervantes ou do romance, consiste, como essa da qual politicamente nos falava Hannah Arendt, em começar qualquer coisa de novo, ou, poderíamos nós dizer, em fazer ser qualquer coisa de novo.
Eis outras tantas pontas da meada do exercício dessa faculdade radicalmente dialógica de julgar que o romance de Cervantes, a tarefa da sua tradução, a interrogação dos caminhos da sua recepção, o gosto com que o discutimos, e discutindo potenciamos e esclarecemos, solicitam: exercício sem dúvida tão interminável, o que não quer dizer inútil ou simplesmente repetitivo, como a livre criação de liberdade que, no romance e para além dele — em todas as dimensões do que em muitos sentidos poderíamos dizer o seu mundo ou os seus mundos — a tradição do Quixote nos propõe.
Notas
[1] Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha, trad. e notas Miguel Serras Pereira, textos introd. Maria Fernanda de Abreu, il. Salvador Dalí, rev. Clara Boléo, 1ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2005.
[2] Miguel de Cervantes Saavedra ; versão de Aquilino Ribeiro, il. Gustave Doré, 1ª ed., reimp., Lisboa, Bertrand, 2015.
[3] Miguel de Cervantes, O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, trad. dos Viscondes de Castilho e de Azevedo, Mem Martins, Europa-América, 2004.