Entrevista de Gigi Roggero a David Gallo Lassere
O operaísmo com frequência recebe a acusação de desenvolvimentismo…
Em parte justificada, sobretudo por essa evolução na qual a tendência se torna teleologia. Creio porém que igualmente problemática, ou até mais, é a retórica contra o desenvolvimento amplamente feita nas últimas décadas, porque com frequência assume posturas moralistas e com fundo de classe – da outra classe, nesse caso. É muitíssimo fácil ser a favor do decrescimento bebericando conhaque no seu próprio e confortável escritório da Sorbonne… Nem todas as posições contra o desenvolvimento se resumem ao decrescimento, mas até as melhores e as mais interessantes para as lutas correm o risco de cair nesse ponto polêmico. De fato, tanto o desenvolvimentismo quanto o antidesenvolvimentismo não acertam o alvo e acabam sendo demasiadamente ideológicos: um imagina os sujeitos revolucionários em tudo que é produto do desenvolvimento do capital, o outro os imagina em tudo aquilo que precede ou que está ilusoriamente “fora” desse desenvolvimento. Uma opção está tão dentro que até se esquece de ser contra, e é assim presa a um reformismo impossível; a outra invoca um ataque à fortaleza vindo de fora, contando com um espontaneísmo irreal. O materialismo privado da vontade revolucionária desemboca no determinismo; a vontade revolucionária privada do materialismo desemboca no idealismo. Queiramos ou não, então, estamos inevitavelmente dentro do desenvolvimento e das suas contradições caóticas, e portanto não podemos deixar de ter um olhar às suas contradições ambivalentes: precisamos compreender quanta contrassubjetividade e quantas possibilidades de antagonismo se criam e se destroem no interior do desenvolvimento, quantas se criam e se destroem quando fazemos resistência a ele ou quando impulsionamos o processo para frente. Contrauso do processo significa não apenas usar os meios produzidos pelo desenvolvimento para outros fins, mas torcê-los, transformá-los, fazendo-os criar outras coisas. Uma vez que “estar dentro” não é uma questão de desejos individuais ou de experiências existenciais, mas da materialidade concreta das relações sociais que combatemos, o ponto é como ser contra.
Em suma, a dialética entre desenvolvimentismo e antidesenvolvimentismo, aceleração e decrescimento, modernidade e antimodernidade, é toda interna ao ponto de vista o capital. O capital se compõe de aceleração e breque, ele destrói a composição de seu antagonista e recompõe os fragmentos produzidos conforme suas exigências de desenvolvimento. Então o problema para o militante é encarar o desenvolvimento sob o ponto de vista da nossa macroparte, real ou potencial, para conter os elementos que impeçam a aceleração destrutiva da inovação capitalista – ou seja, a que nos empobreceria – e acelerar os elementos que produzam ruptura na contraparte, que enriqueçam a subjetividade e a autonomia do nosso lado.
Para entender o “que fazer” do militante podemos usar, desculpe a brutalidade, a metáfora de um câncer. No nosso corpo devemos frear a força do mal, que desenvolve o câncer; no corpo do nosso inimigo devemos acelerar a metástase produzida pela luta de classes. Entre os dois movimentos há uma relação, mas não é nunca simétrica, temporalmente linear, teleológica. O conflito deve funcionar como câncer contra o lado de lá e como vacina no nosso interior, quer dizer, como a inoculação controlada de veneno para reforçar o organismo. Conosco tem acontecido geralmente o inverso: o conflito se torna câncer em nosso interior, sendo fonte de divisões frequentemente inúteis, e vacina para o lado de lá, portanto, inovação capitalista.
Passemos então à figura do militante, à qual você dedicou um ensaio recentemente. Quem é o militante? Quais são seus papéis e sua importância?
Nas coisas que eu falei até agora já apareceram várias partes dessa resposta, porque a militância não é um aspecto específico: é o nosso ponto de vista, é a nossa forma de vida, é aquilo que somos, que dizemos, que pensamos. O militante é, por definição, aquele ou aquela que põe inteiramente em jogo a própria vida. Essa verdade assume formas diferentes a depender do momento histórico, da composição de classe, dos processos organizativos. Quando, na virada do milênio, começou a se falar em “ativistas”, seguindo a moda reinante anglossaxônica e americana, não se tratava de uma simples concessão linguística, mas de uma concessão estrutural. Foi perdida sua incomparabilidade em relação a outras figuras, como a do voluntário. Figuras do interesse geral, portanto da reprodução do existente. O militante é, ao contrário, um sujeito divisivo, produz continuamente o “nós” e o “eles”, marca posição e obriga a tomar lado. Separa para recompor do seu próprio lado. É uma figura sobretudo da negação, porque recusa o existente e se lança para destruí-lo. A partir da negação, produz os macro-objetivos coletivos e novas formas de vida.
Muito frequentemente, sobretudo em momentos difíceis como o atual, sentimos muitos companheiros se lamentando da ausência de lutas, ou se contentando com as lutas dos outros. Depressão e euforia mimetizam os movimentos do mercado financeiro, bolhas e vouyerismo desaparecem na velocidade de um tweet. Contudo, os momentos históricos não são belos ou brutos: são espaços nos quais nos colocamos dentro e contra programaticamente. Eles não devem ser combatidos com base em nossos desejos, mas combatidos com base em nossas tarefas. É uma pena afundar na crônica cíclica da luta e da falta dela, oscilando entre a euforia do torcedor e a depressão do espectador, entre um senso imotivado de derrota e proclamações injustificadas de vitória.

Vamos deixar disso, se quisermos estar à altura do momento. Primeiro, devemos compreender que o momento mais importante para o militante é justamente aquele no qual as lutas não acontecem. Quando acontecem de fato, o militante revolucionário chega tarde demais. Devemos nos antecipar para organizar e dirigir, não observar para relatar e descrever. E devemos também acrescentar que quando as lutas acontecem, mesmo os militantes – falo neste caso do contexto italiano – não conseguem entendê-las porque escapam de seus esquemas, ou eles acabam atuando como uma trava para que elas se desenvolvam. Portanto, não podemos nos deprimir com um panorama monótono, tampouco nos fascinar com as ondas do mar na tempestade, vamos ao invés disso procurar e pegar os furacões invisíveis que se agitam sob a aparente calma do rio. Esta é a tarefa do presente, o nosso “que fazer” a se construir.
Vamos agora à categoria criada do “pós-operaísmo” que, como você observou, às vezes corre o risco de conduzir a um falso imediatismo da tradução da composição técnica para a composição política…
Devemos nos desembaraçar definitivamente da ideologia do “pós”, que desde os anos 80 e 90 vem nos mantendo presos a uma chantagem: escolher entre quem diz que nada será como antes e quem diz que tudo será como sempre foi. Estão ambos errados. Para retomar os instrumentos conceituais do modelão alquatiano, podemos dizer que nos níveis elevados da realidade (como vimos, os da acumulação de dominação e do capital) não mudou nada, nos níveis intermediários da realidade ocorreram mudanças significativas, nos níveis baixos da realidade as coisas mudaram velozmente. Para captar as permanências e mudanças se deve pesquisar, entender onde as coisas variaram e por quê, e quais espaços de possibilidades de antagonismo foram abertos. A ideologia do pós ao invés disso pretende contar sobre um mundo novo, sempre novo; é o mundo narrado pela retórica da inovação, que é a verdadeira retórica do capitalismo contemporâneo. Uma retórica que organiza uma materialidade concreta, como vimos, a da contrarrevolução capitalista.
Assumindo a ideologia do “pós”, uma parte daqueles que reivindicaram a herança operaísta imaginaram a classe (termo que por um certo período ficou abolido por decreto) como resultado objetivo das reais ou supostas transformações do capital. Ou seja, foi removido o nó da composição de classe, do processo político de contrassubjetivação e de sua transformação. Foi removido o nó da ruptura, com o capital e no interior da composição de classe. Não é mais a classe contra si mesma, mas uma classe que magicamente se torna autônoma e deve simplesmente ser reconhecida em sua autonomia. Não há mais necessidade de se romper com o capital, mas simplesmente sair dele (paradoxalmente, até posições que são mais fortemente caracterizadas pelas críticas e contraposições ao Negri terminam chegando a conclusões semelhantes). Ainda que nascidos da recusa ao trabalho, alguns pontos do chamado “pós-operaísmo” terminaram paradoxalmente dando vida a uma espécie de trabalhismo imaterial e cognitivo, onde perdem de vista a diferença fundamental entre as competências capitalistas e os conhecimentos do nosso lado, entre valorização e autovalorização, entre a riqueza da acumulação e a riqueza da luta. O problema, precisamente, provém da ideia de uma cooperação já livre em relação à qual o capital é um agente parasitário, quando o trabalho teria se tornado comum – coisa que pode ser verdadeira, se acrescentarmos que esse é o comum da exploração e do trabalho abstrato sob comando do capital.
A própria definição de “pós-operaísmo” foi cunhada nas universidades anglossaxônicas e americanas, como tentativa de capturar a potência do operaísmo, despolitizá-lo e abstraí-lo do conflito e da composição de classe. Para fazê-lo ser, então, bom à academia e à economia política do conhecimento, e não mais às lutas. Depois se tornou “Italian Theory”, que se diferencia do “Italian Thought”, e depois haverá a “Teoria Crítica Italiana”, o “Pensamento Crítico Italiano” e por aí vai, rumo ao infinito, numa teoria que é distanciada da composição e da luta de classes, para ficar firmemente atada à valorização e reprodução do capital, além das conferências e cátedras universitárias.
Esse conjunto de teorizações e análises que foram reunidas na definição acadêmica de “pós-operaísmo” cresceu entre os anos 80 e 90 numa tentativa de derrubar as imagens aniquiladoras do fim da história e do pensamento único – espelhando-as. A finalidade como polêmica era e continua correta, o desenvolvimento prático nem sempre ficou à altura. Alguns desses esforços conceituais eram problemáticos do início ao fim, pelos motivos que indicamos esquematicamente, sobretudo pela ideia de que a composição política descende de modo automático da composição técnica; outras foram extremamente produtivas e ainda podem continuar sendo, desde que sejam repensadas dentro das mutações ocorridas na crise e no esgotamento de um modelo geral. Neste caso, não recomeçar de novo é que significa realmente voltar. Significa, noutras palavras, correr o risco de ossificar as categorias, de transfigurá-las em dogma, de transformar o operaísmo naquilo que nunca foi: uma escola, e não um movimento do pensamento. Significa, consequentemente, dar espaço a operações de ataque rancorosas a todo um quadro teórico revolucionário. Tratam-se de operações irrelevantes, está bem, mas que correm o risco de deslocar o debate para uma defesa dos conceitos ao invés de sua utilidade na luta. Põem o risco de, com isso, arrastar tudo à marginalidade política. Num recente seminário político um companheiro observou justamente que um menino não vai sair de casa quando os pais o expulsam, mas quando eles já não estão mais lá dentro. Aqui, digamos sem medo que uma certa casa é hoje improdutiva para nossas tarefas revolucionárias e tentemos fazer aquele movimento original que foi próprio do operaísmo em relação à Marx: o retorno maquiaveliano aos princípios, isto é, a Marx e contra o marxismo. Agora a tarefa é retornar ao operaísmo, talvez não contra, mas com certeza de modo crítico em relação ao “pós-operaísmo” que não funciona mais, ou que nunca funcionou. Se o fizermos, estaremos em condições de não jogar fora aquilo que for útil, e repensar radicalmente o resto.

Por exemplo, frente aos processos de estratificação e industrialização do trabalho, “capitalismo cognitivo” ainda é uma categoria útil?
Sempre preferimos falar de cognitivização do trabalho, por um lado para deliberadamente diferenciá-la da categoria confusa do trabalhador imaterial, por outro para insistir no processo de reorganização e hierarquização global das formas da produção e da exploração num momento em que o conhecimento tornou-se cada vez mais central na acumulação de capital, evitando assim escorregar na identificação entre trabalho cognitivo e sujeitos definidos num sentido setorial, ou na contraposição entre trabalhadores manuais e trabalhadores intelectuais, ou ainda um retorno à imaginária suposta ponta mais avançada da composição técnica (os trabalhadores cognitivos) como a ponta mais avançada da luta. Portanto, deve ser combatida qualquer ideia de uma linearidade progressiva: cognitivização do trabalho significa também cognitivização da exploração e da métrica, cognitivação das hierarquias, cognitivização das tarefas.
Como já sublinhado, a crise econômica global, por sua vez, acelerou os processos de estratificação e diferenciação que já estavam em curso, de formas contraditórias e com intensidades diversas de acordo com os setores e regiões do mundo. Seguindo a linha alquatiana, Salvatore Cominu fala a respeito da industrialização do trabalho cognitivo: competências, funções e profissões até então inseparáveis de quem as carregava e da cooperação social em que se inseriam, são agora sujeitas a processos de subsunção real – na produção de bens e conteúdos, de serviços, no tempo de consumo, reprodução, etc. Trata-se, ao mesmo tempo, de expropriação de saberes e de sua potencialização, de forma combinada, como sempre fez o sistema industrial: mas é uma potencialização para a acumulação do capital, que de forma ambivalente alarga a cooperação social e devora capacidade humana, incorporando-a no sistema automático das máquinas marxiano. Na cognitivização do trabalho, portanto, o homo faber se transforma em sapiens e homo sapiens se transforma em faber. Cognitivização e banalização caminham, ao menos parcialmente, juntas.
Tendo base nisso, desenvolvendo as pesquisas sobre a universidade conduzidas por Alquati nos anos 1970, falamos em conhecimento vivo para definir de modo historicamente determinado a nova qualidade do trabalho vivo, ou a tendencial incorporação do conhecimento social a ele. Não se trata, de fato, de simplesmente ressaltar o papel central da consciência e da ciência nas formas de acumulação contemporâneas, mas de focar justamente na sua socialização e na sua incorporação ao trabalho vivo. Esta socialização, nos anos 1970, aconteceu sob o impulso das lutas, da recusa do trabalho, da reapropriação, da autonomia operária. Esse era o operário social: figura política, não técnica. Hoje, quarenta anos depois, as relações de força se inverteram: a socialização ocorre sobretudo de modo forçado, a partir das exigências do capital. O conhecimento efetivamente não é em si bom ou neutro, como muitos esquerdistas pensam: é o fruto de uma relação de produção, portanto uma relação de conflito e de força. Do operário social ao trabalhador cognitivo, o sujeito toma corpo tecnicamente e perde corpo cognitivamente. O operário social foi assim transmutado num ator da invocação e da precariedade: continuou a ser social, deixou de ser operário.
Daqui devemos recomeçar, dentro e contra o presente. A nossa hipótese, forçando e simplificando, é que hoje, na crise, a recomposição entre a classe média desestruturada e o proletariado hierarquizado nos processos de “cognitivação” e reprodução da capacidade ativa humana poderia ser o equivalente funcional da aliança entre operários e camponeses na crise de um século atrás, na Primeira Guerra Mundial. Dizemos que poderia, obviamente, porque depende de nós se de fato será ou não, de um nós em potencial, de um nós que não se limita àquilo que atualmente somos. Se não tivermos essa capacidade, tais figuras serão o combustível de opções reacionárias, ou vão se reproduzir de qualquer maneira como fragmentos produzidos pelo governo da crise. Hoje mais que nunca, portanto, devemos saber como nos mover com um ponto de vista unilateral dentro da ambiguidade dos processos, com extrema flexibilidade tática e dura rigidez estratégica: muito melhor a sujeira do real do que a pureza da ideologia, muito melhor disputar os territórios sociais com a conflituosa direita materialista do que catequizar a covarde esquerda idealista, ou seja, muito melhor os problemas da copesquisa militante que a inútil pureza das selfies dos ativistas. Para usar a palavra do poeta, lá onde há o perigo, cresce também aquilo que salva.
Em relação a isso, uma dupla questão: acabou de passar o centenário da Revolução… eu te pergunto, então, de que modo o operaísmo se apropriou de Lênin nos anos 70, e de que modo refletir sobre a experiência leninista pode ainda ser útil nos dias de hoje?
A resposta demandaria muito tempo e espaço, por isso indico um panfleto que escrevi recentemente para a Editora DeriveApprodi, O trem contra a História. Considerações desatualizadas sobre 17. Por isso não vou me alongar muito aqui.
Um Winston Churchill desesperado observou: “Foi com um sentimento de temor reverencial que os comandantes alemães desencadearam a mais terrível das armas contra a Rússia. Transportaram Lênin da Suíça à Rússia num caminhão lacrado, como se fosse uma bactéria da peste”. Deixemos pra lá a versão segundo a qual foi um cálculo da Alemanha consentir com o retorno do dirigente bolchevique a Petrogrado. Concentremo-nos ao invés disso no cara que quebrou a banca, seja lá quem fosse ele. Churchill involuntariamente nos dá assim uma definição extraordinária do que é o militante: uma bactéria da peste. E como organizar as bactérias da peste foi o problema imediato de Lênin. Marx nos forneceu o mecanismo de funcionamento da máquina capitalista, a questão – que retornará com o operaísmo, e que devemos sempre ter presente na prática militante – é não ficar preso nesse mecanismo, romper aquele circuito fechado. Onde atacar, como difundir a peste, de que modo e em quais pontos destruir o inimigo. Partir não das leis de movimento do capital, mas das leis de movimento da classe operária dentro e contra a sociedade capitalista: é essa simultaneamente a continuidade e a inversão leniniana de Marx.

O Lênin que nos foi transmitido pelo leninismo, historicista e objetivista, fiel ao estado de desenvolvimento, é pura mentira e deve ser esquecido. Em todo seu percurso, Lênin tenta continuamente forçar, interromper ou inverter o desenvolvimento do capital, ou então impor a vontade revolucionária dentro e contra a História. Na época da polêmica com os populistas russos, Lênin não diz que o desenvolvimento do capitalismo na Rússia é necessário e almejável, diz simplesmente que o desenvolvimento do capitalismo na Rússia é um dado da realidade. A batalha conduzida pelos naródniques [populistas russos] revolucionários foi perdida, a guerra ainda vai ser combatida. A partir dali é necessário pesquisar as novas formas de expressão da subjetividade revolucionária e construir formas adequadas de organização. Eis a aposta de Lênin: o proletariado industrial, que é deixado de canto pelos populistas de sua época (parentes desbotados que traíram a herança do populismo revolucionário), é em tendência a linha de frente, “a vanguarda de toda a massa dos trabalhadores e explorados”. Essa tendência tem o destino de se realizar pelas inelutáveis leis de movimento do capital? Nem de brincadeira. Só a luta decidirá o destino. Os outros ficam presos à gestão das certezas falaciosas do presente. É preciso escolher, é preciso apostar, é preciso ousar: “quem for representar o desenvolvimento de qualquer fenômeno vivo deve inevitavelmente e necessariamente enfrentar o dilema: ou adiantar os tempos, ou ficar pra trás”. Não há meio do caminho, sentencia ele. E, assim, em 1905 e depois, em fevereiro de 17, está formatado a pensar que aquelas são revoluções burguesas e que os proletários precisariam esperar chegar sua vez, isto é, precisariam aguardar que o desenvolvimento histórico, e não as lutas, entregasse em suas mãos o socialismo e depois o comunismo: de jeito nenhum! É preciso estar dentro do movimento revolucionário, romper a linearidade, dirigi-lo para outro rumo. É preciso pular os estágios de desenvolvimento, reverter a potência do possível contra a miséria da objetividade. Apenas assim se pode fazer a revolução contra O Capital, rompendo o ciclo vicioso de Marx.
Porque os revolucionários – esse é o grande ensinamento leniniano – devem sempre estar preparados para a ocasião, sem pensar que esta cai do céu e transcende a materialidade da dinâmica histórica, da continuidade organizativa e da paciente construção das relações de força. O ponto é criar com método as condições de possibilidade para conquistar a ocasião, para agarrá-la. Trata-se portanto de pensar a relação entre processo e evento, ou entre continuidade e quebra, de forma completamente diferente, assumindo que a simples continuidade do processo sem a descontinuidade do evento conduz ao objetivismo, enquanto a pura descontinuidade do evento sem a continuidade do processo conduz ao idealismo. Eis como o dirigente bolchevique colocou a vontade herdada dos populistas revolucionários sobre as pernas do materialismo histórico, e tirou o materialismo histórico de Marx da jaula do objetivismo.
Deve-se esquecer o Lênin dos leninistas, assim como se deve esquecer o Lênin dos antileninistas, que no fim das contas são o mesmo. Porque ambos reduzem o dirigente bolchevique àquilo que ele nunca foi, ou seja, um funcionário cinzento da organização. Esquecendo que Lênin estava quase sempre em minoria na sua organização, porque no fundo um revolucionário é sempre portador de uma linha de minoria, uma minoria não minoritária, que não é ideológica ou representante de uma identidade marginal, mas uma minoria com vocação hegemônica. É preciso sonhar?, pergunta desdenhosamente em frente ao comitê central do partido, e responde: sim, devemos sonhar, porque quando há contraste entre o sonho e a realidade, quando se atua materialista e tenazmente para realizar o próprio sonho, quando há contato entre o sonho e a vida, tudo vai bem. Infelizmente, conclui, são muito poucos sonhos desse tipo no nosso movimento. Portanto, ontem assim como hoje, é preciso reconquistar a capacidade de sonhar e dar forma organizada ao sonho, e é sobretudo isso o Que fazer? de Lênin. Com todo respeito aos leninistas evolucionistas e aos antileninistas desdenhosos. E é esse o Lênin que – numa espécie de “alquatismo” avant la lettre – critica continuamente tanto o culto da espontaneidade quanto o fetiche da organização. A espontaneidade não é sempre boa e nem sempre é má, há momentos em que ela é avançada e momentos em que ela puxa para trás. Nos momentos de luta ou insurrecionais, frequentemente é a espontaneidade a impor um terreno ofensivo, enquanto a organização joga pra trás e a essa altura vai ter de ser repensada, dentro desse terreno. Em outros momentos, a espontaneidade recua ou é moldada pela ordem do discurso inimigo: a organização deve reabrir o caminho para seu desenvolvimento antagonista.
Esse é a grosso modo o Lênin que, de diversas formas, reapareceu nos melhores pontos do operaísmo (as 33 lições [9] de Toni Negri são certamente um dos livros de referência). O limite é que essa tentativa importante de levar o método de Lênin para além de Lênin não se conjugou com um plano de reinvenção organizativa adequado. Então, frequentemente termina por se repetir aquilo que não era repetível, ou seja, as soluções específicas da época de Lênin. E diante do inevitável fracasso delas, se tira os problemas sempre atuais colocados por Lênin sobre a relação dinâmica entre a composição de classe e as formas das organizações revolucionárias.
Uma última pergunta: nos dias de hoje, de que modo estudar o passado para modificar o presente, ou, falando de outro jeito, como produzir teoria a fim de organizar as lutas?
Para concluir, prosseguindo aquilo que eu estava falando, queria que uma coisa ficasse clara no fim. O passado nunca nos dá o “que fazer” do presente. Nos dá, ao invés disso, os erros que não devemos repetir, os limites a serem superados, o passado é valioso para a reinvenção. Nos dá as perguntas, não as respostas. E nos dá do que nos vingar. Mas o como, isso é parte do esforço e dos caminhos de toda e qualquer geração militante. Assim, se quisermos nos apropriar de uma herança política, não devemos celebrá-la transformando-a numa identidade testamentária vazia: devemos incendiá-la, transformando-a numa arma contra o presente. Ou não serve de nada. O operaísmo, Marx ou Lênin, são para nós um estilo e um método político que pertence a nosso lado; não são aqueles da filologia acadêmica, ou do catecismo pós-operaísta, marxista e leninista, os quais podemos jogar no mar sem lágrimas. Em suma, o problema para o militante é se apropriar da tradição sem cultos reverenciais e sem hipostasiá-la: repensando suas riquezas, criticando os limites, superando aquilo que ficou inutilizado. Assim fez Lênin com Marx (e também com os populistas revolucionários), assim fizeram os operaístas com Marx e Lênin, assim nós devemos fazer. E também nos apropriando das ideias dos inimigos: como diria Tronti, de fato, melhor um grande reacionário do que um pequeno revolucionário.
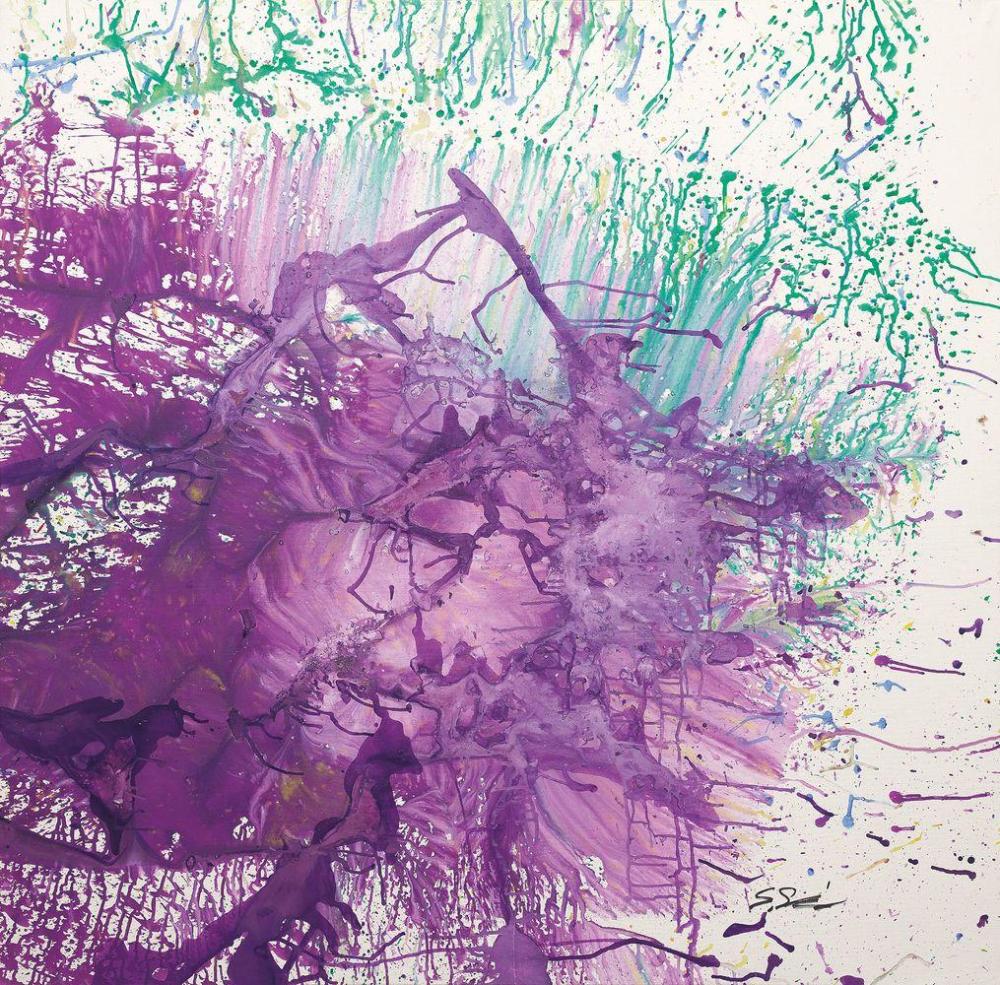
Por isso que é um problema que a nível internacional o operaísmo seja reduzido ao pós-operaísmo, e sobretudo ao Negri de Império. Não por uma questão de propriedade intelectual ou de marca: deixamos a disputa sobre a herança notarial aos defuntos, a nós interessa a utilidade política. Mas é justamente essa redução que priva muitos militantes da possibilidade de explorar a Atlântida submersa de figuras como Alquati, portanto de usar as armas que são hoje malditamente indispensáveis.
No geral, esse método revolucionário nos ensinou que devemos estudar aquilo que queremos destruir: o capitalismo, e o capital que se encarna em nós. Quem se apaixona pelo próprio objeto de análise, para poder reproduzir os papéis adquiridos nesta sociedade, abandona a militância e passa ao campo do inimigo. Nem sequer vale a pena tentar denunciar a traição, é mais simplesmente a incapacidade de romper a separação da própria condição. Escolheu o caminho individual, vai morrer sozinho. O que distingue o militante é o ódio pelo que estuda. Ao militante o ódio serve para produzir saber. Tanto ódio, que estuda a fundo aquilo que mais odeia. A criatividade militante é sobretudo ciência da destruição. Daí que a prática militante ou é cheia de teoria, ou não o é. Deve-se estudar para agir, deve-se agir para estudar. E fazer as duas coisas inclusive. Agora mais do que nunca, essa é a tarefa política.
E é preciso formação no método: é aí que a subjetividade se constrói de forma dura e não efêmera, adquirindo um modo de pensar e raciocinar não padronizado (quanto conformismo há nos âmbitos teóricos e práticos do chamado “movimento”!), capaz portanto de construir autonomamente respostas adequadas a situações diferentes, capaz de modificar flexivelmente hipóteses e comportamentos partindo da firmeza nos objetivos coletivos. Um método de raciocinar comum, capaz de mudar e pôr em discussão os procedimentos específicos através dos quais esse próprio método se exprime: eis o problema da formação autônoma, que não pode ser deixada unicamente aos indivíduos, mas organizada coletivamente.
Formação para quê? Para reconquistar a capacidade de apostar. Sim, apostar. Uma aposta materialista, uma aposta revolucionária. Apostar na possibilidade de transformar a crise capitalista em crise revolucionária; de transformar a crise da subjetividade na urgência de um salto adiante. Não vamos imitar aquilo que já foi, seria grotesco: nós o estudamos, para trazê-lo aos nossos problemas. A autonomia é, na verdade, a vontade contínua de subverter o que se é para destruir e inverter o existente. É a construção e uma perspectiva coletiva de potencial e de possibilidade a partir da liberação e transformação radical dos elementos do presente. Por isso que a autonomia vive no método revolucionário, não nos logos do merchandising antagonista. Então ouse apostar, ouse agir, ouse fazer a revolução. Afinal, não é para isso que vivemos?
Leia aqui a primeira parte da entrevista.
Sobre a entrevista
Gigi Roggero é militante do coletivo Hobo, membro do comitê editorial do site italiano Commonware e pesquisador autônomo. David Gallo Lassere é membro da Plateforme d’Enquêtes Militantes e pesquisador do Sophiapol na Universidade Paris Ouest. Originalmente publicada em italiano no Commonware, esta entrevista foi traduzida ao português por “Tartaruga Ninja”. Por se tratar de uma tradução direta, certas passagens foram preservadas pelo tradutor de sua versão original mas podem não ser encontradas em sua versão em inglês na Viewpoint Magazine, por motivos que não é de nosso conhecimento.
Notas
[9] Trata-se do livro La fabrica della strategia: Trentatre lezioni su Lenin, disponível em inglês: <https://libcom.org/files/antonio-negri-factory-of-strategy-thirtythree-lessons-on-lenin.pdf>.


Em destaque, uma obra de Kazuo Shiraga (esq.) (1924-2008). As demais ilustrações são da autoria de Shozo Shimamoto (dir.) (1928-2013).







