Por João Bernardo
Contrariamente aos outros dois percursos, esboçados só agora e de forma hesitante, este não é um itinerário novo, mas conta-se entre os mais antigos, interrompido pouco depois de iniciado. Com efeito, nas páginas finais da minha tese de doutoramento (doutorado) citei um texto de Marcelo Coelho que deveria ter servido de tema a uma longa digressão.
Mas, antes de prosseguir, quero explicar o motivo por que me doutorei. Em 1965, quando frequentava o primeiro ano do curso de História, eu fui expulso por oito anos de todas as universidades portuguesas, a maior expulsão decretada em meio século de regime fascista, até que em 1984 recebi o inesperado convite para leccionar no Brasil. Os anos foram passando, e um dia uma professora da Unicamp queixou-se das trabalhosas justificativas que deviam ser feitas aos organismos que concedem as autorizações e as verbas para aceitarem que uma pessoa como eu, sem títulos académicos nem sequer licenciatura, pudesse ministrar cursos de pós-graduação, e disse-me que, se eu apresentasse um memorial e o conjunto dos meus livros publicados, podia candidatar-me a uma prova de doutoramento sem necessitar de orientador. Mas para isso precisava, evidentemente, de apresentar uma tese. Naquela época eu dedicava-me a duas pesquisas. Uma, sobre a obra de Balzac, seria mais tarde publicada pela editora da Universidade do Estado de Minas Gerais com o título A Sociedade Burguesa de Um e Outro Lado do Espelho, mas estava ainda numa forma incipiente e necessitaria de bastantes anos de trabalho. Ao mesmo tempo eu estava a preparar um estudo do fascismo que se encontrava já numa fase adiantada. Apressei a investigação nalguns aspectos, desenvolvi várias passagens, arredondei uns ângulos e foi essa a tese que apresentei em Agosto de 1998, ao abrigo do artigo 62 do Regimento Geral da Unicamp, com o título Labirintos do Fascismo. No que me diz respeito, o meu doutoramento nada mudou. Continuei a ministrar cursos e a proferir palestras como fazia desde 1984, mas poupei trabalho a quem me convidava. Em suma, e bem vistas as coisas, o meu doutoramento foi um gesto de altruísmo.
Nessa tese, que constitui a primeira versão do Labirintos, a quatro páginas do fim, transcrevi excertos de um artigo que Marcelo Coelho publicou em Janeiro de 1991 e que reproduzo aqui com a ortografia original brasileira. «Vê-se um sujeitinho fantasiado, afetando o mais profundo mau humor, que vocifera para a massa. Mais de cem mil jovens, em acesso histérico, respondem em coro a gritos que não entenderam direito. Agitam os braços. Vivem o prazer obscuro de estar em multidão: sentem-se, ao mesmo tempo, fortes e submissos». Vociferações coléricas perante uma assistência histérica, que se sente forte e também submissa, a referência parece evidente — quantas descrições lemos já, quantos filmes vimos já do chefe fascista em transe, agitando a multidão! Mas não nos enganemos, porque era de outra coisa que Marcelo Coelho falava, do Rock in Rio. Porém, seria realmente outra coisa? «Vociferação, gritos, cara feia, dureza (o ritmo da bateria é selvagem, implacável, monótono), agressividade, delírio de massas: só me ocorre uma comparação. É com o fascismo. Pouco importa se os cantores de rock falam contra a guerra, se Woodstock e os hippies etc. etc. Os milhares de jovens que estavam no Rock in Rio detestam a guerra, gostam do verde, querem “liberdade” e “amor”, tudo isso é conhecido e exaltado. Não é o fundamental. […] esses shows de rock gigantescos oferecem à massa um fascismo sem problemas e maiores consequências. É o fascismo intransitivo, é a manifestação fascista sem ideologia fascista, é o fascismo da paz e do amor, mas é fascismo, é a quintessência juvenil, “alegre”, “energética” do fascismo». Ao sublinhar o prevalecimento da forma sobre o aparente conteúdo, Marcelo Coelho chegou ao cerne do que eu considero o fascismo pós-fascista — a forma fascista sem a ideologia fascista. Se quisermos usar a tradicional dicotomia forma / conteúdo, então devemos dizer que na arte a forma é o conteúdo da forma. E se for exacto que, como pretendo, o fascismo só atinge a coerência no plano estético, ou seja, que o fascismo é a estetização da política, então podemos resumi-lo à encenação e ao ritual, e aquele fascismo sem ideologia corresponderá exactamente à essência do fascismo, porque consiste numa modalidade de fascismo depurada. O que leio neste texto seminal de Marcelo Coelho é que basta a forma para definir a existência de fascismo. «Desrecalque, liberação de energias agressivas, gosto pela uniformidade […], fascínio pela figura, pelos gritos, pela dureza antipática do líder: sem dúvida, foi isto que atraiu muita gente para o fascismo nas décadas de 20 e 30. O perfil psicológico da massa e os problemas políticos e sociais da época podem ter mudado. Mas as necessidades mais “puras”, não obrigatoriamente criminosas, do fascismo persistem. O rock as atende».
No entanto, a conclusão última a que chego é minha, não de Marcelo Coelho, porque ele acabou por pretender que «o “rock” é o menor dos males», e justificou. «Quando a platéia delira diante de um tipo antipático e mal-encarado, está cultuando também a autoridade; digamos, antes a estética da autoridade que a autoridade em si. […] Mas, se tudo isso é verdade, só se pode concluir que o “rock” é o menor dos males. Libera de modo inócuo uma selvageria que, no fascismo, encontrou formas incomparavelmente mais violentas e diabólicas de manifestação. […] Tornando-se inócuo, “estético”, abstrato, todo um potencial de energia bárbara, de monstruosidade grotesca, de agressão dionisíaca se libera sem que ninguém morra devido a isso». Todavia, se o fascismo só no plano estético é coerente, então o carácter estético do rock não o torna inócuo e, pelo contrário, remete-o para o âmago de todo o fascismo. Por isso, na minha tese de doutoramento eu concluí a análise do texto de Marcelo Coelho escrevendo: «Se se trata de “um fascismo sem problemas e maiores consequências”, isso não se pode saber apreciando só a plateia do rock, mas definindo a sua função na sociedade em geral. A “estética da autoridade” não reforça menos o poder do que o fez a autoridade explícita. E a estética apolítica da violência não se mostra menos violenta do que o fascismo enquanto doutrina de estética política».
E foi tudo. Terminei ali abruptamente o percurso, quando devia tê-lo continuado porque esse fascismo resumido à sua essência estética abre uma perspectiva ampla para a compreensão do fascismo pós-fascista, um fascismo desprovido de ideologia fascista. Ora, se recomeçasse agora o caminho no ponto em que o interrompi, seria necessário recuar no tempo, porque aquele rock que Marcelo Coelho descreveu há mais de trinta anos, e só tem piorado desde então, no início era outra coisa muito diferente ou até oposta. Era libertador, anárquico, individual e individualista, o contrário de uma encenação de autoridade e de uma coreografia de massas.
Querem um exemplo? Ouçam e vejam, em 1957, Jerry Lee Lewis em Great Balls of Fire.
Ou talvez mais elucidativo ainda, porque mais entusiástico, também em 1957.
Como é que este rock originário resultou naquilo que Marcelo Coelho tão argutamente dissecou, ou pior, muito pior? Mas a questão é mais ampla e profunda. Como é que, seguindo uma ilusória linha de continuidade, a geração dos anos sessenta — libertina, amoral, universalista — resultou na geração actual — em que o universalismo se fragmentou nos identitarismos, em que cada identidade exige uma forma própria de puritanismo e em que a amoralidade se desfez no politicamente correcto? Como é que cada coisa, sem aparentemente sair dela mesma, deu lugar ao seu contrário? A questão é esta, e este seria o percurso que eu teria de deslindar.
Mas precisamente porque esta é a questão que estamos a viver, ela não tem agora resposta. Só a terá mais tarde, quando estivermos defuntos. E seremos nós, com tudo o que fizermos hoje, vistos pelos outros que virão depois, seremos nós, já mortos, a resolver essa questão. A história escreve-se a posteriori, mas vive-se a priori. Por isso o fascismo pós-fascista é uma realidade em suspenso e o labirinto é inesgotável.
Chegado a este impasse, como continuaria eu o percurso? A maneira óbvia consistiria em reformular a questão num âmbito mais modesto, concentrando-me na passagem de um rock que surgira na continuidade de uma expressão musical verdadeiramente popular, quero dizer, feita pelo povo para ser ouvida pelo povo, e se converteu num dos produtos que melhor simbolizam a indústria cultural. A mudança de carácter do rock, a sua transformação de música intrinsecamente anárquica numa manifestação fascista desprovida de ideologia fascista, corresponde a essa mudança no seu modo de produção, deixando de ser um produto individual para ser um produto industrial de massas.
Ora, a indústria cultural de massas é de massas apenas no consumo, não na produção — e é este o seu traço decisivo. Até ao início da indústria cultural a plebe usufruíra de uma música que ela mesma produzia, e isto sucedia não só na vida rural, mas nas cidades também. Todavia, essa expressão musical foi extinta e, nos raros casos em que se manteve, como sucede com o jazz, o fado, o flamenco e o cante jondo ou não sei se o tango, ela — quando não degenerou — confinou-se a uma audiência restrita, que praticamente se confunde com a da música erudita. Por seu lado, a indústria cultural fabrica produtos que os grandes capitalistas do ramo pretendem que sejam consumidos pela generalidade da população. Por trás de cada show musical há um enorme aparelho económico, multiplicado exponencialmente no que diz respeito aos discos e a outras formas de música gravada. Quanto às artes visuais destinadas ao consumo de massas, elas inserem-se nos padrões estéticos da indústria da publicidade, que constitui outro colossal aparelho económico. E note-se que a partir do final da segunda guerra mundial a publicidade não é fundamentalmente, ou por vezes nem sequer é, um expediente para vender produtos, mas um instrumento para promover valores e atitudes. Os jogos de realidade virtual tornaram esta situação ainda mais drástica, envolvendo cada pessoa num universo visual estritamente controlado e determinando-lhe rigorosamente as opções de comportamento.
Assim, no que vêem e no que ouvem — embora só parcialmente no que pensam, apesar da acção nefasta do lobby dos psicólogos e da literatura de auto-ajuda — os trabalhadores de hoje são formatados pelos capitalistas da indústria cultural, que não se limitam a produzir obras musicais e objectos visuais, mas assumem um papel muito importante na produção dos próprios trabalhadores enquanto seres sociais. Não foi por acaso que nos Estados Unidos o mccarthismo escolheu Hollywood como um dos alvos preferenciais, numa época em que o cinema era a principal indústria visual de massas e não fora ainda, como actualmente, subsumido pela estética dos vídeos publicitários. Antes de serem produtores os trabalhadores são um produto, produzido em boa medida pela indústria cultural.

Aqui, neste percurso pelo que sucede hoje e verosimilmente sucederá amanhã, eu depararia com uma brusca inflexão. A internet e a difusão dos computadores pessoais, sobretudo dos minicomputadores de bolso a que os portugueses dão ainda o nome arcaico de telemóveis (celulares), não teriam descentralizado a produção cultural e, portanto, não lhe teriam alterado o fundamento? Qualquer pessoa escreve agora o que quiser, canta e toca o que quiser, dança como quiser e divulga os resultados pela internet. São muitos milhões de pessoas a usar essas plataformas, e não estarão assim criadas condições para que a indústria cultural decline e se desenvolva uma nova produção, tão individual como o antigo artesanato?
À primeira vista, a resposta seria afirmativa e, no entanto, não parece que os resultados a confirmem, porque a criação artística gerada nas plataformas descentralizadas é tão padronizada como quaisquer produtos da indústria cultural. Sucede a este respeito o mesmo que tem ocorrido desde o aparecimento da internet e dos computadores pessoais — são criadas e disponibilizadas livremente condições técnicas de conhecimento que, no entanto, são massivamente desaproveitadas. O contraste é flagrante entre as possibilidades de conhecer e a generalização da ignorância. Neste emaranhado de contradições, talvez uma digressão ajudasse a esclarecer o problema, a menos que o tornasse ainda mais confuso.
Toda a criação artística supõe quadros de referência. Nada se cria a partir do nada. É certo que cada vanguarda se define pela rebelião contra os padrões estabelecidos, mas estes são padrões já deteriorados pela rotina do academismo, e na sua revolta as vanguardas inspiram-se nas vanguardas de épocas anteriores. Lembro-me de ter ouvido há muitos anos, transmitida por France Musique, uma entrevista com o compositor André Boucourechliev em que ele afirmou que toda a criação musical de vanguarda requer o conhecimento da história da música. Mas a presença de quadros de referência é mais pesada ainda, porque em cada época se cruzam influências e se criam estilos, estabelecendo-se depois padrões. Uma criação artística alheia à indústria cultural é sempre individual, mas nunca é isolada, porque dialoga positiva ou negativamente com as restantes criações. Nestes termos, como explicar a monótona uniformização que impera na utilização artística das plataformas descentralizadas? Teria o meu percurso caído num atoleiro ou mesmo num pântano?
Quando se hesita num caminho, tem de se olhar para um lado e para o outro. Talvez seja cedo para proferir afirmações taxativas acerca de um processo em curso. Mas é possível que a indústria cultural seja tão poderosa que tenha formatado até as criações artísticas que lhe são exteriores. Uma coisa é o cruzamento de influências, o diálogo entre criadores, a definição de estilos, mas outra coisa muito diferente é a acção das influencers enquanto divulgadoras de padrões estéticos, porque esses padrões são invariavelmente os ditados pela indústria cultural, que sustenta as influencers e lhes confere uma razão de ser. Basta observar que nos selfies, apesar de parecerem a mais individual das iniciativas, as pessoas adoptam posições e expressões de rosto que correspondem a um modelo generalizado. É um curioso paradoxo que naquela obsessão narcisista de se fotografarem a si mesmos a imagem reflectida não seja a do próprio, mas a de uma máscara que se assume, ditada pelo padrão reinante. Este processo é acelerado pela Inteligência Artificial, que está a desenvolver-se exponencialmente e permite a centralização das plataformas descentralizadas, tendo, assim, um fortíssimo efeito de padronização. O triunfo do TikTok, por exemplo, deve-se em boa medida à Inteligência Artificial.
Nesta encruzilhada não me lembro de outro teste que não passe pelo kitsch. No percurso imaginário anterior defini uma regra de sucessão de degradações estéticas, em que uma vanguarda se deteriora num academismo pompier que, por sua vez, é banalizado no kitsch. A cauda deste processo ocorre na criação artística suportada pelas plataformas descentralizadas, sendo as influencers o veículo indispensável ao estabelecimento dos padrões do kitsch. Então, neste percurso hesitante em que os caminhos estão ainda mal sinalizados no terreno, eu tomaria como ponto de referência o indubitável kitsch reinante na internet para, a partir daí, concluir que se trata da degradação de padrões por sua vez já degradados. Stephen Bayley resumiu a questão em quatro palavras quando chamou ao kitsch «uma versão ersatz da high culture», um sucedâneo da cultura erudita. O kitsch confunde-se hoje a tal ponto com a cultura de massas que é difícil atribuir-lhe especificidade. Ele passou a ser a característica mais genérica da estética corrente e expandiu-se até para produtos visuais exteriores à indústria cultural propriamente dita e que são geralmente integrados na estrita tradição das artes plásticas.
Nem esta bússola serve para me indicar o Norte, porque a arte não reside no objecto, mas emana da maneira como o vemos. A arte é um espelho em que nos reflectimos. Então, o kitsch pode ser visto de modo não kitsch e a pressão formatadora da indústria cultural e das influencers pode fracassar. Na arte nada é decisivo nem absolutamente determinante. Além disso, o excesso cria a habituação, e os produtos da cultura de massas tornaram-se a tal ponto o nosso habitat que talvez isto lhes anestesie os efeitos e a partir deles seja possível extrair outras ilações estéticas. A questão é mais complexa ainda, porque a indústria cultural globalizou os gostos e as influencers ultrapassam fronteiras, e não será o cosmopolitismo um dos valores mais positivos numa época em que à divisão entre nações se acrescentou o fraccionamento entre identidades? E também não serão as modas, musicais e outras, por definição ou pressão comercial, cosmopolitas? Este percurso correria então o risco de se converter num vaivém.
Reflectindo sobre essa oscilação, que estudaram minuciosamente, Kirk Varnedoe e Adam Gopnik consideraram que «a história da interacção entre a arte moderna e a cultura popular é um dos aspectos mais importantes da história da arte na nossa época». Aliás, pelo menos no Ocidente, essa interacção não é específica da arte moderna, porque já a música erudita desde o barroco até ao romantismo se inspirara frequentemente em temas da música popular, ou seja, naquelas épocas, camponesa. Mas o mundo rural foi ultrapassado e marginalizado pela revolução industrial, e na nossa sociedade, em que popular significa industrial e urbano, Edgard Varèse deu talvez o passo decisivo ao tornar obsoleta a distinção entre som musical e ruído, já que nada podia ser mais popular do que o ruído, comummente considerado anti-artístico. E as artes plásticas, desde o cubismo, o futurismo e o Dada até Rauschenberg e os affichistes, à pop art e à arte povera, mesclaram elementos ou formas decorrentes da tradição erudita com referências ou elementos comerciais e publicitários e objectos industriais e de massas. Um passo importante nesta evolução, não no que diz respeito às formas e aos elementos, mas ao próprio processo de produção ocorreu em 1922, quando László Moholy-Nagy pela primeira vez criou quadros mediante um processo industrial.

A assimilação da trivialidade pela arte tem, no entanto, um reverso, pois também a indústria cultural assimila e divulga formas estéticas nascidas na arte erudita. Será então inevitável a degenerescência das vanguardas no academismo e daí no kitsch? Ou haverá uma circularidade ou, talvez mais exactamente, uma dinamização recíproca? «Trata-se de uma história», escreveram Varnedoe e Gopnik, «em que a arte moderna não foi simplesmente uma inimiga da cultura comercial moderna nem se limitou a ir ocasionalmente ao seu território como caçadora furtiva, mas foi uma parceira num pas de deux complexo de toma-lá dá-cá: cada uma tirava da outra, e inversamente». Ora, usar a trivialidade como arte é, evidentemente, salvá-la da trivialidade. Podemos seguir a acção desse círculo ao vermos os produtos da indústria cultural serem recuperados pela arte, como sucede, por exemplo, nas obras de Claes Oldenburg, para em seguida a arte ser recuperada pela estética da indústria cultural, como mostra o caso de Jeff Koons. E se Koons é um pompier da pop art, as bonecas Barbie são o kitsch de Koons.


Varnedoe e Gopnik insistiram no «movimento circular que tem caracterizado a arte moderna, do high [arte erudita] para o low [arte de massas] e novamente de volta […]», uma lição repetida incessantemente ao longo de uma obra extensa e muitíssimo bem documentada. É uma história que «gira em círculos», resumiram eles numa das últimas páginas, «ciclos no virar de uma roda». Contudo, é sempre possível discorrer sobre o kitsch como se fosse arte, ou mesmo arte de vanguarda, e aliás é uma das formas mais in da crítica pedante. Boris Vian ironizou este tipo de sofisticação em J’suis snob, em que o cúmulo do snobismo é a adopção de um comportamento kitsch como se fosse uma máscara ou um figurino. Mas o equilíbrio é precário e a linha de demarcação muito ténue. Recordemos Göring tal como vimos Albert Speer retratá-lo no percurso anterior, ou as damas da corte de Marcus Garvey e o próprio Garvey com o chapéu emplumado — e o que os distancia do snob de Boris Vian? É que nenhum deles é snob, são francamente kitsch. O snobismo implica um segundo grau e o kitsch é sempre em primeiro grau. É a ironia que impede de cair no kitsch e, adoptando a forma inversa desta definição, concluo que o kitsch nunca pode ser irónico. Ora, Joseph Billig observou que os SS eram totalmente desprovidos de ironia, o que contribui para situar esteticamente os fascistas, porque a ironia não faltava só aos SS, mas a todos os fascistas. Quando Isaac Babel, no alvor da Rússia soviética, afirmou que «a banalidade é a contra-revolução», ele estava a antecipar o que seria o lugar do kitsch na política.
E chego aqui para constatar que, afinal, este percurso seria feito de ziguezagues e vaivéns, como não poderia deixar de acontecer numa tentativa quimérica de delinear a história de um tempo que estamos ainda a viver. Apesar disso, eu deveria prosseguir, porque o trajecto iniciado na tese de doutoramento não foi só interrompido, mas ficou em suspenso. Naquela tese, após a análise do Rock in Rio apresentada por Marcelo Coelho, dediquei três páginas e meia ao futebol, e concluí dizendo: «Na sua violência desprovida de qualquer outro objectivo ou pretexto, no seu racismo resumido a uma manifestação elementar de ódio, no seu nacionalismo sustentado por uma economia transnacional, em tudo isto o futebol é uma expressão cabal das ambiguidades contemporâneas. É um campo fértil do fascismo sem nome e um dos lugares predilectos onde recomeça a nomear-se». Estas foram as últimas palavras da tese e com elas encerrei a secção dedicada ao estudo do fascismo pós-fascista.
Mas para continuar o percurso onde o suspendera eu deveria relacionar a evolução do rock com as claques (torcidas) de futebol. Se os actuais shows de rock, na sua encenação da autoridade, são o fascismo sem a ideologia fascista, por seu lado as claques, na sua encenação da violência, são milícias fascistas sem ideologia fascista.
A situação das claques, porém, é mais complicada do que a dos grupos de rock porque, se ambos dependem do poder económico, a própria existência das claques depende também de outra instituição — os clubes (times) de futebol. Ora, estes clubes são empresas que movimentam fortunas colossais e, aliás, basta olhar para as blusas dos jogadores, transformadas em painéis publicitários. Mas a lógica desses investimentos e das despesas fabulosas que implicam só se entende quando se verifica que os clubes de futebol são, ao mesmo tempo, canais da economia paralela, servindo para lavagem de dinheiro e outras operações do mesmo género. As claques, por seu lado, além de se relacionarem economicamente com os clubes, são também extensões da economia ilegal, ligadas ao comércio de drogas.
No entanto, as digressões exigidas por esta parte do percurso, obrigando-me a estudar as múltiplas facetas da economia informal, seriam demasiado longas e trabalhosas. Apesar disso, seriam indispensáveis, porque o futebol é cindido por uma contradição fundamental, que tem nas claques a sua expressão mais estridente. Enquanto empresas que fazem circular muitos milhões de dólares, os clubes inserem-se plenamente nos movimentos transnacionais do capital e, aliás, adquirem os jogadores no mercado mundial, sem que as fronteiras sejam um obstáculo. Mesmo as selecções nacionais, embora distintas dos clubes privados, agem do mesmo modo e recorrem ao expediente legal da naturalização para converter jogadores estrangeiros em jogadores nacionais. Porém, ao mesmo tempo que são economicamente transnacionais, os clubes e as selecções cercam-se de uma aura bairrista ou nacionalista, com frequência ambas simultaneamente, quando se trata de clubes privados jogando no estrangeiro. Ora, as claques são a extensão truculenta dessa aura, em franca contradição com o carácter supranacional da economia que sustenta o futebol, tanto no que diz respeito aos clubes como ao comércio de drogas acobertado pelas claques.
É nessa contradição entre uma economia transnacional e um apelo afectivo nacional ou local que eu deveria analisar a função das claques enquanto milícias fascistas desprovidas de ideologia fascista. Decerto não faltam casos em que grupos neonazis se infiltram nas claques, mas sem que elas, globalmente consideradas, adoptem uma ideologia fascista ou sequer ascendam a qualquer plano ideológico. Tal como sucede nos shows de rock, também nas claques a ideologia é subliminar e elas dedicam-se exclusivamente a uma coreografia de massas que facilmente se converte numa encenação da violência física. A «hebdomadária violência» das claques, escrevi na tese de doutoramento, «reduz-se frequentemente a uma acção e a uma sensação — sem ideologia. E não se define assim mesmo a fruição estética?». As claques são milícias de um fascismo sem ideologia, e uma vez mais constatamos que o fascismo se assume fundamentalmente no plano estético.
E os aficionados que, sem pertencerem a nenhuma claque, assistem aos jogos de futebol na televisão e gritam quando há golos ou insultam o árbitro (juiz)? Sempre me lembrei daqueles pacatos cidadãos que, à janela de casa, viam desfilar as milícias ou sabiam que um pouco mais longe havia uma prisão com presos políticos ou um campo de concentração. Ou daqueles que, quando íamos levados num carro prisional, viravam a cara para não nos verem. Teriam medo ou sentir-se-iam seguros? Talvez ambas as coisas ao mesmo tempo. A dialéctica do terror é complexa e no Labirintos eu lastimei que não tivesse surgido um Elias Canetti para a analisar.
Chegado a este ponto, reconheci que o itinerário seria demasiado longo e imbricado nos seus meandros. Uma centena de páginas não bastaria, nem duas centenas, nem três. Para mais, seria um percurso em aberto, como são obrigatoriamente todos os do fascismo pós-fascista, mapa hesitante de uma realidade que estamos ainda a viver. E assim, foi outro percurso que tive de deixar de lado.
Referências
As passagens de Marcelo Coelho são extraídas de Marcelo Coelho, «O Rock in Rio Mostra o Fascismo Sublimado», Folha de S. Paulo, 23 de Janeiro de 1991, pág. E-16. A definição de kitsch proposta por Stephen Bayley encontra-se em Stephen Bayley, Taste. The Secret Meaning of Things, Londres e Boston: Faber and Faber, 1991, pág. 65. As citações de Varnedoe e Gopnik provêm de Kirk Varnedoe e Adam Gopnik, High & Low. Modern Art, Popular Culture, Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 1990, págs. 19, 61, 112 e 406. A opinião de Billig acerca da ironia está em Joseph Billig, L’Hitlérisme et le Système Concentrationnaire, Paris: Presses Universitaires de France, 2000, pág. 232. A frase de Isaac Babel encontra-se referida em Anton Kaes, Martin Jay e Edward Dimenberg, The Weimar Republic Sourcebook, Berkeley, Los Angeles e Londres: University of California Press, 1995, pág. 149.
A imagem de destaque reproduz uma obra de Roy Lichtenstein (1923-1997).
Pode ler o primeiro percurso aqui e aqui o segundo percurso.


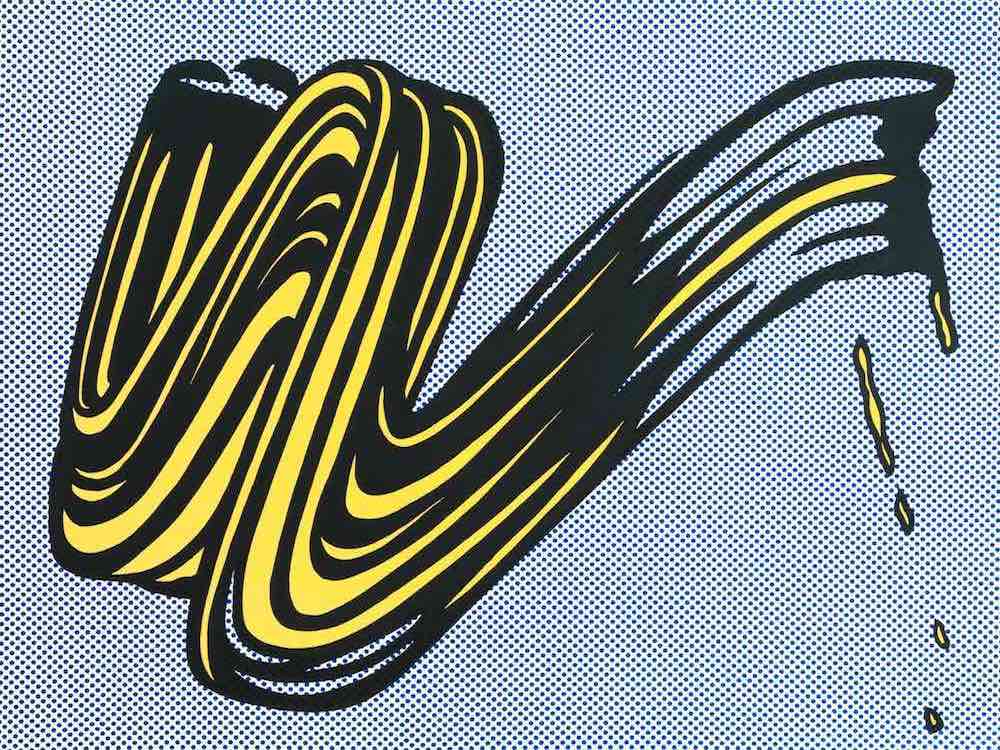





‘Vê-se um sujeitinho fantasiado, afetando o mais profundo mau humor, que vocifera para a massa. Mais de cem mil jovens, em acesso histérico, respondem em coro a gritos que não entenderam direito. Agitam os braços. Vivem o prazer obscuro de estar em multidão: sentem-se, ao mesmo tempo, fortes e submissos’
Serve para shows de metal, serve para pregações nas igrejas evangélicas neopentecostais nas periferias do Brasil.
impressionante, para dizer o mínimo!
Só pode encontrar a saída do Labirinto quem ousou nele se aventurar.
*** *** ***
Um labirinto sem qualquer saída #1
Vivemos tempos atrozes. Perambulamos sem direção num labirinto sem qualquer centro, no qual somos nós mesmos o minotauro faminto por nos devorar.
Por que com frequência interrompemos os itinerários mais desafiadores e, por isto mesmo, mais irrecusáveis? Cada passo à frente deve também ser uma retomada de percurso, eis um dos mistérios do tempo.
O conteúdo reside na forma? A política é uma forma estética? Em última instância, toda questão política é uma questão do Desejo?
Em cada ascensão do Fascismo ecoa o grito asfixiado de uma revolução fracassada. E assim chega-se a desejar a tortura e a morte não só para os demais, como principalmente para si próprio…
Há uma estética intrínseca à própria vida, tornando a vida de cada um de nós uma possibilidade de vir a ser uma obra de arte? Seria esta a questão política definitiva?
Entretanto, a rebeldia impetuosa na origem acaba por se converter na mais abjeta submissão. Como é possível o desejo pela Vida se exaurir numa massa homogênea de cadáveres adiados, sem nada procriar além da Morte?
Qual a forma do Fascismo no séc. XXI? Ou, dito de outro modo: qual a forma atual da Revolução?
O Capitalismo se apropria de tudo, até mesmo das experiências de vida. Nada haverá sem ser passível de monetização. Este é o objetivo das redes sociais.
No estágio imediatamente anterior ao Capitalismo contemporâneo, a indústria cultural de massas era de massas apenas no consumo, não na produção.
Mas o Capital precisa sempre se reinventar. Hoje temos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok… A produção massiva de conteúdo é incessante e instantânea.
Mas… e quanto a forma?
Um labirinto sem qualquer saída #2
Como o conteúdo é produzido nas redes sociais, sob quais relações de produção?
A mercadoria, a “coisa” (seja ou não tangível), apenas materializa (concretamente ou não) o processo de produção. Dessa forma neste está o conteúdo, em relação ao qual a mercadoria tende tão somente a dissimulá-lo.
São muitos milhões de pessoas a usar essas plataformas, porém todas submetidas à mesma forma padrão de produção, distribuição e consumo.
Enquanto Propaganda & Marketing criam novas necessidades, para estimular o consumo de novos produtos (ou mesmo da atualização de produtos já existentes), como é produzido o desejo por eles?
O que está sendo vendido é um modo de vida. O que é produzido é o desejo por este modo de vida. Comercializa-se a ilusão de bastar comprar o produto para também se adquirir o modo de vida a ele associado.
Neste labirinto de labirintos, as redes sociais são um passo além. Através delas é gerado o desejo de fazer a si mesmo uma mercadoria. Não mais apenas por necessidade de sobrevivência, mas para seu próprio prazer e gozo.
Likes e dislikes, views e comentários, seguidores, bloqueios e cancelamentos, são a forma inusitada assumida pelo sado-masoquismo de nossos dias.
Disponível a um leve toque da ponta dos dedos, o virtual se transforma em real. O consumidor, não mais passivo, assume ativamente sua produção, desejando existir como um avatar.
Por debaixo do narcisismo de cada selfie, esconde-se a máscara monstruosa do fascismo de nossa época.
As redes sociais são um modo de vida. Mas… qual a estética deste modo vida?
Albert Camus foi durante algum tempo o goleiro do Racing de Argel e sempre dizia que aprendeu tudo sobre solidariedade jogando futebol. Por causa de um jogo sob chuva tornou-se tuberculoso, sofria dos pulmões desde garoto. Durante toda a sua vida sempre manifestou uma profunda admiração pelo futebol. No Youtube pode-se encontrar uma entrevista que deu a uma TV francesa quando assistia a um jogo de futebol, estava sentado no meio da torcida usando aquela peculiar gabardine. Camus foi um dos mais radicais antifascistas do século 20; enquanto o senhor Sartre se refestelava em sonecas vespertinas em cinemas na Paris ocupada pelos nazis e a senhora Beauvoir trabalhava para a rádio nacional francesa a convite de um comandante alemão, Camus, Pascal Pia e muitos outros (com o jornal Combat) da Resistência lutavam contra o nazismo.
Eu, desde garoto, por ser asmático, me fiz como um goleiro razoavelmente frangueiro no futebol de salão e sempre torci pela minha Portuguesa, a Lusa (falida, arruinada) do Canindé. Serei um fascista?
João Bernardo nunca jogou uma partida de futebol, não sabe o que é a camaradagem que se constrói num jogo de futebol. Nunca poderia entender a beleza extraordinária dos dribles do jovem Dener arrancando do meio do campo do Canindé e driblar sete jogadores do time adversário (Inter de Limeira) para fazer um dos mais belos gols da história do futebol, isso aconteceu numa noite de quarta-feira numa semana qualquer de um ano qualquer na década de 1990. Eu estava lá e vi aquilo: uma maravilha sem igual! Comemorei com o meu pai aos gritos! Serei um fascista?
Neymar é medíocre, sim, todos sabem, vota no Bolsonaro e com o pai dá desfalques no fisco aqui e acolá… O futebol é fascista por isso? Não. Ver Messi jogar e vibrar com as suas jogadas absurdamente geniais seria subliminarmente um preceito fascista pela sua exuberante estética? E ver Maradona jogar… Pode alguém imaginar Maradona como uma expressão estética de um pós-fascismo? Seria ridículo…
Penso que o João Bernardo fez bem em não ter seguido com o futebol nos formidáveis estudos que nos apresenta sobre os labirintos do fascismo. Cometeria um colossal equívoco.
Putz, o que as bolas tem a ver com as chuteiras?
Agradeço a Arkx Brasil as digressões que glosam e prolongam estes percursos. Ele sintetiza tudo quando escreve que «em cada ascensão do Fascismo ecoa o grito asfixiado de uma revolução fracassada». É exactamente isso.
Breno mencionou as igrejas evangélicas neopentecostais, e esse poderia ter sido o ponto de partida para outro dos percursos que não tracei. Já uma amiga me fez notar que no Labirintos do Fascismo eu deveria ter dedicado mais espaço à questão religiosa. Com efeito, no vol. VI da edição Hedra, págs. 157-159, enunciei brevemente alguns problemas decorrentes do fundamentalismo religioso que se tem difundido nas últimas décadas. E no âmbito do fascismo clássico analisei sumariamente a peculiar teologia da morte que, na Roménia, inspirou a Legião do Arcanjo São Miguel e a Guarda de Ferro (vol. V, págs. 144-147). Mas pouco mais.
Se decidisse agora ampliar o tema, partiria da dicotomia entre a noção burocrática de religião, que caracterizou a Igreja católica nos fascismos português e espanhol, e o misticismo neopagão que inspirou os SS no Terceiro Reich. Neopagãos é como os historiadores comummente lhes chamam, mas Gottgläubige traduz-se literalmente por Crentes em Deus. Em seguida desenvolveria estas duas vertentes. Por um lado, tentaria entender como o catolicismo cedeu terreno às Igrejas evangélicas, e talvez me aproximasse da solução reflectindo sobre o paradoxo que consiste em chamar evangélica a uma forma de religião que se situa no oposto da lição de misericórdia e compaixão que o comportamento de Cristo mostra nos Evangelhos. Esta mudança de eixo ajudaria a compreender a histeria de massa entre os fiéis e a entender a razão dos serviços de segurança à porta dos templos. Numa segunda vertente, depois de mostrar como o neopaganismo dos SS se relacionava intimamente com o seu culto da natureza e as suas concepções de ecologia, mostraria o prolongamento desse neopaganismo naquele conjunto de convicções conhecido como New Age, igualmente ligado a movimentos ecológicos. Estas duas vertentes corresponderiam à face conservadora e à face radical do fascismo pós-fascista.
Há também um comentário que elogia a destreza de alguns jogadores de futebol. Mas não diz respeito ao meu texto, onde tratei de assuntos muito diferentes.
O mito do futebol de esquerda e popular é como as prisões auto-geridas e o bom nacionalismo.
Recomendo ao Joao Alberto que passeie por Buenos Aires, especialmente pelas cidades do chamado conurbano, para ver como Maradona é efetivamente transformado em uma expressao estética de um pos-fascismo, ainda que seja um pos-fascismo muito mais inspirado nas raízes propriamente fascistas, em comparacao com outros pos-fascismos. Voce verá que ele vai perdendo seu nome terrenal, e passa a ser chamado apenas de “D10S”. É muito possível também que voce encontre a assinatura dos que fizeram o mural, “La Campora”.
A Argentina está toda manchada e lambuzada nesses imbricamentos que Joao Bernardo explicita. Mauricio Macri, presidente do Boca Juniors, posteriormente chefe do governo da capital e presidente da república. Hugo Moyano, décadas comandando o sindicato de caminhoneiros e até recentemente presidente do Independiente. Marcelo Tinelli, apresentador de televisao com vínculos com a politica (espécie de Luciano Hulk argentino), presidente do San Lorenzo até recentemente. Um passeio pelo bairro de Mataderos também é elucidativo sobre os vínculos do clube Nueva Chicago com os setores mais gangsters do peronismo.
Por outro lado, quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo ano passado, as ruas eram uma festa nacionalista. A efusao era tanta que até meninas que antes da pandemia simpatizavam com um feminismo linha dura terminaram subindo-se a um ponto de onibus qualquer para participar na festa. Entre os canticos “moderados” e mais inocentes nao faltavam aqueles que atacavam um jogador frances por ter uma namorada transgenero, ou entao um que dizia que os jogadores negros e de origens africanas nunca poderiam ser franceses de verdade. O número de mortos foi impressionantemente baixo, quase zero, devido, penso eu, a dois fatores civilizatorios: embora seja um país com muito consumo de alcool e relativa posse de armas por habitante, os argentinos consomem o alcool de forma muito mais moderada, e o uso de armas é muito menos ostensivo que em outros países da regiao. Isso certamente se traduz em um menor número de péssimas decisoes tomadas, tais como dar tiros ao ar como forma de comemoracao, dirigir automóveis em altas velocidades, tirar satisfacoes com desconhecidos, etc. (e nao é que nao houve péssimas decisoes, como se pode ver em muitos vídeos que circularam na internet)
Um labirinto sem qualquer saída #3
《O labirinto também visto como um vai-e-vem ou ziguezagues, o beco sem saída do Capitalismo.》
O Fascismo conferiu à política uma dimensão estética e se apresentou como a suprema obra de arte.
No séc. XXI o Fascismo adquire sua forma nas redes sociais. Qual a estética hegemônica nas redes sociais? Nelas o modo de vida é o kitsch.
Banal e vulgar. Estereotipado e plagiário. Falsificador e sentimentalóide. Barato, mas mimetizando o luxo. Acima de tudo conformista e de massas. E cada vez mais universalizado.
Anteriormente, o modelo de cidadão foi o de consumidor. No atual capitalismo cibernético passa a ser o de usuário. Ao mesmo tempo multi sensor de input, dispositivo de saída dotado de processamento com armazenamento local e veículo driveless controlado à distância.
Esta permanente Contra-Revolução Zumbi mais do que reduzir pessoas a máquinas (como no paradigma do capitalismo industrial) ou mesmo transformar máquinas em pessoas (como sonham as mentes mais elétricas do Vale do Silício) pretende reformatar a todos nós como ciborgues.
A sociedade em rede é um onipresente e onisciente panóptico distribuído, interconectando o concreto e o virtual, o digital e o analógico.
Os campos de concentração deste admirável mundo novo são percebidos como reconfortantes grupos de afinidades nas redes sociais.
Por todos os lados o comando, o controle, a comunicação e a mensagem são os mesmos: Resigne-se. Não se rebele. Fique bem. Aceite. Entregue. Confie. Morra, mas continue vivo. É assim que precisamos de vocês.
Isto não é apenas uma digressão, é uma sentença peremptória:
“A situação das claques (torcidas), porém, é mais complicada do que a dos grupos de rock porque, se ambos dependem do poder económico, a própria existência das claques depende também de outra instituição — os clubes (times) de futebol. Ora, estes clubes são empresas que movimentam fortunas colossais e, aliás, basta olhar para as blusas dos jogadores, transformadas em painéis publicitários. Mas a lógica desses investimentos e das despesas fabulosas que implicam só se entende quando se verifica que os clubes de futebol são, ao mesmo tempo, canais da economia paralela, servindo para lavagem de dinheiro e outras operações do mesmo género. As claques (torcidas), por seu lado, além de se relacionarem economicamente com os clubes, são também extensões da economia ilegal, ligadas ao comércio de drogas”.
Para fazer as conexões acima João Bernardo deve estar bem informado sobre isso. Mas é uma descrição redutora. O futebol e as torcidas não se resumem a isso. Que fortuna colossal movimenta a minha Lusa (falida) no Canindé ali ao lado do Juventus, esse outro falido, no bairro da Mooca? E aquelas torcidas de velhotes, quantos criminosos e traficantes não devem se esconder por ali… coitados.
A certa altura da sua vida o argentino Diego Maradona foi jogar no Napoli (Itália), um exemplo da lógica transnacional de negócios que o artigo acima apresenta. No meio da torcida fanática (pelo que deduzo do texto talvez uma torcida controlada por narcotraficantes…) um jovem chamado Paolo Sorrentino viu “D10s” (Maradona) em campo e deslumbrou-se. Numa entrevista, anos mais tarde, disse que ver Maradona em campo salvou-lhe a vida… E apesar de toda aquela “estetização fascista”, ainda assim, o jovem napolitano quando já consagrado como um grande cineasta colocou um Maradona imensamente gordo manifestando suas habilidades com uma bolinha de tênis…para deleite dos dois velhos personagens deslumbrados no filme Youth (Juventude) (2015). Grande Maradona!!
Entre as bolas e as chuteiras quase sempre há um gemido lancinante que só quem jogou futebol sabe a terrível dor que se sente… lembrei-me dessa dor ao ler as conclusões deste artigo nos termos dedicados ao futebol.
No meu texto referi exclusivamente os clubes (times) multimilionários e as claques (torcidas) que lhes estão ligadas, mas João Alberto insiste em misturar essa realidade com outra, a de clubes falidos e guarda-redes (goleiros) asmáticos. Será para satisfazer uma lamentável propensão ao insulto ou por uma incapacidade de compreensão? Talvez ambas as coisas. O certo é que não estou disposto a perder tempo com leitores que não sabem ler.
Para ajudar o João Bernardo a não perder tempo com maus leitores como eu deixo abaixo dois links sobre a realidade do mundo do trabalho do futebol. Mais da metade dos jogadores de futebol no Brasil em 2021 recebiam aproximadamente um salário mínimo (cerca de 1.100,00 reais).
E já que falava de goleiros (guarda-redes) numa dessas reportagens temos o caso do goleiro (André Dias) do Juventus (o time da Mooca, São Paulo, com sede na rua Javari). Numa fotografia no meio do texto notem a meia-dúzia de torcedores (pós-fascistas difusos ?) sentados na arquibancada enquanto o goleiro faz uma espetacular defesa.
No seu artigo João Bernardo fala em clubes de futebol e suas torcidas não fala em “exclusivamente” os clubes multimilionários… Ou só os torcedores da Juventus (Itália) é que podem ser fascistas e os torcedores do Juventus da Mooca não o conseguem ser?
Como mau leitor penso que o João Bernardo acertou em não seguir com o futebol nos seus labirintos do fascismo e se já tivesse escutado a música do vocalista da banda Aborto de Nazaré aqui de Goiânia, certamente que também não colocaria o rock na mesmo estudo…
https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2022/12/04/salario-medio-de-jogadores-de-futebol-nao-alcanca-nem-as-100-maiores-remuneracoes-de-contratacao.ghtml
https://blog.toroinvestimentos.com.br/alta-renda/quanto-ganha-um-jogador-de-futebol
“Enquanto empresas que fazem circular muitos milhões de dólares, os clubes…”
Eu entendo o João Alberto por ficar mordido com a crítica ao futebol, porque também olhei torto a crítica ao rock, mas creio que o texto levanta questões importantes que não devem se resumir a “o futebol é fascista” ou “o rock é fascista”. E aí faço uma pergunta ao autor: o apelo às massas em sentido de excitação coletiva é sempre fascista? As lutas sociais, principalmente quando adquirem forma de revolta generalizada, não acionariam os mesmos dispositivos dos do futebol e do rock? Indo mais além, as revoluções não cumpriram o mesmo papel?
Um processo revolucionário anticapitalista não consiste em fazer barulho nas ruas nem partir vitrines. Consiste em tomar o poder nas empresas, com tudo o que daí decorre quanto à transformação das relações de trabalho. Uma revolta social que assuma a forma de histeria de massas ou é geradora de fascismo ou é já um fascismo. Os fascismos foram sempre e continuam a ser movimentos de massas — movimentos de massas de um dado tipo, que encontra a matriz naquela histeria que preside aos espectáculos de futebol dos grandes clubes (times), à violência histérica das claques (torcidas) ligadas a esses grandes clubes e à histeria colectiva dos shows de rock. Quem não entender que o fascismo é uma histeria de massas ou não entende o que é o fascismo ou tem medo de dar o nome à coisa.
O eixo deste terceiro percurso deixado em suspenso é a indústria cultural de massas, essa mesma indústria tentacular que, entre muitas outras actividades, preside à montagem dos espectáculos de futebol e dos shows de rock. Todo este percurso gira em torno da dialéctica complexa entre a indústria cultural e a criação artística. E quem quiser reflectir sobre a relação da indústria cultural de massas com o fascismo deve partir das declarações de Albert Speer no julgamento de Nuremberga, de que citei trechos no segundo percurso. Mas nada é mais oposto à reflexão do que a indignação fácil.
Em Janeiro de 1991, Marcelo Coelho escreveu a propósito do Rock in Rio: «Vociferação, gritos, cara feia, dureza (o ritmo da bateria é selvagem, implacável, monótono), agressividade, delírio de massas: só me ocorre uma comparação. É com o fascismo». Nessa altura Javier Milei tinha vinte anos e ninguém podia adivinhar o que ele viria a ser. Que importa! Marcelo Coelho mostrou o que aquele tipo de rock já era, e abriu-nos assim a perspectiva para entendermos o que Milei representa hoje. Vejam e ouçam aqui.
Cavalgada da Walkyiria?
Ou Walkyria cavalgada?