Por Vitor Morais
4.
Conforme já adiantado, o “Abraçaço” (2012) de Caetano Veloso, derradeiro álbum com a Banda Cê, é prelúdio fundamental para entender o dia de Junho que viria. Isto porque “Abraçaço” opera um paradigma duplo: de um lado, um álbum todo mimetizado para sintetizar as posições de uma vida toda de Caetano, como que em uma despedida não anunciada; de outro, uma turnê de shows atravessada por Junho, que se estenderia até 2015. Se não passo do ponto na análise, “Abraçaço” demonstra como nunca as ambivalências de Caetano Veloso, dado que à mesma medida que aposta nas potencialidades redentoras e singulares do Brasil, capaz de permitir constantes acertos de contas com o passado ao longo do álbum – “A Bossa Nova é foda”, “Um comunista” e, até mesmo, “Gayana” (de Rogério Duarte) – acena de longe com um “aquele abraço” travestido de “adeus” (“Um abraçaço”), como se seu projeto político, institucionalizado nos anos lulistas, já tivesse se esgotado em suas capacidades de renovação, necessitando do surgimento de novos nomes capazes de fazerem, no limite, o Brasil merecer o Brasil.
É neste sentido que se torna preciso compreender “Abraçaço” como um disco de pontes. Ao abri-lo com “A Bossa Nova é foda”, Caetano retoma a discussão que já vinha fazendo à época em suas colunas semanais em O Globo e a qual, no limite, se encontra no cerne de toda sua produção desde os anos 1960, sobre a “linha evolutiva da Música Popular Brasileira”. A canção, que alude ao “bruxo de Juazeiro” (João Gilberto) repetidas vezes, é uma digna manifestação da visão caetânica sobre a Bossa Nova, expressada em incontáveis ocasiões prévias, como no ensaio “Diferentemente dos americanos do Norte”, conferência proferida nos anos 1990. Naquela ocasião, dizia Caetano: “a bossa nova de João Gilberto e Antônio Carlos Jobim significava violência, rebelião, revolução e também olhar em profundidade e largueza, sentir com intensidade e coragem, querer com decisão. E tudo isso implica enfrentar os horrores da nossa condição: …” [37]. Há nesta colocação de Caetano Veloso uma exegese de sua própria máxima de que “o Brasil ainda precisa merecer a Bossa Nova”, isto é, de que nossos entes redentores – e reflexivos, interpretativos, intervencionistas – necessitam ainda serem reconhecidos, trabalhados e afirmados. Contudo, qual o sentido de se evocar tal paradigma no ano em que o lulismo, agora com Dilma, vivia seu último respiro daquilo que André Singer chamou de “sonho rooseveltiano” [38]? Dobrar a aposta? Radicalizar por dentro? Insurgir por fora? Todas estas, questões que orbitam o caldo de cultura que venho desenhando e que desagua em Junho de 2013. Caetano é aqui, outra vez, o líder que se projeta enquanto interventor na sociedade brasileira.
Importante lembrar, à luz disso, o encontro do paradigma veterano carioca com seu respectivo referente aos “fora do eixo”, também do Rio de Janeiro. Afinal, “Abraçaço” é um álbum no qual, em que pese o menor número de referências que em “Zii & Zie”, por exemplo, o Rio continua como algo que o orbita – “Estou triste, tão triste / E o lugar mais frio do Rio é o meu quarto” (“Estou triste”). Como a tristeza é senhora, afinal, “desde que o samba é samba é assim”, que fazer? Passa a ser construída, aí, a passagem de “Abraçaço”, que acredito esteja eclipsada, além da já citada “A Bossa Nova é foda”, em “Um abraçaço”, “Um comunista”, “Funk melódico” e “Gayana”, como que operando um percurso histórico, que vai dos anos 1960 ao Junho que ainda não tinha tomado as ruas. Quem primeiro identificou, ainda que noutros termos, este percurso do tempo em “Abraçaço”, foi Guilherme Wisnik, ao afirmar que o álbum como um todo passa em revista “duas das grandes matrizes da utopia estética e política do século 20”, “utopias grandiosas e modernas, que mobilizaram a imaginação de gerações na direção da instauração de mundos outros”: o comunismo e a Bossa Nova [39]. Sobre a segunda, já tratamos; quanto ao comunismo, em breve lá chegaremos (ou não). Ao retomar a potência transgressora da Bossa, que inspiraria o Tropicalismo, e ligá-la, de imediato, a “Um abraçaço”, em que canta “Hey / Hoje eu mando um abraçaço”, Caetano aponta o esgotamento do projeto tropicalista, “como quem diz: valeu aí galera, agora é com vocês”, ponto esse que retoma nossa discussão inicial sobre o “fim da canção” e o também esgotamento da centralidade da canção MPB na vida brasileira [40]. Não infortuitamente que logo após passar o bastão, como que em uma despedida [41], Caetano emende “Estou triste”, afinal, se seu projeto estético perdeu o lastro, sua vida ainda não, porque vivo – “I’m alive and vivo, muito vivo, vivo, vivo” (“Nine out of ten”, de “Transa”, 1972).
Daí adiante, “Abraçaço” vai se configurar no percurso histórico que ora tateio como um “réquiem engajado”, tanto de Caetano quanto de suas apostas políticas, quer aquelas referentes aos anos 1960, quer aquelas mais imediatas, ligadas à gestão das expectativas decrescentes no lulismo [42], de modo que é possível dizer, arriscando um tanto, que o álbum como um todo traça um perfil histórico do pensamento de Caetano, apontando para seu passado, presente e um tímido futuro (Caetano tinha, à época do lançamento do álbum, 70 anos), como que encalacrado entre a não-morte física e a falência do Tropicalismo, porque institucionalizado, como que se fizesse necessária uma nova disrupção para permitir a renovação da “linha evolutiva da [falida?] MPB” [43]. Daí que se justifique, por exemplo, a longuíssima e monótona ao extremo canção-testamento de Caetano sobre Carlos Marighella, “Um comunista”. Toda a canção, todavia, é das mais importantes para pensar o projeto ideológico de Caetano Veloso, e, ademais, reforça a noção do álbum como um “réquiem engajado”. Afinal, com o lulismo institucionalizando o Tropicalismo (ou o contrário), o horizonte se encerrava ali, e parecia ser hora de acertar as contas com um determinado passado que teimava em não passar. Conectado ao espírito do governo Dilma, que tomou para si a tarefa de fazer anos depois de não feita a justiça de transição à brasileira (manca, como sabemos), ao instaurar a Comissão Nacional da Verdade, cujos trabalhos se encontravam em andamento à época, Caetano retomava em “Um comunista” o passado da Ditadura Civil-Militar, momento histórico ao qual, para muitos, ele teria se aliado ideologicamente na campanha por tábula rasa do passado pré-64, mas que também o deteve e compeliu, junto a Gilberto Gil, ao exílio londrino.
É certo que a leitura de Caetano, que vai na contramão da à época recém-lançada faixa dos Racionais MC’s “Mil faces de um homem leal” (2011), também sobre Marighella, o tratará como “um mulato baiano, muito alto e mulato” – novamente, o ponto de vista mestiço, que retoma noutros termos “O Herói”. Contudo, até onde vejo, há ali uma elegia à passagem do tempo [44], em que Caetano chama para si próprio a defesa da memória de Marighella, operação expressada com distanciamento nos seguintes versos, aos quais se soma instrumento de percussão no arranjo: “Ó mulato baiano, o samba o reverencia / Muito embora não creia em violência ou guerrilha”. Apontando para a singularidade redentora de Carlos Marighella – “O mulato baiano já não obedecia / As ordens de interesse que vinham de Moscou” – Caetano cantará conclusões extremamente próximas – eu diria que idênticas – às de Marcelo Ridenti em seus livros: “Era luta romântica, era luz e era treva / Feita de maravilha, de tédio e de horror / Os comunistas guardavam um sonho / Os comunistas!”. Acredito que estes versos resumam perfeitamente o oxigênio mental dos anos 1960, suas lutas e capitulações, bem como o esgotamento de seu paradigma de explicação da matéria brasileira à luz do lulismo e do Ornitorrinco.
E é justamente por isso, até onde vejo, que logo em seguida vem o ”Funk melódico“, que retoma as sonoridades e posições do mundo sem culpa 2.0 de “Recanto” (Gal Costa, 2011). Por fim, importante situar o encerramento do “réquiem engajado” “Abraçaço” com “Gayana”, canção do disruptivo e corpóreo Rogério Duarte, e que Caetano grava como que dando um fecho à sua obra, apontando que a pauta das identidades e da diversidade, que já caminhava para adensamento naquele 2012, mas que no rescaldo de Junho explodiria para todos os lados, inclusive na canção, como se verá, já estava dado no fervor tropicalista; vide, por exemplo, as declarações de Caetano Veloso sobre sua bissexualidade. O que importa a esta altura é: Caetano via ali um encerramento de um ciclo histórico consolidado, portanto, em que a própria postura tropicalista de entronização na cultura oficial brasileira se esgotava em seu potencial transgressor, daí seu desejo de que algo novo surgisse, para agitar novamente o caldeirão – vejam-se os canhões eletrônicos em polvorosa que encerram o álbum no fonograma de “Gayana”. Convém lembrar que para Chico Buarque não haveria nada consolidado que não o colapso da experiência moderna brasileira, o que é curioso, afinal, neste ponto Caetano seria mais lulista que Chico, ainda que o segundo seja mais associado à figura de Lula – que o primeiro chamara de analfabeto anos antes – e ao Partido dos Trabalhadores como um todo.
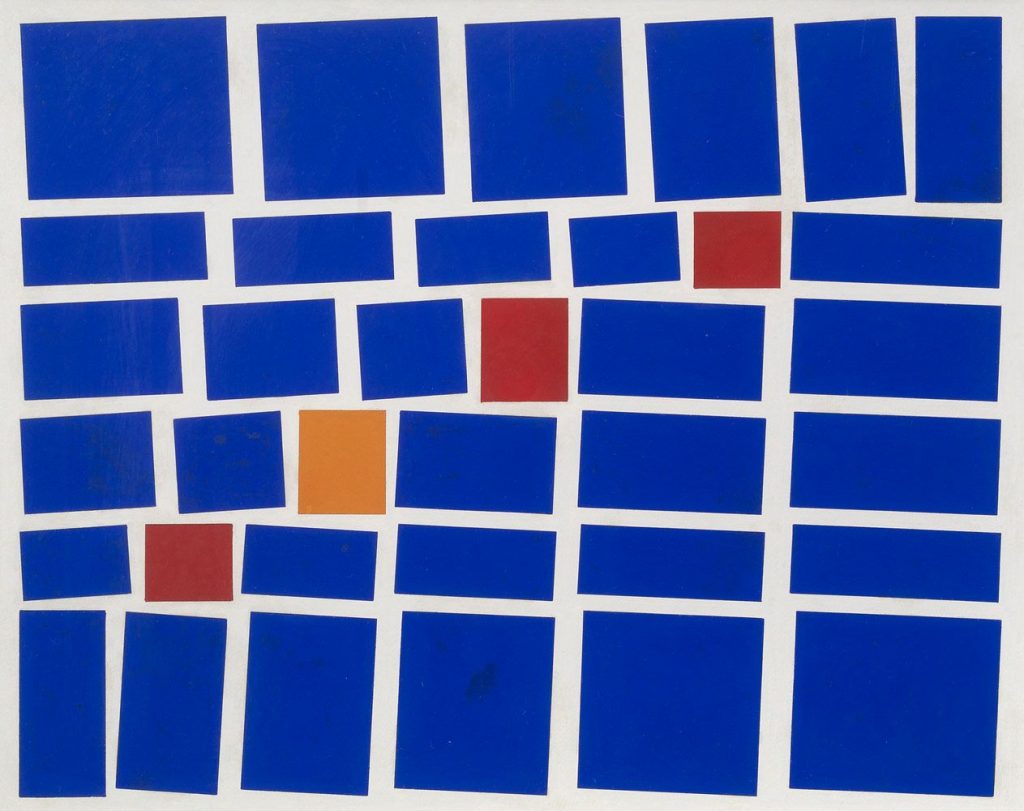 Mas se não estou enganado em meio à choramingação do passado perdido – até porque logo menos o próprio presente se perderia -, outro tropicalista, que não havia se institucionalizado em nenhum aspecto, antes o contrário, teria feito, a partir de São Paulo, um outro prelúdio, para um outro Junho. Trata-se do “Tribunal do Feicibuqui”, de Tom Zé, lançado em abril de 2013. Tendo vindo à luz como resposta às patrulhas ideológicas nada anacrônicas que o cancelavam por ter aparecido em um comercial da Coca Cola, como que traindo as expectativas de disrupção que sua figura emulava por entre a juventude, Tom Zé glosa ali temas que vão do universo digital à paródia do “Taí (Pra você gostar de mim)”, clássica marchinha de carnaval da primeira metade do XX de autoria de Joubert de Carvalho, passando pela redenção via Papa Francisco. Estabelecendo pontes entre o paradigma veterano que representa e o paradigma “fora do eixo” paulistano, Tom Zé mimetizou em “Tribunal do Feicibuqui” uma outra ponte, diferente da visão institucionalizada de Caetano, que torce, distanciada, pelo novo. No EP de Tom Zé, e especialmente na parceria com Tim Bernardes, “Papa Francisco perdoa Tom Zé”, o tropicalista de Irará caçoa dos intelectuais anticapitalistas – e anti-imperialistas – da Paulicéia desvairada que nele depositavam as esperanças do artista que, sabe-se-lá com que renda, resiste a tudo e todos no avanço do sistema capitalista. Penso que Tom Zé, ao propor a disrupção possível no cenário do Ornitorrinco, em que ele próprio precisa de dinheiro para sobreviver em meio à “Era dos Editais” de captação de recursos para viabilização dos álbuns [45], estabelece tácito diálogo com a ideia de que o Junho de 2013 capitulado representou uma revolta da sociedade lulista contra o lulismo e suas limitações, nos termos já acima apontados. Este ponto de vista seria, como dito, escancarado em “Papa Francisco perdoa Tom Zé” quando até mesmo a “sudamericana unidad Fidel” é chamada para o perdão ao delinquente tropicalista-baiano: “Eu sou a garotinha ex-tropicalista / Agora militando em um movimento / Já não penso mais em casamento / Mas se tomo Coca Cola acho que estou me vendendo”. E ainda: “Meu coração fundamentalista / Pede socorro aos intelectuais / Pois a diferença entre esquerda e direita / Já foi muito clara, hoje não é mais”.
Mas se não estou enganado em meio à choramingação do passado perdido – até porque logo menos o próprio presente se perderia -, outro tropicalista, que não havia se institucionalizado em nenhum aspecto, antes o contrário, teria feito, a partir de São Paulo, um outro prelúdio, para um outro Junho. Trata-se do “Tribunal do Feicibuqui”, de Tom Zé, lançado em abril de 2013. Tendo vindo à luz como resposta às patrulhas ideológicas nada anacrônicas que o cancelavam por ter aparecido em um comercial da Coca Cola, como que traindo as expectativas de disrupção que sua figura emulava por entre a juventude, Tom Zé glosa ali temas que vão do universo digital à paródia do “Taí (Pra você gostar de mim)”, clássica marchinha de carnaval da primeira metade do XX de autoria de Joubert de Carvalho, passando pela redenção via Papa Francisco. Estabelecendo pontes entre o paradigma veterano que representa e o paradigma “fora do eixo” paulistano, Tom Zé mimetizou em “Tribunal do Feicibuqui” uma outra ponte, diferente da visão institucionalizada de Caetano, que torce, distanciada, pelo novo. No EP de Tom Zé, e especialmente na parceria com Tim Bernardes, “Papa Francisco perdoa Tom Zé”, o tropicalista de Irará caçoa dos intelectuais anticapitalistas – e anti-imperialistas – da Paulicéia desvairada que nele depositavam as esperanças do artista que, sabe-se-lá com que renda, resiste a tudo e todos no avanço do sistema capitalista. Penso que Tom Zé, ao propor a disrupção possível no cenário do Ornitorrinco, em que ele próprio precisa de dinheiro para sobreviver em meio à “Era dos Editais” de captação de recursos para viabilização dos álbuns [45], estabelece tácito diálogo com a ideia de que o Junho de 2013 capitulado representou uma revolta da sociedade lulista contra o lulismo e suas limitações, nos termos já acima apontados. Este ponto de vista seria, como dito, escancarado em “Papa Francisco perdoa Tom Zé” quando até mesmo a “sudamericana unidad Fidel” é chamada para o perdão ao delinquente tropicalista-baiano: “Eu sou a garotinha ex-tropicalista / Agora militando em um movimento / Já não penso mais em casamento / Mas se tomo Coca Cola acho que estou me vendendo”. E ainda: “Meu coração fundamentalista / Pede socorro aos intelectuais / Pois a diferença entre esquerda e direita / Já foi muito clara, hoje não é mais”.
E aí, como que numa jogada de Oz, vem Junho. Conforme já procurei argumentar no primeiro movimento deste escrito, Junho repõe oficialmente na dormente história brasileira uma agenda de lutas, que nasce à esquerda, via MPL, mas que toma proporções maiores que as originais, abrindo como que um flanco à esquerda, que desaguaria nas ocupações dos estudantes secundaristas nas escolas por volta de 2015 – 2016, e outro, à direita, que se repolitizaria após anos anestesiada pelo projeto (tropicalista?) de Fernando Henrique Cardoso. Até onde vejo, ao propor aliança com o Partido da Frente Liberal no pleito de 1994, o que levaria Marco Maciel ao posto de vice-presidente da chapa, FHC faz um movimento duplo: permite a acomodação da direita nos cargos públicos da burocracia de Estado, mas por outro lado anestesia sua politização, em vias defensivas no rescaldo da Ditadura Civil-Militar [46]. Neste sentido, Junho politizaria a esquerda, essa até então dopada pela gestão das expectativas no lulismo, mas também a direita, que no bojo da saída das ruas do MPL após a queda da tarifa em São Paulo e a manifestação (celebrativa?) de 20 de junho de 2013, encontrou uma avenida aberta para todo tipo de barbaridades possíveis. Penso que esta avenida, com mais semáforos fechados à esquerda que à direita, permitiu que a gestão das expectativas da sociedade lulista fosse radicalizada e vertida contra o próprio lulismo, que perdera a capacidade de governar um país que pedia por um reformismo mais rápido que aquilo que se podia oferecer, conjunturalmente, à época.
Tudo isso para dizer que Junho é a consolidação do chamado veloseano em “Abraçaço” por algo novo, capaz de mexer as estruturas, e que teve, até certa altura do percurso histórico, chances de dobrar mais à esquerda que à direita. Assim, se é certo que o distanciamento mais imediato de Chico Buarque com relação a Junho passa por seu diagnóstico de época, ligado ao colapso da modernização e a quase que compulsão de qualquer revolta popular à direita, Caetano aposta em Junho, ainda que contra si próprio. Este processo, que inaugura uma reaproximação de Caetano Veloso com as esquerdas, se iniciaria, até onde vejo, em fotografia tirada em setembro de 2013 feita pela Mídia Ninja – outra filha de 2013 -, na qual aparece vestido com um capuz black block, como que chamando para si, novamente, a tarefa da subversão ao lulismo que agora espezinha [47].
Voltando, contudo, à canção, outro a fazer a ponte do paradigma veterano com os “fora do eixo” seria Ney Matogrosso, que após anos testando em seu repertório canções de nomes da nova geração, em especial Dani Black, gravou o espetáculo que estrearia dali adiante e que o perseguiria até o já assombrado 2018. O nome do álbum que veio à tona no segundo semestre de 2013 era altamente sugestivo: “Atento aos sinais”. Ney, que sempre passou longe do engajamento direto, canta ao longo do álbum todo a revolta urbana, que vai do início com “Rua de passagem (Trânsito)” – “Todo mundo tem direito à vida / E todo mundo tem direito igual”, e ainda, “Sem ter medo de andar na rua / Porque a rua é o seu quintal”, diz a canção de Arnaldo Antunes e Lenine – até “Todo mundo o tempo todo” – de Dan Nakagawa, que teima em cantar “Toda tristeza cessa / Todo silêncio grita / Tudo o que já era / Tudo o que é bom termina / Todo outono é lindo / Todo todo tem parte / Todo fim começa / Todo amor tropeça” (convém lembrar que Junho se deu no outono). Álbum incendiário, como costuma combinar com a figura disruptiva de Ney Matogrosso, “Atento aos sinais” tem ainda “Incêndio”, que canta constantemente “Incêndio nas ruas” (a canção é de Pedro Luís), e regravações de clássicos, como o desesperado samba de Paulinho da Viola “Roendo as unhas” e “Isso não vai ficar assim”, de Itamar Assumpção, que já diz a que vem pelo próprio título. Tudo isso sem falar na faixa que dá origem ao título, “Oração”, de Dani Black, que chama para a luta contra “O vazio desses dias iguais” para rimar com “Olhos nus e atento aos sinais”. Um ponto importante a ser realçado é que “Atento aos sinais”, assim como “Tribunal do Feicibuqui”, é um álbum paulistano, à oposição do carioca “Abraçaço”, espaço em que Junho tomará, como já visto, outros rumos, inclusive no que diz respeito à punição de seus articuladores de luta.
Mas e no rumo dos “fora do eixo” que iam soltando seus primeiros trabalhos preludiando Junho? Que fazer agora que o dia que viria cantado em prosa e verso finalmente veio, indo contudo para rumos opostos aos sonhados, ao menos em matéria de hegemonia? Emblemáticos para pensar estas duas questões são o “Encarnado”, de Juçara Marçal, e o “Convoque seu buda”, de Criolo, ambos de 2014, o primeiro de fevereiro e o segundo de novembro. Até onde tenho notícia, o último ato da choramingação quanto ao que se perdia sem forma ter tomado que venho apresentado ao longo destes dois últimos movimentos, consumado no primeiro álbum solo de Juçara, o “Encarnado”, foi pioneiramente percebido por Walter Garcia ao analisar a canção “Ciranda do aborto”, de Kiko Dinucci. Na leitura de Garcia, “Ciranda do aborto”, ao cantar o aborto cuja “ferida se abriu / Nunca mais estancou”, operava uma alegoria do presente que “morreu por dentro”, dado esse que se somaria à informação de que os ensaios para a consecução de “Encarnado” se intensificaram justamente entre Junho e julho de 2013, isto é, no centro do furacão [48]. Expandindo um tanto a leitura, penso que todas estas questões, que chegam a um ponto limite em “Ciranda do aborto”, se encontram presentes ao longo das seis primeiras canções de “Encarnado”. “Velho amarelo” (Rodrigo Campos), por exemplo, é taxativa ao iniciar o fonograma – e também o álbum – cantando: “Não diga que estamos morrendo, hoje não”, ao que responderá com a sonoridade mortífera do aborto na ciranda de Dinucci. “Damião” (Douglas Germano), como também nota Walter Garcia, vai na mesma toada, assim como “Queimando a língua” (Alice Coutinho / Rômulo Fróes) e “Pena mais que perfeita” (Gui Anabis / Regis Damasceno). “Odoya” (Juçara Marçal) funciona como introito à “Ciranda do Aborto” e, junto dessa, são as únicas duas canções de “Encarnado” que não ganharam outras gravações, prévias ou posteriores à edição do álbum.
Já as seis últimas canções de “Encarnado”, elaboram o luto diagnosticado nas seis primeiras e escancarado na “Ciranda do aborto”. Não à toa, que se suceda a essa a “Canção para ninar Oxum”, de Douglas Germano – “Chora não Oxum, de que chorar / Sonha viu, Oxum, sem lágrima”. Penso que este processo, já bastante considerável nesta canção, atinja pontos sublimes em “Presente de casamento” (Rômulo Fróes / Thiago França) e “João Carranca” (Kiko Dinucci). A gravação de “Presente de casamento” de Juçara, bem diferente daquela feita solo ao violão por Rômulo em seu álbum “Por elas, sem elas” (2015), é uma das mais interessantes elaborações da morte morrida do lulismo em Junho e do(s) futuro(s) que poderia(m) se desenhar à luz deste fato. Se na versão de “Encarnado”, Juçara Marçal faz doer esta morte, no fonograma de “Por elas, sem elas”, Rômulo Fróes lamenta. Passemos à letra, que à certa altura diz: “O velho ali sou / Eu que falo / Aquela é minha voz / A voz ali é / Nós dois deitados / No meio do incêndio / Queimando em silêncio / O fogo ali é / O meu presente / Do nosso casamento / Que já morreu por dentro”. Ou seja, a agora velha dinâmica lulo-tropicalista, “morreu por dentro” com Junho, e o que ela pode oferecer à renovação social é o fogo de um “incêndio / Queimando em silêncio”, porque se desfazendo lentamente [49]. Aspectos todos que, apesar de importantes, dizem respeito ao plano da elaboração formal de uma derrota. Mas e o povo nesta equação? É aí que entra “João Carranca”, que, como bem aponta Walter Garcia, canta um revide simbólico de uma profissional da Boca do Lixo via navalha (na carne?) ante ao João Carranca que resolveu “causar suspiro nas mocinhas”. A forma samba do fonograma é serena, apesar da violência cantada, e encerra, em contraposição aos fragmentos de ruína das demais onze anteriores canções, apontando para o ente popular que tomava de assalto o trem da História no trópico brasileiro [50].
E é bem em uma toada à “João Carranca” que um dos populares dará sua visão sobre Junho. Veja-se que não nego o caráter das origens periféricas de figuras como Douglas Germano, Kiko Dinucci e Rodrigo Campos, contudo, até onde enxergo, não se tratam de figuras que falam para a periferia, apesar deste ponto de vista sobre o periférico lá estar presente, conflito esse cujas razões não cabem ao escopo desta investigação, mas que merecem ser estudadas. Se não estou enganado, o abstrato ente “povo” dará a sua versão de Junho por meio de uma figura que oscila com maestria entre os frangalhos da canção MPB, o samba, e a grande ruptura disso tudo, como já apontado, que é o rap. Falo do já citado “Convoque seu buda”, de Criolo, que vem à cena já após as acirradíssimas eleições de 2014, em que o lulismo dobra a aposta do reformismo na campanha eleitoral e vence o pleito contra o incisivo Aécio Neves (PSDB/MG), que, não aceitando o resultado do pleito presidencial, mantém o continuum de politização das direitas e ocupação das ruas ao qual o Junho esvaído dá lastro [51]. É à luz deste Junho que também se conforma como um Ornitorrinco, que Criolo cantará o “Convoque seu buda”. Um ponto de vista periférico, a partir do Grajaú paulistano, que, contudo, também terá vasão por entre as classes médias intelectualizadas que viveram o Junho que se entronizou. Isto porque o próprio Grajaú viveu incontáveis episódios de luta ao longo de 2013, para além de Junho [52]. Um outro Junho, portanto. Um ponto de encontro entre a liberação do Junho da Avenida Paulista e o Brasil Ornitorrinco, sumarizado na canção “Fermento pra massa”, que, ainda que um samba, vai enumerando as contradições do Brasil lulista: “Tem fiscal que é partideiro / Motorista, bicheiro e DJ cobrador / Tem quem desvie dinheiro e atrapalha o padeiro / Olha aí, seu doutor / Eu odeio tumulto / Não acho insulto manifestação / Pra chegar um pão quentinho / Com todo respeito a cada cidadão”. Um Brasil muito mais real que a choramingação, repito o termo, de constatar o luto. Um Brasil em que não há tempo para o luto.
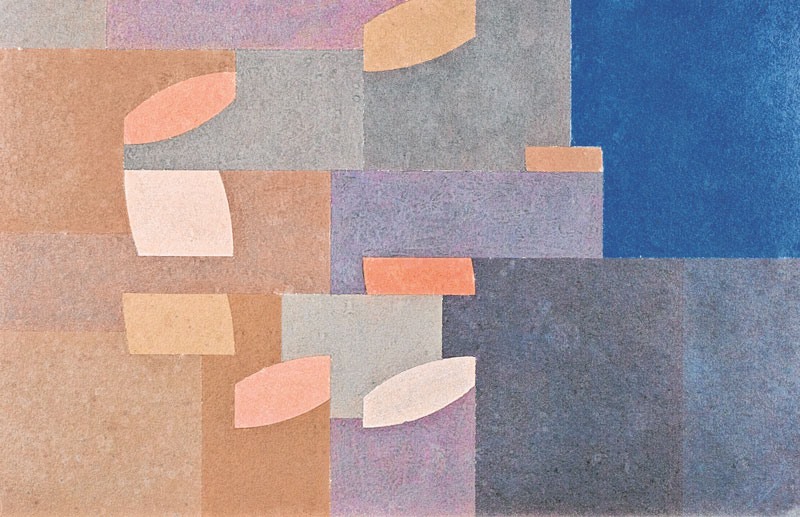 5.
5.
Disto, voltamos à questão do “fim da canção”. Isto porque, se não devaneio, um dos pilares da hipótese do “fim da canção” era a de que os intelectuais de classe média que produziam canção já não mais faziam encontrar lastro, em suas composições, no grosso da população, que, se sempre foi hesitante em consumir este tipo de canção, flertou nalguns momentos pontuais com ela ao longo da segunda metade do século XX. Daí que se torne preciso, à luz da politização gerada por Junho, construir uma figura que encarnasse seu espírito. Uma figura do povo, do Ornitorrinco, mas que correspondesse às expectativas da classe média intelectualizada produtora de canções que cantara insistentemente, num primeiro momento, o dia de Junho que viria e, noutro, o luto pelo dia de Junho que de fato veio, e que pouco pensara no devir pós-Junho. Esta figura, encontrada como ente salvadora da canção MPB no cenário pós-Junho, esta figura chamou-se Elza Soares. Não quero com esta leitura reduzir o peso histórico de Elza, mulher, negra, periférica, que iniciou sua vida no meio dizendo vir do “planeta fome”, muito menos deixar a impressão de que haveria ali oportunismo de qualquer um dos lados. É antes o contrário, um encontro de todos os nomes que venho falando aqui, ligados ao paradigma “fora do eixo” com uma “veterana”, não de 64, mas uma “veterana” do povo, que foi acolhida pelo paradigma veterano de 64.
Minha hipótese é que o álbum “A mulher do fim do mundo” (2015) seja o caminho à esquerda para a institucionalização de Junho. E, justamente por isso, a perda de Junho. Primeiro porque dá um safanão na cara de qualquer intelectual de classe média que pensava conhecer o Brasil bem até Junho. Segundo, porque projeta, na figura de Elza, na fortaleza Elza, os anseios, as pautas e lutas, de uma esquerda pós-Junho que, cada vez mais defensiva, não deixaria de colocar na roda uma agenda. Esta agenda, profundamente ligada às noções de lutas por reconhecimento, identidade, alteridade e ancestralidade, se encontra sumarizada, como que em um manifesto, no álbum de Elza [53]. Dali adiante, a questão da unidade na diferença, seria imposta como uma agenda comum e acrítica a quase todos os setores das esquerdas, como que numa entronização capitulativa dos ideais originais de Junho, mas também como em uma sobrevida-fênix da canção MPB.
Esta percepção, minimamente ambígua, aparenta-se estar muito bem confessada em declaração de Kiko Dinucci, que trabalhou em “A mulher do fim do mundo”, para Sheyla Diniz e Danilo Ávila, na qual diz, retomando as declarações de Chico Buarque sobre o tema, o que segue: “Acho, assim como o Chico, que hoje a gente está vivendo um momento em que a música brasileira está sendo mais brasileira do que nunca. Passo Torto tem que morrer mesmo, Chico também, e deixar o povo fazendo o som deles. Não tem mais volta. Poder para o povo!” [54]. Vejo com muita preocupação esta sanha por terra arrasada que o Junho imposto, à oposição do perdido, tem colocado na pauta das esquerdas. Até porque, no limite, ela comunga de um ideal neoliberal que retoma as noções machadianas do Humanitismo de Quincas Borba com seu “Ao vencedor, as batatas”. Contudo, é inegável que esta agenda se impôs com força, sobretudo até o início da pandemia de Covid-19, em 2020. Em 2019, por exemplo, a agenda identitária parecia imperar soberana em meio às esquerdas, inclusive no álbum “Planeta fome” de Elza, daquele mesmo ano, como se toda a agenda de lutas de Junho tivesse de fato se perdido em torno de ressentimentos e revides os quais, ainda que amparados historicamente, interditavam o debate crítico e abriam espaço para o crescimento da extrema-direita já no poder à época.
Disso, abre-se a discussão sobre o que é o Brasil. Isto porque, se, conforme Kiko, “a música brasileira está sendo mais brasileira do que nunca”, isso significa que o Brasil imaginado pelos intelectuais de classe média atuantes no mundo cultural com ênfase na canção desde ao menos os anos 1950, não atendia pelo nome de Brasil, mas sim de utopia. Daí que Nuno Ramos, em livro publicado naquele mesmo 2019 e que versava sobre esta matéria anterior toda, possa dizer que “É provável, em suma, que tenha escrito sobre algo de que me despeço” [55]. Com o império da razão formado pelo “AmarElo” (2019) de um Emicida, e a insistência dos setores mais intelectualizados em denunciar a irreversibilidade de Junho, ao invés de propor o pós-“Junho”, como bem se vê em “Não reparem” (Clima e Juçara Marçal, 2022) – “O que é que tem lá fora? / O que é que tem lá? / Tem uma lua morta / Mas não reparem”, Junho se perdia. E, para piorar o cenário ainda mais, era uma vez uma frente amplíssima para derrotar a extrema-direita nas eleições presidenciais de 2022 liderada pelo ente povo novamente na figura do retirante nordestino e ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Como uma fênix, o lulismo voltava ao poder para sonhar o reformismo fraco que o paradigma veterano dissidente e o “fora do eixo” sonharam superar anteriorimente, agora inclusive com o apoio desses. Futuro? “União e reconstrução”. Junho é enterrado, depois de dez anos sendo velado. Seu corpo, contudo, já apodrecido, ainda pode ser cremado e ter suas cinzas por aí espalhadas.
*Vitor Morais é graduando em História pela FFLCH/USP.
Notas
[37] VELOSO, Caetano. Diferentemente dos americanos do Norte. In: FERRAZ, Eucanaã (Org.). O mundo não é chato. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 47.
[38] SINGER, André. O lulismo em crise: um quebra-cabeça do período Dilma (2011 – 2016). São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 25.
[39] WISNIK, Guilherme. Lançar mundos no mundo: Caetano Veloso e o Brasil. São Paulo: Fósforo, 2022, p. 151.
[40] WISNIK, Guilherme. Lançar mundos no mundo: Caetano Veloso e o Brasil. São Paulo: Fósforo, 2022, p. 152.
[41] Segundo informações do livro CARNEIRO, Luiz Felipe / GUEDES, Tito. Lado C: a trajetória musical de Caetano Veloso até a reinvenção com a bandaCê. Rio de Janeiro: Máquina de Livros, 2022, p. 205, Caetano costuma encerrar seus e-mails com a expressão “Um abraçaço”, sinalização de despedida afetuosa, portanto.
[42] Aspecto explorado em ARANTES, Paulo. O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a Era da Emergência. São Paulo: Boitempo editorial, 2014. Se não estou enganado, embora os ensaios contidos no volume tenham sido escritos a partir da segunda metade da década de 2000, “O novo tempo do mundo” configura como uma incendiária teologia para as gerações (paulistanas, especialmente) para as quais o paradigma veterano passava o bastão sem deixar de orientar, no limiar de Junho.
[43] Ponto de vista que será retomado por Caetano em seu último álbum de canções inéditas, “Meu coco” (2021), que opera, já à luz da ampla disseminação dos meios digitais, uma segunda tentativa, agora à luz de Junho, de enquadramento de seu próprio pensamento. Agradeço a Lucas Paolillo pela interlocução quanto a este ponto.
[44] Na mesma toada de acertar as contas com o passado, virá o já citado livro de ensaios memorialísticos de Roberto Schwarz “Martinha versus Lucrécia”, que contaria como único texto inédito justamente a análise dialética de Schwarz sobre o “Verdade tropical” de Caetano, publicado em 1997, e cujo título alude ao que proponho: “Verdade tropical: um percurso de nosso tempo”.
[45] Ver, sobre o tema, ANETTE, Patrícia. Três ensaios sobre a Tropicália de Tom Zé: da “Era dos Festivais” à “Era dos Editais”. Dissertação (Mestrado em Culturas e Identidades Brasileiras). São Paulo: IEB/USP, 2018.
[46] Agradeço a interlocução com Victor Ferreira sobre este tema.
[47] Agradeço a Lucas Paolillo pela informação desta fotografia, que pode ser consultada online em: https://g1.globo.com/musica/noticia/2013/09/caetano-veloso-cobre-rosto-como-black-bloc-em-visita-ao-midia-ninja.html. Acesso em: 11.07.2023.
[48] GARCIA, Walter. Nota sobre o disco Encarnado, de Juçara Marçal (2014). Revista Usp, nº. 111, out./nov./dez. 2016, p. 67.
[49] Curioso que a figura do “incêndio” apareça repetidas vezes no imaginário sobre Junho, como já visto na canção homônima de Pedro Luís gravada por Ney Matogrosso. A constatação fica mais cabulosa ainda quando vemos que a um dos balanços mais profícuos e assertivos sobre as lutas sociais de Junho para cá, o título dado também remete ao “incêndio. Falo do já citado UM GRUPO DE MILITANTES NA NEBLINA. Incêndio: trabalho e revolta no fim de linha brasileiro. São Paulo: Contrabando, 2022.
[50] GARCIA, Walter. Nota sobre o disco Encarnado, de Juçara Marçal (2014). Revista Usp, nº. 111, out./nov./dez. 2016, p. 67.
[51] Agradeço a Lucas Paolillo pela lembrança de Criolo como figura fundamental para pensar a matéria musical de Junho.
[52] Ocupações no Grajaú dão início a jornada de lutas. PassaPalavra, 01.08.2013. Disponível online em: https://passapalavra.info/2013/08/81935/. Acesso em: 11.07.2023.
[53] Para uma crítica, à esquerda, desta leitura, ver BARROS, Douglas Rodrigues. Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial. São Paulo: Hedra, 2019.
[54] DINIZ, Sheyla / ÁVILA, Danilo. A canção pode morrer, mas eu não vou morrer, não…: uma entrevista com Kiko Dinucci. Música popular em revista, vol. 5, nº. 2, 2018, p. 199.
[55] RAMOS, Nuno. Verifique se o mesmo. São Paulo: todavia, 2019, p. 19.
Este artigo está dividido em duas partes. A primeira parte pode ser lida aqui.
As obras que ilustram este texto são da autoria de Hélio Oiticica (1937-1980)






