Por Granamir
Algumas problematizações
Ainda que bastante sugestivas em vários pontos, as hipóteses do autor padecem, a nosso ver, das limitações da sua moldura teórica geral, mais do que do simples contraste na forma como a pandemia foi vivenciada em seu país, em relação ao nosso. Mas para começar por este ponto, a pandemia no Brasil foi um gigantesco experimento social de adestramento para o desastre. A gestão bozista, ao contrário do rótulo de negacionista que lhe foi dado pela maioria, foi na verdade hiper-realista, no sentido do realismo capitalista [8]. A sua lógica poderia ser descrita da seguinte forma: “se não é possível pensar o fim do capitalismo, então temos que vivê-lo da forma mais pura, como simples e brutal luta pela sobrevivência”. Sem uma alternativa elaborada a partir da perspectiva da ruptura com o sistema do capital, a pandemia foi tratada como mais um contratempo inevitável que qualquer pessoa tem que enfrentar individualmente na luta pela sobrevivência, o que serviu para reforçar os aspectos mais bárbaros, regressivos e individualistas do próprio sistema. Na ausência de uma greve geral sanitária que preservasse as vidas, mas provocasse uma paralisação da reprodução do capital, o que prevaleceu foi a própria lógica do capital, em sua nova face de capitalismo de desastre [9]. Ainda que o mundo possa acabar na forma de pandemias virais, catástrofes ambientais, guerras tribais, etc., a reprodução ampliada do capital deve continuar, por isso todos devem ir trabalhar, não importa quais sejam os riscos.
Foi esse o adestramento provocado pela pandemia, uma naturalização da hiper-competitividade, da atomização, da precariedade, da incerteza, da brutalidade, do sobrevivencialismo, da indiferença, do cinismo, num grau de intensidade superior ao das décadas precedentes. Falaremos um pouco mais sobre isso ao final. Antes, porém, seguimos nos distanciando da narrativa oferecida pelo autor. Identificamos a partir da atual década inaugurada pela pandemia uma intensificação dos sintomas de sofrimento social e psíquico, tal como o livro descreve, mas ao invés de uma ruptura na psicoesfera rumo a um novo e terceiro tipo de inconsciente, algo ainda em aberto para ser confirmado, interpretamos esse agravamento como mais um degrau na longa escalada da crise societal provocada pelo simples prolongamento da existência do capital como regulador do metabolismo social.
Reconhecemos um ponto de mutação na história do capitalismo na virada da década de 1970, assim como Berardi e uma plêiade de autores e correntes, mas ao contrário de muitos, não consideramos essa mudança a emergência de uma crise, no sentido de uma aproximação da lendária “crise terminal do capitalismo”. Sendo o capital uma “contradição em processo” (Marx), a crise faz parte da sua normalidade, e se há crises, ainda que sejam provocadas pelo funcionamento do capital, elas não são “crises do capitalismo”, no sentido de que não são por si mesmas ameaças à continuidade desse sistema, mas crises para a humanidade, crises da sociabilidade, ameaças à nossa vida e ao planeta, obrigados que estamos a conviver com esse sistema social, por terem sido derrotadas até o momento todas as tentativas de transição para além do capital.
 O marxismo tradicional, ortodoxo ou oficial desenvolveu uma narrativa em que as crises seriam a oportunidade preferencial para uma ação da classe operária, organizada em partido político, para tomar o poder do Estado, expropriar o capital e abrir caminho para a transição a uma sociedade sem exploração do homem pelo homem, o comunismo. Em certos círculos a expectativa com a qual essa oportunidade é aguardada se assemelha à dos crentes de alguma fé religiosa à espera da salvação. Na verdade, essa narrativa como um todo chegou a tomar aspectos de uma espécie de religião, com textos sagrados, profetas e suas seitas duelando pelo direito de se proclamarem a sucessão legítima dos fundadores. Mas a despeito da virulência das disputas entre os marxistas pela condição de donos da interpretação mais legítima de Marx, a narrativa não se confirmou: a classe operária perdeu peso político (por mais que não tenha desaparecido quantitativamente e nem vá desaparecer), a tomada do poder do Estado (tanto pela social-democracia como pelo bolchevismo e seus derivados) não deu fim ao capital, mas originou novas formas de exploração, e isso aconteceu num século em que não faltaram crises. Pelo contrário, elas foram tantas e tão intensas que provocaram duas guerras mundiais, várias revoluções, uma guerra fria, e vários tipos de conflito social, que emergiram de maneira explosiva.
O marxismo tradicional, ortodoxo ou oficial desenvolveu uma narrativa em que as crises seriam a oportunidade preferencial para uma ação da classe operária, organizada em partido político, para tomar o poder do Estado, expropriar o capital e abrir caminho para a transição a uma sociedade sem exploração do homem pelo homem, o comunismo. Em certos círculos a expectativa com a qual essa oportunidade é aguardada se assemelha à dos crentes de alguma fé religiosa à espera da salvação. Na verdade, essa narrativa como um todo chegou a tomar aspectos de uma espécie de religião, com textos sagrados, profetas e suas seitas duelando pelo direito de se proclamarem a sucessão legítima dos fundadores. Mas a despeito da virulência das disputas entre os marxistas pela condição de donos da interpretação mais legítima de Marx, a narrativa não se confirmou: a classe operária perdeu peso político (por mais que não tenha desaparecido quantitativamente e nem vá desaparecer), a tomada do poder do Estado (tanto pela social-democracia como pelo bolchevismo e seus derivados) não deu fim ao capital, mas originou novas formas de exploração, e isso aconteceu num século em que não faltaram crises. Pelo contrário, elas foram tantas e tão intensas que provocaram duas guerras mundiais, várias revoluções, uma guerra fria, e vários tipos de conflito social, que emergiram de maneira explosiva.
A concepção em que a emancipação humana em relação ao capital e a todas as formas de opressão a ele associadas depende de um acontecimento decisivo, uma grande “crise” a ser aproveitada pelos detentores da “ciência da história”, os dirigentes do “sujeito social revolucionário”; tão difundida no século XX e ainda hoje presente como uma espécie de roteiro do qual teimosamente não se consegue escapar, na verdade está baseada numa incompreensão fundamental do que seria a superação do capital. Essa concepção espera que algum tipo de processo automático, algum movimento da economia, alguma grande guerra, alguma mudança demográfica, ou qualquer outro grande evento; possa substituir o trabalho de reformulação da vida social desde as suas bases. O erro dessa concepção está em tratar o capital como um oponente, como algo em si, sendo que ele é na verdade um negativo, a expressão da ausência de controle da humanidade sobre sua vida. O capital não é nada mais do que o próprio trabalho humano, a atividade humana cotidiana tornada abstrata, indiferenciada e intercambiável, desconectada de objetivos humanos e multiplicando-se por si mesma. O capital não é algo que vem “de fora” e nos domina de cima, ele é gerado e perpetuado diariamente a partir de cada ato praticado como expressão de uma renúncia individual e coletiva ao controle sobre o próprio tempo e a própria vida. Não há como acabar com o capital sem acabar também com esta forma de trabalho, ou seja, sem reformular a atividade diária dos seres humanos, o que não pode ser feito sem a intervenção consciente destes mesmos seres humanos. Sem uma alternativa totalizante de reorganização da vida, o capital seguirá seu curso e irá se reconstituir, não importa a gravidade das crises que atravesse e a quantidade de desafios parciais que se lhe oponham; e o mundo irá se consumir numa lenta putrefação, que se arrasta por décadas.
Os marxismos não-tradicionais, heterodoxos ou heréticos, menos focados nessa expectativa da crise e na narrativa do “sujeito social revolucionário” e baseados em leituras menos doutrinárias da obra de Marx, souberam seguir alguns dos princípios metodológicos do autor do Capital para desenvolver análises próprias, às vezes também divergentes entre si, e navegar no novo período histórico com outras cartografias. Algumas apostas teóricas envolviam a renúncia ao próprio núcleo metodológico do entendimento da realidade como totalidade histórico-social, sendo justamente estas as que foram adotadas pelo autor. Trataremos dessas opções teóricas agora, para mencionar depois aquelas a que nos afiliamos, na seção seguinte.
 Como dizia Hegel, a verdade é o todo, o que também significa que o erro é tomar uma parte pelo todo. Os marxistas tradicionais reduziram unilateralmente a luta contra o capital a uma questão política, ou reduziram a política à questão da tomada do poder do Estado. A análise de que parte o autor, assumidamente inspirado em Deleuze e outros deste campo, peca por uma unilateralidade inversa à do marxismo de tipo oficial/bolchevique. Uma certa gama de autores, a partir das experiências da década de 1960, reduziram também unilateralmente a política aos embates em torno da vida cotidiana e da modificação da individualidade, negando qualquer centralidade ao Estado ou mesmo ao tema da exploração e do capital. Com base na noção de que “o pessoal é político”, passaram a agir como se a única política viável fosse a do “pessoal”.
Como dizia Hegel, a verdade é o todo, o que também significa que o erro é tomar uma parte pelo todo. Os marxistas tradicionais reduziram unilateralmente a luta contra o capital a uma questão política, ou reduziram a política à questão da tomada do poder do Estado. A análise de que parte o autor, assumidamente inspirado em Deleuze e outros deste campo, peca por uma unilateralidade inversa à do marxismo de tipo oficial/bolchevique. Uma certa gama de autores, a partir das experiências da década de 1960, reduziram também unilateralmente a política aos embates em torno da vida cotidiana e da modificação da individualidade, negando qualquer centralidade ao Estado ou mesmo ao tema da exploração e do capital. Com base na noção de que “o pessoal é político”, passaram a agir como se a única política viável fosse a do “pessoal”.
O modo como se aborda o enfrentamento ao capital não é uma questão de preferência ou de opinião. A unilateralidade, em qualquer direção que seja, não é um erro sem consequências, pois na verdade funciona como um tiro pela culatra. Em se tratando de um sistema totalizante, qualquer ataque parcial que lhe seja dirigido será fatalmente absorvido e transformado numa engrenagem do próprio sistema. O exemplo mais clássico desse processo de assimilação foi dado pelos próprios sindicatos e partidos operários, os quais, ao se limitar respectivamente a lutas econômicas e estatais/eleitorais, se converteram em mecanismos de controle que restringem as lutas dos trabalhadores a essas esferas específicas e impedem o desenvolvimento de lutas autônomas, que tenham maior potencial de radicalidade e subversão. As estratégias que se limitam a enfrentamentos parciais, qualquer que seja o movimento social que as adota, terminam por abrir caminho para a recuperação e converter também esses movimentos em instrumentos de pacificação e acomodação à disposição da gestão do sistema. A criação de um movimento que apresente uma oposição totalizante ao capital permanece sendo um desafio crucial em aberto para a humanidade.
Voltando ao percurso histórico do autor, houve um certo momento em que o afastamento em relação ao marxismo de tipo bolchevique/tradicional, rumo ao tipo de teoria que coloca a ênfase da ação militante em transformações na esfera do cotidiano e do “pessoal”, pareceu algo bastante libertário. Essa mudança de abordagem seduziu muitos desencantados com a falência do stalinismo, seus derivados e dissidências, que já era mais do que óbvia em meados do século XX. Evidentemente, como costuma acontecer nesses casos, não se trata apenas de desilusões pessoais e apostas teóricas equivocadas, mas da convergência de uma série de transformações sociais que modificaram significativamente a realidade e exigiam novas formulações teóricas. O crepúsculo do movimento operário da narrativa clássica coincidiu com a aurora de uma nova onda de movimentos sociais que colocavam em pauta a luta contra inúmeras formas de sofrimento perpetuadas pelo capitalismo.
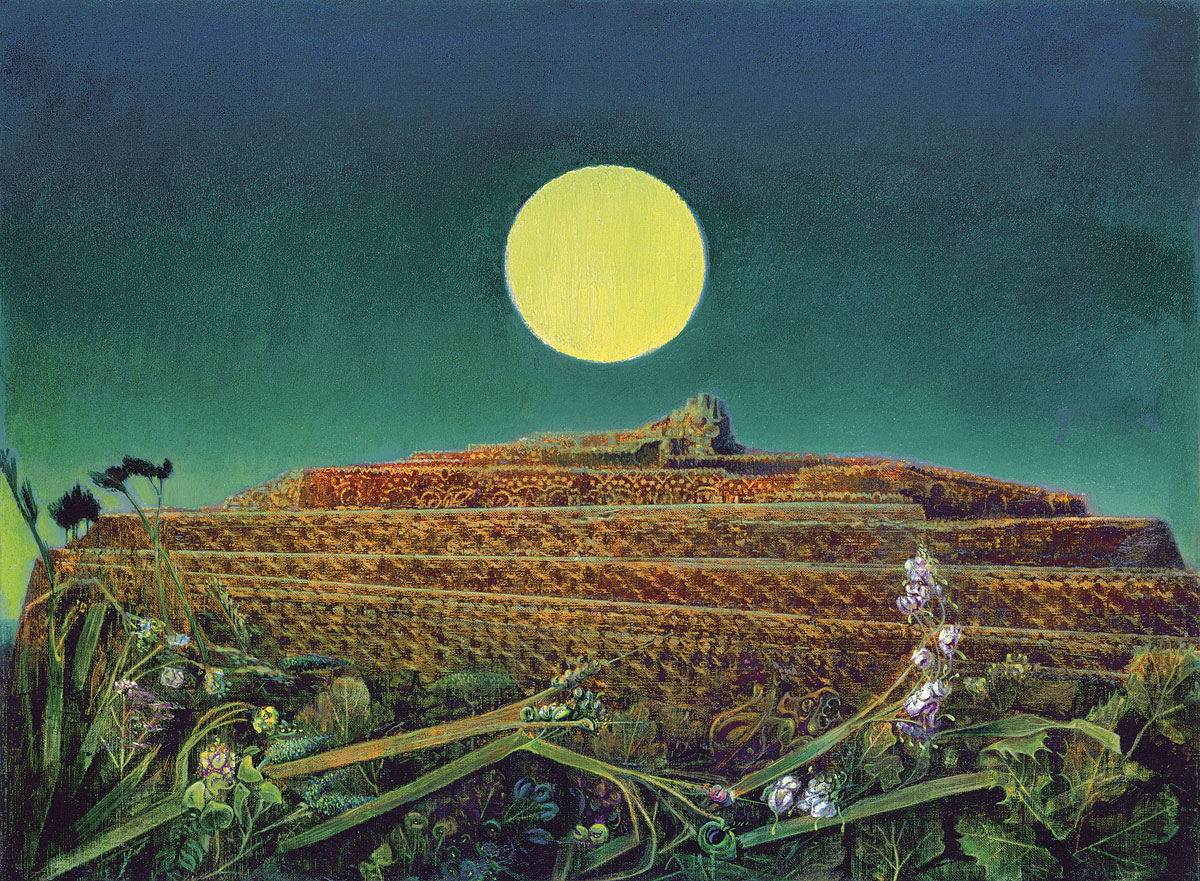 Na verdade, movimentos sociais de resistência dos mais diversos tipos e nos mais variados espaços sociais e geográficos sempre existiram antes, durante e depois da mundialização do capital e de seu antagonista/parceiro clássico, o movimento operário. Sempre houve resistência de povos colonizados e escravizados pelas sociedades capitalistas, de camponeses, de mulheres, de minorias, durante séculos. Mas uma vez ocorrida a mundialização, a resolução das questões trazidas por esses movimentos passa a depender inexoravelmente da superação do capital. Para ficar em apenas um exemplo, a dominação patriarcal antecede em milênios o surgimento do capitalismo, mas uma vez que esse sistema está estabelecido, a demanda por igualdade substantiva entre homens e mulheres não pode ser satisfeita sem que o capital seja destruído, já que a imposição dos papeis sociais de gênero e de certas funções para a família é um pilar fundamental da atual ordem social (basta lembrar, por exemplo, que o próprio nome do proletariado vem justamente de “prole”, ou seja, da capacidade de gerar filhos).
Na verdade, movimentos sociais de resistência dos mais diversos tipos e nos mais variados espaços sociais e geográficos sempre existiram antes, durante e depois da mundialização do capital e de seu antagonista/parceiro clássico, o movimento operário. Sempre houve resistência de povos colonizados e escravizados pelas sociedades capitalistas, de camponeses, de mulheres, de minorias, durante séculos. Mas uma vez ocorrida a mundialização, a resolução das questões trazidas por esses movimentos passa a depender inexoravelmente da superação do capital. Para ficar em apenas um exemplo, a dominação patriarcal antecede em milênios o surgimento do capitalismo, mas uma vez que esse sistema está estabelecido, a demanda por igualdade substantiva entre homens e mulheres não pode ser satisfeita sem que o capital seja destruído, já que a imposição dos papeis sociais de gênero e de certas funções para a família é um pilar fundamental da atual ordem social (basta lembrar, por exemplo, que o próprio nome do proletariado vem justamente de “prole”, ou seja, da capacidade de gerar filhos).
A exemplo da questão do patriarcado, várias outras, como as que foram trazidas pelo movimento negro, homossexual e ambientalista, para ficar apenas entre os mais citados, ao mesmo tempo em que exigem tratamento independente, estão também entrelaçadas com a exploração capitalista, de tal forma que não podem ser resolvidas apenas por si mesmas. A incapacidade das correntes revolucionárias desde então de articular essas demandas e ao mesmo tempo respeitar sua autonomia abriu caminho para que esses movimentos sociais fossem disputados por uma outra perspectiva política, que propunha exatamente a desarticulação e a fragmentação, o pós-estruturalismo e o pós-modernismo.
Nessa nova perspectiva, as lutas sociais deixaram de ser tratadas como propriamente sociais, como luta contra circunstâncias opressivas que são produto de determinações históricas e coletivas, que transcendem as vontades e consciências individuais; para serem tratadas como questões que dependem de um posicionamento pessoal, como se fossem problemas morais. Esse tratamento tem sido aplicado tanto sobre as lutas econômicas, salariais e por direitos (as únicas que o marxismo clássico reconheceu, dando-lhes o nome de “luta de classes”), como sobre as lutas trazidas ao primeiro plano pelos “novos” movimentos sociais.
 Previsivelmente, o que essa perspectiva produziu foi uma multiplicação aleatória de “devires” e “atravessamentos”, na qual não só a centralidade do capital e do Estado foi negada (o que não necessariamente é um problema, já que se pode, como foi apontado corretamente, “mudar o mundo sem tomar o poder”) [10], mas a própria ideia de uma centralidade, de um eixo em torno do qual se organiza a realidade. Passou-se a rejeitar qualquer tipo de concepção totalizante, que pudesse ser maliciosamente encaixada no rótulo de “grande narrativa”, como se todas fossem “metafísicas” ou “autoritárias”. Com isso, a luta de classes foi negada não apenas em sua forma estrita e simplista, bolchevique/tradicional (pela qual supostamente basta remover a burguesia do poder político para libertar a humanidade), mas como princípio organizador geral, em seu fundamento real, como luta contra o capital, o que faz com que se perca de vista a sujeição da humanidade ao capital enquanto um problema não apenas político e econômico, mas totalizante, ao mesmo tempo universal e pessoal.
Previsivelmente, o que essa perspectiva produziu foi uma multiplicação aleatória de “devires” e “atravessamentos”, na qual não só a centralidade do capital e do Estado foi negada (o que não necessariamente é um problema, já que se pode, como foi apontado corretamente, “mudar o mundo sem tomar o poder”) [10], mas a própria ideia de uma centralidade, de um eixo em torno do qual se organiza a realidade. Passou-se a rejeitar qualquer tipo de concepção totalizante, que pudesse ser maliciosamente encaixada no rótulo de “grande narrativa”, como se todas fossem “metafísicas” ou “autoritárias”. Com isso, a luta de classes foi negada não apenas em sua forma estrita e simplista, bolchevique/tradicional (pela qual supostamente basta remover a burguesia do poder político para libertar a humanidade), mas como princípio organizador geral, em seu fundamento real, como luta contra o capital, o que faz com que se perca de vista a sujeição da humanidade ao capital enquanto um problema não apenas político e econômico, mas totalizante, ao mesmo tempo universal e pessoal.
A via aberta por essa corrente, ao invés de proporcionar um enfrentamento mais abrangente ao capital, levou a um beco sem saída, que hoje conhecemos como identitarismo. Ao invés de enriquecer a perspectiva anticapitalista pela incorporação de uma multiplicidade de movimentos em luta contra uma infinidade de problemas sociais reais, o identitarismo colocou os sujeitos afetados por toda essa infinidade de problemas (perpetuados pelo capitalismo) numa disputa por mero reconhecimento no interior das margens de manobra autorizadas justamente pela gestão do próprio capital e do Estado. Ao invés da luta contra o capital, temos a luta de uma infinidade de “minorias” e “sujeitos” por mera representatividade nos espaços de gestão do capital e por correções na linguagem, em perfeita adequação à ideologia liberal de que há espaço para todos nesta sociedade. O liberalismo acomoda perfeitamente todas as contestações particularistas a esta forma de sociedade, alegando que basta aperfeiçoar seu funcionamento para que todos sejam devidamente contemplados, uma ideia falaciosa e materialmente inexequível.
Desaparece do horizonte a ideia de abolir o sistema do capital e todas as suas categorias fundamentais (trabalho alienado, mercadoria, valor, dinheiro, propriedade privada, direito, patriarcado, racismo, Estado), e ao invés disso temos a contraposição superficial entre duas formas de gestão desse mesmo sistema, uma amigável, “progressista” e outra de tipo reacionário, agressiva e competitiva. Quanto mais a realidade se mostra complexa e multifacetada, maior a tentação das falsas soluções simplistas. Isso explica tanto o apelo de massas do reacionarismo contemporâneo quanto a estridência do identitarismo na tentativa vã de fazer frente a ele, ambos como formas também simetricamente invertidas de unilateralidade que não questionam os pressupostos do capitalismo e se conformam ao seu realismo.
____________________
Notas
[8] Ver o livro “Realismo Capitalista”, de Mark Fisher.
[9] Ver o livro “A Doutrina do Choque”, de Naomi Klein.
[10] Ver o livro “Mudar o Mundo sem Tomar o Poder”, de John Holloway.
O artigo foi ilustrado com obras de Max Ernst
A publicação deste artigo foi dividida em 03 partes, com publicação semanal:
Parte 1
Parte 3







