Uma intervenção anticapitalista na arena das lutas contra as opressões não pode se constituir como uma variação qualquer de “calem a sua boca”. Por Rodrigo Oliveira Fonseca
Isso não é um turbante / A instabilidade referencial
Considerando a sua interpretação, toda palavra é cruzada, todo dizer é atravessado por outros dizeres e não há significação possível fora desse jogo social. É como se, em alguma medida, estivéssemos sempre participando da velha brincadeira infantil do telefone sem fio, na qual o que se ouve ao final quase nunca é aquilo que foi dito no início. Algumas vezes, simplesmente não se quer entender aquilo que o outro diz, e cada lacuna de seu dizer se transforma em uma barreira. Outras vezes, se quer tanto, mas tanto, que se entende outra coisa que já estava dita antes e independentemente do que foi dito. Não se trata de ignorar que um dos poderes fantásticos do sistema linguístico seja a produção de univocidade, que faz coincidir as coisas que são ditas – que são ditas aqui e que são ditas ali, ditas assim e ditas assado, para um público e para outro[1]. Se não fosse assim, poderíamos imaginar todo o tipo de problema (extra) que haveria nas aulas de matemática, nos cartórios, nos departamentos de recursos humanos, nos registros de ponto, nos boletins de polícia, nos tribunais,…
Sem alguma estabilidade simbólica e referencial, perderíamos a mágica da relação entre os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Por outro lado, seria possível registrar o casamento de alguém que declara ser solteiro mas não exatamente. Seria contratado, sem maiores problemas, um sujeito que tem e não tem a formação requerida para um determinado cargo de supervisão. O expediente na empresa poderia terminar pontualmente às 18h, mas só em certo sentido. No preenchimento da ficha de um suspeito de furto anotariam que o sexo dele, se é que se pode assim dizer, é masculino. E um Pinho Sol passaria a deter características de um aparato incendiário dadas as condições de seu manuseio.
Se nestes espaços administrativos-estatais a estabilidade simbólica não tem um décimo da envergadura e solidez que tem no campo da matemática, o que dizer das palavras e expressões que, mesmo que por “acidente”, aparecem no debate político? Elas simplesmente não têm – e não podem ter – um único sentido, pois o fato de se fazerem presentes na prática política já é um duplo sinal de que 1) elas estão sendo disputadas e – mais importante – 2) elas servem a disputas. Por isso, um turbante não é um turbante, ele pode ser uma manifestação, e uma vadia não é uma vadia, pode ser uma resposta multitudinária e internacional ao machismo. O mesmo serve para o nosso lutar como uma menina, que não é nem de perto parecido com o lutar como uma menina como referenciado do outro lado da trincheira, e, se pudermos ir um pouco mais longe, um programa político de esquerda não poderá jamais ser simplesmente um programa político de esquerda! – afinal, não devemos desconsiderar a hipótese de que o identitarismo seja, na atualidade, a cara e o teor predominante desse “programa político de esquerda”[2].
Por vezes, também, a estabilidade referencial de palavras, expressões e símbolos é criticada por razões questionáveis. É o que fez Alexander Bogdanov (1873-1928) ao dizer que, no capitalismo, a sirene da fábrica chamava os trabalhadores para a escravatura, mas no socialismo ela realizaria um chamado para o esforço comum organizado coletivamente. Um símbolo triste e opressivo teria se transformado no seu oposto. Cabe a pergunta: nesse caso, para os trabalhadores, uma sirene continuou sendo uma sirene? Seja a resposta “sim” ou “não”, não se poderá tranquilamente dizer que “uma sirene é só uma sirene” – a não ser, talvez, que você nunca tenha sofrido com os seus efeitos (ou mesmo, quem sabe?, gozado de seus poderes).
O fato é que ao não questionar essas identidades, tomando como evidente, unívoca e não problemática a significação de algo – em especial dos temas e objetos paradoxais que irrompem no campo da política e que politizam “outras arenas” a partir dos deslocamentos que sofrem em meio às lutas – estamos diante de um efeito ideológico, e um dos efeitos ideológicos mais elementares[3].
Com a língua nos dentes / A ideologia tem materialidade e efeitos
O artigo de Lindberg Souza Campos Filho (Um turbante, é um turbante, é um turbante: idealismo e materialismo cultural) tem muitos méritos. Por exemplo, a passagem em que ele aborda o mecanismo das compensações [apenas, acrescento] simbólicas. É esse mecanismo que explica outro ponto do texto, a ênfase equivocada na “construção de uma imagem positiva do negro ou do gay”. Não é o caso de dizer – como diz o autor – que isso não ataca o racismo ou a homofobia. No mínimo isso produz uma série infinita de curto-circuitos nos rituais dos preconceitos. O problema é que todo discurso apologético sobre “o negro”, “o gay”, “a mulher”, “o índio” etc., pende para uma essencialização e homogeneidade que maquia a realidade e obstrui as contradições que fazem de todos estes sujeitos coletivos seres históricos, reais. O mesmo vale para “o trabalhador”, figura coletiva essa com a qual não temos como não lidar na luta anticapitalista, mas cuja abordagem ideológica apologética e identitária sempre foi elemento chave do populismo e do fascismo.
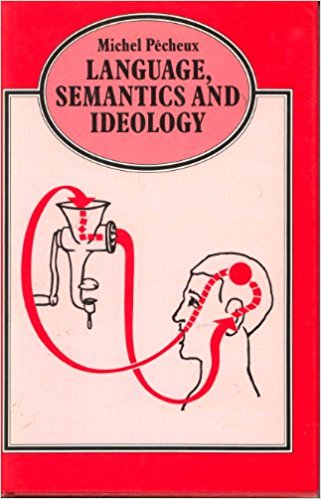 O problema do texto Um turbante, é um turbante… é que ele tropeça aqui e ali em um materialismo ingênuo, economicista, que desconhece ou recusa aquilo que Michel Pêcheux (1938-1983) – principal referência destas linhas – considerava a materialidade do simbólico e do ideológico em meio às “condições materiais dos fenômenos culturais”, como escreve Lindberg. Por tabela, desconsidera as condições superestruturais de reprodução da base econômica. Consequências? Podemos até tentar compreender como as relações econômicas “jogam as pessoas na miséria”, usando a expressão do autor, mas nunca compreenderemos como os trabalhadores aí permanecem e nem mesmo como eles podem ser considerados – novamente ao modo do autor – pessoas miseráveis e jogadas fora, ao invés de as tomar como classe trabalhadora, precariado, povo pobre, gente humilde ou mesmo pessoas menos privilegiadas.
O problema do texto Um turbante, é um turbante… é que ele tropeça aqui e ali em um materialismo ingênuo, economicista, que desconhece ou recusa aquilo que Michel Pêcheux (1938-1983) – principal referência destas linhas – considerava a materialidade do simbólico e do ideológico em meio às “condições materiais dos fenômenos culturais”, como escreve Lindberg. Por tabela, desconsidera as condições superestruturais de reprodução da base econômica. Consequências? Podemos até tentar compreender como as relações econômicas “jogam as pessoas na miséria”, usando a expressão do autor, mas nunca compreenderemos como os trabalhadores aí permanecem e nem mesmo como eles podem ser considerados – novamente ao modo do autor – pessoas miseráveis e jogadas fora, ao invés de as tomar como classe trabalhadora, precariado, povo pobre, gente humilde ou mesmo pessoas menos privilegiadas.
O fato de designar de um modo ou de outro corresponde a diferentes formações que não são necessariamente teóricas e programáticas, mas sem dúvida discursivas e ideológicas, pois categorizam de modo diverso o ser das classes trabalhadoras e produzem efeitos bem peculiares sobre as suas lutas, representando o modo como circunscrevemos adversários, aliados e horizontes[4].
Se em geral ficamos cegos para essas questões ideológicas, que o tempo todo fazem dar com a língua nos dentes[5], é por ignorar o quanto as ideologias – bem mais que representações desencarnadas ou puras abstrações e inversões do real – também são práticas sociais que colocam os sujeitos nos “seus devidos lugares”, tornando suportáveis e até desejáveis as relações sociais de produção às quais estão subordinados.
Não está em jogo aqui “simplesmente ignorar ou destruir a noção de realidade sócio-histórica”, como formula Lindberg, e sim a compreensão de que não chegamos a essa noção como se chega ao quadrado da hipotenusa. Superar as evidências ideológicas, que estabilizam o campo referencial das lutas políticas, passa também por admitir e suportar que toda e qualquer noção de realidade sócio-histórica é sempre atravessada pelo político, pelo equívoco e pelo inconsciente. Essa estabilização apaga esses atravessamentos para atenuar ou recuperar estas lutas em favor da dominação e expansão do capital.
Não se trata de um problema linguístico (a “pobreza das palavras”) nem de um problema de comunicação (a “incompetência dos falantes”) o fato de que existe ambiguidade e desentendimento quanto às formas de referenciar o mundo e fazer sentido com o que dizemos. O que temos aqui é um processo social bastante rico, que ao fim e ao cabo mostra como relações sociais desiguais, de subordinação e de exploração, se desdobram em relações de mundo e formas conflitantes de referenciar as coisas, pessoas e processos. Em grande parte as lutas ideológicas nascem e morrem em torno de problemas desta ordem, e isso não é pouca coisa.

Polêmicas intermináveis… / Aceitar dói menos?
Quase no final de seu texto, Lindberg tenta contemporizar um pouco ao dizer que defende “um materialismo que não rejeite a centralidade da linguagem e da cultura no mundo contemporâneo”, ao mesmo tempo que defende que não embarquemos em “polêmicas intermináveis sobre significações de imagens, textos, manifestações pessoais”.
Mesmo que tomemos a linguagem como consciência prática, forma de intercâmbio que extrapola toda consciência individual, sabemos desde Voloshinov (1895-1936) que ela é arena da luta de classes, e desde Pêcheux que seu funcionamento é equívoco e atravessado por processos inconscientes que tocam as relações sociais, o intercâmbio sócio-histórico, havendo de se considerar que as “polêmicas de significação” que se manifestam na linguagem e em outras práticas não acontecem por acaso.
Vastas parcelas dos trabalhadores em todo o mundo se constituem enquanto sujeitos políticos negros, mulheres, árabes, curdos, LGBTs etc., desnaturalizando a subalternidade de sua existência, reagindo aos “lugares” inferiores em que são diuturnamente postos por razões ideológicas e econômicas. Parte das “polêmicas de significação” fazem parte disso. Muitas vezes essa constituição subjetiva, pautada em uma resistência à opressão e exploração particular que se sofre[6], obscurece a identificação enquanto classe trabalhadora, pautada em relações sociais mais genéricas de exploração e nas lutas que são travadas para as enfrentar. O que fazer?
Se todas essas lutas não são consideradas lutas de classes é por estarem sob a direção de segmentos políticos que gostariam de evitar a luta de classes e se movem no terreno dos direitos e da realização da cidadania nos marcos do capitalismo. Walter Benn Michaels e Mário Maestri, analisando – respectivamente – a eleição de Obama nos EUA[7] e o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil[8], mostram que os movimentos negros liberais dão as costas para a maioria negra das classes trabalhadoras e para a desigualdade social que as atinge em cheio. Acríticos ao capitalismo em si mesmo, se orientam para que haja algum enegrecimento das classes dominantes, com melhores oportunidades de competição.
E os trabalhadores, como devemos encarar a diversidade dessas lutas e suas manifestações? Na superfície dos fenômenos ideológicos, em sua materialidade linguística (e simbólica, de modo a também podermos considerar certas peças de vestuário em meio a processos significantes), cabe dizer que uma intervenção anticapitalista na arena das lutas contra as opressões não pode se constituir como uma variação qualquer de “calem a sua boca”, que não faz mais do que espelhar a dominação sobre os sujeitos oprimidos[9]. Sob a crítica correta que Lindberg faz do abominável policiamento identitário não pode se instaurar um policiamento no sentido contrário – policiamento este que não é só devaneio de uma ou de outra organização de esquerda, mas que representa uma nova configuração disciplinar e de vigilância total do capitalismo.
O processo histórico de conformação das classes dominantes capitalistas em torno do Estado foi um processo de agenciamento de seus interesses comuns para além dos seus interesses particulares. E, juntamente a isso, há todo um investimento em uma divisão política permanente das classes dominadas, de modo a pôr obstáculos à unidade do proletariado. Estes obstáculos são diversos, chegando até a formas de interdição das possibilidades de (se) falar enquanto classe trabalhadora…

O problema político da representação e o pedagogismo
Um problema que atravessa toda essa discussão e o artigo Um turbante, é um turbante… é, certamente, o da representação. Se temos no horizonte a constituição das classes trabalhadoras como força social e política a partir dos seus enfrentamentos às classes capitalistas, cabe perguntar se (e em que medida, e por quais vias) os trabalhadores são representáveis. Não se trata de uma questão simples ou desimportante, e por isso mesmo o texto de Lindberg nesse quesito gagueja. Em um momento, toma a representação como um “ponto pacífico” – o autor fala de representatividade objetiva (em oposição a expressividade subjetiva). Em outro momento, a representação parece ser, de fato, algo impossível – o autor fala de ilusões quanto à representação das situações das pessoas negras através de simbolismos, e não através das situações reais das pessoas negras no Brasil elas mesmas… Tem-se a impressão de que, no fundo, perpassa uma espécie de ódio aos truques e falhas da representação, ecoando o que Gayatri Spivak[10] chama de “o velho recalque da representação na cultura ocidental, que desde o platonismo trabalha para que o poeta, o sofista, o ator e o orador sejam vistos como figuras nocivas”. A própria Gertrude Stein (1874-1946), famosa com o seu aforisma identitário “Uma rosa é uma rosa é uma rosa”, considerou ter sido, no campo da poesia, a responsável por tornar as rosas… vermelhas.
Tentemos, então, ir ao cerne do problema da representação. A fragmentação dos trabalhadores é real, sempre foi – com destaque para a fragmentação em nações/mercados nacionais de trabalho, mas também em divisões internas que nunca cessam de se instituir: trabalhadores do campo e da cidade; as divisões em corporações e, depois, categorias; os manuais e os intelectuais; os imigrantes e os locais; os precarizados e os estáveis; os de uma geração, os de outra e os de outra; as diferenças religiosas; mulheres e homens; “brancos” e não-“brancos”; as normatividades sexuais. Há diversos fatores que agenciam, que fazem a unidade da classe trabalhadora sobre o tecido dessas fragmentações reais, cabendo destacar aqui o partido classista e as próprias lutas da classe em suas contingências. Mas tanto as lutas quanto os partidos (enquanto fatores de luta dos trabalhadores) têm a sua duração, seus desencontros, se dispersam, são aniquilados, assimilados, incorporados, neutralizados, até – oxalá – um próximo ciclo de lutas.
A dominação e expansão do capital vêm há séculos proletarizando uma massa crescente da população mundial, atingindo hoje a maioria absoluta da humanidade. Isso, por si só, não produz um agenciamento político dos trabalhadores – ou, melhor dizendo, até produz, mas em favor das classes capitalistas, através de uma dominação que necessariamente também é ideológica[11]. É preciso reconhecer, com todas as suas implicações, o primado da luta de classes em relação à existência das próprias classes. Nesse sentido, é absurda qualquer queixa de “hipervalorização da esfera do simbólico” enquanto fator elementar de fragmentação dos trabalhadores. O problema passa, antes, por déficits na simbolização do racismo, do sexismo, da homofobia, da exploração e, fundamentalmente, da lutas de classes. Essa “esfera do simbólico” – que não é “esfera”, já que permeia todas as relações de produção com discursos de flexibilidade, autoempresariamento, eficiência e competitividade, dentre outros – é o que preenche as coordenadas políticas das classes com imagens e referências, que, no caso dos trabalhadores, pendem historicamente em suas lutas para o coletivismo e o igualitarismo. As ideologias não tamponam, invertem ou escondem as realidades, elas simplesmente as articulam em benefício de uma e de outra classe.
Lindberg produziu uma intervenção importante no combate a fraseologias identitárias que aceitam e reforçam a fragmentação (real) dos trabalhadores. O problema é que, ao utilizar das armas viciadas do economicismo, tende a tornar invisíveis muitos dos traços concretos das classes trabalhadoras, traços estes sem os quais jamais se passará da classe em si (classe para o capital) à classe para si (contra o capital). O que, no máximo, se consegue sem um processo de autoconstituição política das classes trabalhadoras (em meio às suas lutas contra a exploração), talvez seja a perspectiva pedagógica da “conscientização de classe” – que oculta a adoção do programa de um partido capaz de derrubar capitalistas do poder sem derrubar o capitalismo e a exploração.
Tomar a classe trabalhadora como um todo unificado, unívoco, inquestionável, como um turbante em sua materialidade física[12], é abrir o campo – uma vez mais na história do marxismo – a uma ortodoxia pronta para ser instrumento de ditaduras do proletariado sem proletariado. O pedagogismo marxista é sintomático de certo embaraço em relação à prática política, que, fundamentalmente, desviaria o foco no desenvolvimento das forças produtivas. Esse pedagogismo marcou, por exemplo, a interrupção das experiências das massas em favor da ciência do Partido, a institucionalização do realismo socialista e da legibilidade figurativa contra as vanguardas formalistas e concretistas na URSS, numa reação às “palavras parasitas”[13] empunhadas por artistas e intelectuais.
No entanto, o pedagogismo do momento é bem outro, e surpreendentemente arrebata vetores ideológicos antagônicos, do Escola Sem Partido às frações excludentes e identitaristas do feminismo e do movimento negro. Não se trata de uma reação a palavras que não trabalham e que desviam do foco posto no plano quinquenal, mas de uma bowdlerização[14] que se presta a censurar formas, termos e expressões que em tese seriam puramente ideológicos (e que trabalhariam para além do que deveriam trabalhar…), que seriam desagradáveis e ofensivos à “família” (como heteronormatividade) ou aos segmentos oprimidos (como humor negro). Trata-se de um pedagogismo lobista. Abordando o contexto universitário dos EUA e as pressões de diversos lobbies sobre os livros escolares, Jean-Jacques Courtine[15] diz o seguinte:
Para lutar contra o sexismo, apague toda marca morfológica e lexical do gênero: suprima todos os compostos em -man (é assim que manhood se torna adulthood, manpower: human energy, milkman: delivery person,…), mas retire igualmente todos os traços linguísticos do feminino (mothering: nurtruting, old wive’s tale: folk wisdom, cowgirl: cowhand,…). Prefira em qualquer circunstância o neutro e o genérico (Cro-Magnon man: Cro-Magnon people, The Founding Fathers: The Founders,…). Suspeite dos adjetivos substantivados, em particular quando eles se referem a um grupo étnico, uma certa idade, uma deficiência; encontre-lhes um equivalente definicional bem eufemístico (a dwarf: a person of short stature, Eskimo: Native Artic people, old folks: person who are older,…). § Tem-se o sentimento, ao consultar essa interminável lista de prescrições reminiscentes dos manuais de “boa correspondência” da virada do século (“Não escreva, mas escreva”…), de que o sistema se deixou levar até ao absurdo. Assim, convém evitar o “boneco” de neve (snowman) por suas conotações sexistas […]. Preste atenção ao mundo animal: queira não fazer nenhuma menção da existência dos dinossauros, pois os cristãos fundamentalistas que condenam a teoria da evolução poderiam se indispor e levá-lo à justiça. Faça desaparecer igualmente a coruja, pássaro tabu para os Índios (Desculpem!… Para os americanos de origem…) Navajos (ou melhor, “Diné”, já que “Navajo” foi há pouco proscrito por sua não autenticidade).[…]
Das brigas com os termos, expressões e símbolos, temos ainda as brigas com os falantes (e usuários de turbante), pois a alguns seria reservado o direito de dizer (e vestir)o que a outros não é, sob o risco do roubo do “lugar de fala” e do “protagonismo”.
O problema, como já ouvi do colega Luís Fernando Bulhões Figueiras, é que a ênfase nas lutas identitárias tem servido para silenciar as lutas anticapitalistas que as perpassam, mobilizando os signos do politicamente correto, socialmente responsável, sustentável, pacífico,…

Um programa de investigação: a reorganização ideológica do capitalismo
Precisamos muito compreender, de modo articulado à fragmentação das relações de produção e exploração dos trabalhadores, à recomposição técnica dos trabalhadores (cf Manolo em A ressaca de junho, ou: como não debater tática e estratégia (III)), o conjunto de processos ideológicos e discursivos que evidenciam determinadas identidades fragmentadas e obscurecem a fragmentação classista patrões x trabalhadores. Precisamos disso para poder responder a algumas das questões levantadas no artigo de Lindberg, como essa:
<Quais são os pontos de contato entre o desemprego, o trabalho precário, o desmonte da tímida seguridade social, o monopólio dos meios de produção cultural, a privatização do acesso a esportes, educação e lazer e a financeirização da economia e as situações e representações dos negros, das mulheres e LGBT na sociedade?
Notas:
[1] Tais convergências não duram para sempre, claro, já que de tempos em tempos as palavras racham, se diluem, precisam da ajuda de outras ou são abandonadas. Tomemos a palavra progressista, por exemplo.
[2] Essa é mais ou menos a posição de João Bernardo, manifestada em Desembaralhando as cartas à mesa.
[3] Essa relação central entre efeitos de evidência e ideologia foi proposta, inicialmente, por Louis Althusser, em 1970 (no artigo Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado), ao discutir os processos de assujeitamento: “Como todas as evidências, incluindo as que fazem com que uma palavra “designe uma coisa” ou “possua uma significação” (portanto, incluindo as evidências da “transparência” da linguagem), essa “evidência” de que você e eu somos sujeitos – e que isso não levante qualquer problema – é um efeito ideológico, o efeito ideológico elementar. Com efeito, o caráter próprio da ideologia é impor (sem que se dê por isso, uma vez que se trata de ‘evidências’) as evidências como evidências, que não podemos deixar de reconhecer e diante das quais temos a inevitável e natural reação de exclamar (em voz alta, ou no ‘silêncio da consciência’): é evidente! é isso mesmo! é mesmo verdade!”.
[4] Como escreveu Michel Pêcheux, “os ‘objetos’ ideológicos e a ‘maneira de se servir deles’ são sempre fornecidos ao mesmo tempo – seus ‘sentidos’, isto é, sua orientação, ou seja, os interesses de classe à qual eles servem” – texto Ousar pensar e ousar se revoltar. Ideologia, marxismo, luta de classes, p. 04.
[5] Pêcheux atribui a Lenin uma formulação que aponta para a outra mão desse mesmo processo: “A língua sempre vai onde o dente dói”.
[6] É fundamental não restringir estas lutas – com destaque para as antirracistas e feministas – ao campo da resistência à opressão de identidades sociais subalternizadas. Dentro das ocupações das classes trabalhadoras há uma série de funções que tendem a ser realizadas por imigrantes, não-brancos e mulheres, em empregos de menor remuneração e prestígio. Como entende o feminismo materialista e imbricacionista, existe ainda o “trabalho considerado como feminino”, que envolve a reprodução social antroponômica, toda a gama de atividades voltadas ao cuidado com as crianças, os idosos, os enfermos, os lares e locais de trabalho, que se materializam em algumas profissões como babás, diaristas e prostitutas. Sobre esse tema, ver o artigo O capitalismo financeiro não liberta as mulheres: análises feministas materialistas e imbricacionistas de Jules Falquet.
[7] “Aparentemente, os liberais americanos se sentem bem melhor com um mundo em que os 20% que ganham melhor estão ficando mais ricos à custa de todos os outros, contanto que esses 20% superiores tenham um número proporcional de mulheres e negros. Nesse aspecto, é impressionante a capacidade da campanha de Obama de fazer com que nos sintamos bem em relação a nós mesmos, ao mesmo tempo em que deixa a nossa riqueza intacta”. Contra a diversidade.
[8] Para além desse horizonte ideológico de extensão da cidadania, o historiador Mário Maestri, em entrevista concedida ao Correio da Cidadania, aponta elementos regressivos da luta antirracista em políticas como a do Estatuto da Igualdade Racial, que teria tido na África do Sul uma espécie de laboratório de implementação.
[9] Falando de espelhamentos, pode-se notar semelhanças entre alguns argumentos de Lindberg e os da youtuber angolana Ruth Catala (feita heroína do MBL), que diz que “as simbologias geram segregação”. (Agradeço à Juliana da Silveira pela referência).
[10] Em Pode o Subalterno falar?, 2010 [1985], p. 35.
[11] “[…] a dominação do capital criou para esta massa uma situação comum, interesses comuns. Assim, pois, esta massa já é uma classe no que diz respeito ao capital, mas ainda não é uma classe para si” (Marx, n’A Miséria da Filosofia).
[12] E mesmo esse não é apenas um!
[13] “Maiakovski não necessita de palavras parasitas. Ele toma cada palavra e a faz trabalhar. Já pôs em ação essa mesma organização científica do trabalho sobre a qual nós nos contentamos em palavrear”. Para Pêcheux, essa defesa que o poeta futurista Nicolai Gorlov fez do colega, teria sido pior que todos os ataques sofridos por Maiakovski…
[14] Referência a Thomas Bowdler (1754-1825), médico inglês que produziu em 1807, em parceria com a sua irmã Henrietta Maria Bowdler, uma coleção de livros infantis com textos adaptados de Shakespeare, a “Family Shakespeare”. Suas adaptações primavam pela retirada de termos e situações das histórias que poderiam ofender e desvirtuar “a família britânica”.
[15] A proibição das palavras: a reescritura dos manuais escolares nos Estados Unidos.
As imagens que ilustram o artigo são de Fernand Léger. A exceção é a capa do livro “Language, semantics and ideology” de Michel Pêcheux.








Acho super legal essa quebra de padrões e criação de uma estética positiva, a luta por representatividade, contudo não gosto da forma como parte do movimento negro aborda a questão. PAREM DE CRIAR VILÕES. Uma mulher careca, com câncer, usando um turbante NÃO É INIMIGA DO MOVIMENTO NEGRO. Uma mulher branca fantasiada de Carmem Miranda NÃO ESTÁ PROVOCANDO O MOVIMENTO NEGRO. Uma cozinheira branca, que usa turbante no lugar de uma touca, NÃO O FAZ PARA REBAIXAR O NEGRO. Uma mulher branca que usa turbante como acessório NÃO PODE SER TAXADA DE RACISTA POR ISSO.
Acho louvável trazer esse debate sobre o papel das representações simbólicas para o materialismo. A consciência humana se constitui, cotidianamente, muito mais através dos símbolos linguísticos do que através da observação das relações sociais concretas. Por isso, frequentemente os grupos oprimidos tratam seus próprios problemas como inexistentes, pois no dia a dia (mídia, escola, vocabulário etc.) estes problemas não são representados por se tratarem de tabus.
Em minha opinião, a crítica deve se voltar ao questionamento de porque a estética social valoriza o turbante na cabeça de uma pessoa branca em detrimento de uma pessoa negra. Quem promove esta estética? A serviço de quê ela é promovida? Todavia, o debate sobre “apropriação cultural” frequentemente toma o rumo do sectarismo, como reflexo direto do individualismo burguês no qual estamos atolados.
Parabéns pela reflexão com bastante fundamentação. Com certeza esse texto me ajudou a formular certas ideias que já trazia comigo em relação aos essencialismos identitários.