A troca de uma série de mensagens sobre economia, esquerda e luta de classes entre três amigos. Por Passa Palavra
Ao organizar as mensagens para a publicação o Passa Palavra optou pela inserção de sites externos para alguns conceitos e figuras históricas, também se alterou a ordem das mensagens para facilitar a compreensão do leitor.
1.
Caros,
Este artigo do Economist tem o mérito, entre outros, de recordar certas linhas de tendência fundamentais: https://www.economist.com/blogs/buttonwood/2017/01/economics-and-finance
Agora vejam:
O crescimento económico hoje faz-se mediante a redução relativa do sector industrial e o correspondente aumento do sector de serviços moderno, ou seja, baseado na electrónica e nos computadores. Isto não só sucede no velho triângulo composto pelos Estados Unidos, a Europa e o Japão mas têm igualmente caracterizado a evolução económica recente na China. Nesta situação, o declínio do sector industrial não leva apenas ao óbvio declínio da percentagem de força de trabalho laborando nesse sector industrial. Leva igualmente a uma reestruturação do emprego nesse sector industrial, em que a pressão para a baixa dos custos de produção se exerce mediante o desenvolvimento da mais-valia relativa, o que neste caso significa a introdução de cada vez mais processos electrónicos nas cadeias de fabrico. Em consequência, dentro de uma baixa da percentagem da força de trabalho global exercendo a actividade no sector industrial, aumenta a percentagem dos mais qualificados e detentores de aptidões modernas, e diminui a percentagem dos menos qualificados e detentores de qualificações arcaicas.
Ora, é certo que não se pode confundir imigrantes com trabalhadores mal qualificados. O Reino Unido, por exemplo, tem beneficiado de uma imigração de trabalhadores qualificados, que o Brexit irá pôr em causa. Mas não é menos certo que as vagas recentes de migrantes e refugiados trouxeram à Europa sobretudo trabalhadores pouco qualificados e com qualificações arcaicas. E nos Estados Unidos a imigração mexicana é composta por este tipo de força de trabalho pouco qualificada. Em conclusão, o aumento da procura de emprego por parte de uma massa de imigrantes pouco qualificados faz-se sentir sobre uma redução da oferta total de empregos industriais destinados a este tipo de força de trabalho. Assim, aumenta a concorrência no mercado de trabalho entre os trabalhadores estrangeiros e os trabalhadores nacionais pouco qualificados. Este tem sido o terreno social a alimentar o surto da extrema-direita nacionalista e dos neofascistas, e a explicar que estas correntes políticas prosperem sobretudo no velho meio operário.
Perante esta situação, a extrema-esquerda encontra-se especialmente mal preparada, já que ela considera como base social da revolução a força de trabalho mais mal paga e menos qualificada. Por isso a extrema-esquerda sente hoje o terreno a fugir-lhe dos pés e, para sobreviver, escancarou as portas aos identitarismos.
No caso dos Estados Unidos a situação é mais grave ainda. Até agora, e desde a presidência de Woodrow Wilson ou pelo menos desde a de Franklin Delano Roosevelt, os sucessivos governos têm sido hegemonizados pela tecnocracia. É a isto que Trump chamou «o lodaçal de Washington» ou uma expressão equivalente. Ora, se virem a composição da administração Trump, verificarão que ele nomeou para postos chaves da economia burgueses e não gestores. Nesta perspectiva, a figura mais notável é Carl Icahn, que se notabilizou por procurar adquirir uma posição influente nas empresas para aumentar a parte dos lucros que cabe aos accionistas. Icahn tem sido um cruzado dos interesses da burguesia contra os interesses dos gestores. O mesmo se pode afirmar das outras figuras a quem foram entregues as secretarias de regulamentação das empresas e a da agricultura.
Parece-me ser este o terreno económico em que ocorrem as movimentações políticas que muitas vezes nos deixam perplexos.
Abraços do
João Bernardo

2.
Caros,
Sobre o texto do Economist deixo um comentário minúsculo: a indústria tem passado por transformações semelhantes às que a agricultura passou há um par de séculos; e os desenvolvimentistas de hoje são os fisiocratas de ontem.
Abraços,
Dokonal
3.
Caro,
A sua observação parece-me demasiado resumida, não entendo. Os fisiocratas eram livre-cambistas, Smith veio na sequência directa dos fisiocratas, enquanto os desenvolvimentistas me parecem mais herdeiros tardios do mercantilismo. Você pode explicar melhor?
Abraço do
João Bernardo
4.
Caro, Sobre os fisiocratas eu estava pensando no Tableau économique do Quesnay, nos excedentes agrícolas como motor da economia, na agricultura como criadora de riqueza. E a analogia com os desenvolvimentistas era referente ao apego de alguns destes com a indústria como motor do desenvolvimento. Uma comparação de motores; de teorias do valor, digamos.
Abraço,
Dokonal
5.
Caro,
Hhmmm… Mas esses desenvolvimentistas do sector industrial, que continuam a existir no Brasil e demais países latino-americanos, ainda não entenderam que agora o motor económico reside na electrónica e na computarização? Uma coisa urgente seria abolir essa divisão entre os três sectores, completamente ultrapassada. Por um lado, as commodities fazem com que entre a agricultura e a indústria não existam fronteiras definidas. A este respeito, note-se que os ecológicos pretendem traçar essa fronteira onde ela já não existe, evocando a natureza como organismo e balelas quejandas. Por outro lado, uma boa parte do que hoje continua a incluir-se nos serviços não é mais do que uma indústria de imponderáveis, uma produção de bens que não caem com a força da gravidade. Voltando à vaca fria, como se diz em Portugal, toda esta reorganização dos sectores produtivos corresponde a uma reorganização da classe trabalhadora, e é esta reorganização que muitas pessoas têm dificuldade em entender.
Abraço do
João Bernardo
Caros, E acrescento o seguinte. Os desenvolvimentistas estilo brasileiro estão atrasados meio século, porque correspondem à época das multinacionais, em que era possível num país retardatário copiar, em moldes mais toscos, o complexo fabril existente num país avançado. Ou seja, cada filial de uma multinacional reproduzia mais ou menos o padrão da sede. Mas estamos agora na época das transnacionais, em que uma única cadeia de produção localiza em vários países as sucessivas fases do processo. Ou seja, cada filial de uma transnacional é fundamentalmente distinta da sede, bem como é distinta das outras filiais. Na época das transnacionais a noção de comércio entre nações fica ultrapassada pelo facto de uma boa parte do comércio considerado externo ser interno às companhias transnacionais, resultante do facto de as cadeias de produção localizadas terem as suas fases sucessivas localizadas em diferentes países. As teses desenvolvimentistas associadas ao nacionalismo económico encontram-se hoje desprovidas de qualquer base real. Esta é a certidão de óbito da esquerda tradicional.
Abraços do
João Bernardo
 6.
6.
Caros,
Vocês sabem o que se lê nos cursos de desenvolvimento econômico no Brasil? Quando iniciei o mestrado em Porto Alegre, que é a sucursal da Unicamp no sul do Brasil, lia-se Chutando a escada, do economista coreano Ha-Joon Chang (https://books.google.com.br/books/about/Chutando_a_escada.html?hl=pt-BR&id=smxW2ShQ4y0C). A Unicamp, se vocês não sabem, é a ortodoxia da heterodoxia do pensamento econômico brasileiro; ela se pretende escola de pensamento e costuma dar a linha do que é e não é heterodoxia no campo do pensamento econômico. E heterodoxia em economia, sei lá por que diabos, está associada à esquerda. Alguns amigos meus recentemente também leram esse coreano nos seus cursos de mestrado. Nesse livro ele se inspira num economista alemão esquecido, Friedrich List (que vai provocar calafrios no João) para defender um desenvolvimentismo pautado no nacionalismo econômico.
Sempre me incomodou o fato dos economistas de esquerda no Brasil usarem o modelo coreano como exemplo de sucesso de desenvolvimento – e continuam a usar, mesmo com as oito deusas. Por que não usam os países nórdicos como modelo? Mas há uma inclinação autoritária na esquerda brasileira que parece não ter fim.
Abraços,
Dokonal
7.
Caros,
Há uma inclinação autoritária em todas as esquerdas, é a ditadura do proletariado sem proletariado, mas olhe, Dokonal, que o List não é tão esquecido assim. De qualquer modo, desenvolvimentista por desenvolvimentista, vamos mais longe com o Manoilescu, o melhor pensador do corporativismo fascista, e o Joseph Love tem um excelente livro em que analisa, entre outros aspectos, as vias por que o pensamento de Manoilescu se repercutiu no Brasil. E em Portugal também, que o diga eu, que ouvia falar de Manoilescu desde pequenino, já que o meu pai era um seu discípulo ferrenho e esse mesmo era o factor da sua discordância com o tipo de corporativismo aplicado por Salazar. Mas, voltando ao que eu dizia, Manoilescu – CEPAL – esquerda desenvolvimentista, a via é mais do que conhecida e só não a vê quem não a quer ver. Tratei dessa relação na segunda versão do meu livro sobre o fascismo e nalguns artigos no Passa Palavra, e sabem o que me disse um comentador? Que isso era tudo mentira porque o Love é um historiador americano.
Abraços do
João Bernardo

8.
Caro,
Retornando a mensagem original, enquanto a extrema-esquerda abraça o identitarismo, uma parcela da tecnocracia vai testar a renda mínima: http://www.businessinsider.com/free-money-universal-basic-income-guy-standing-economist-neofascism-populism-brexit-2017-1
Abraço,
Dokonal
9.
Caro,
Eu tenho numa das prateleiras um livro organizado por Guy Standing em 1991, sobre o mercado de trabalho na União Soviética, com dois capítulos dele, que me foi muito útil. Aliás, cito o Standing em um ou dois livros meus, não me recordo agora quais. Na época ele era economista na Organização Internacional do Trabalho e pareceu-me um dos bons estrategas do capitalismo. Mas duvido de que o precariado seja uma das bases do neofascismo. Vejo-o mais a sustentar um populismo esquerdista do tipo do Podemos em Espanha ou do Bloco de Esquerda em Portugal. Já em Itália é possível que a situação seja outra e que o precariado constitua um das bases de apoio do Cinco Estrelas. O certo é que não me parece que a actual juventude, a nova geração da classe trabalhadora, da época da computerização geral da vida, esteja interessada na noção de estabilidade de emprego que caracterizou o sindicalismo da época fordista. Outra coisa, e que é aqui o mais importante, é avaliar as consequências económicas e sociais de uma distribuição de rendimentos de tipo não keynesiano, dissociada da remuneração salarial. Aliás, o primeiro autor que eu vi a defender essa ideia foi o Bukowski, o que talvez ajude a situá-la ideologicamente. Outro aspecto ideológico importante é que, segundo essa entrevista, o rendimento mínimo garantido constituiria para Standing uma forma de liquidar os rentistas, o que corresponde a um dos mais antigos desejos dos gestores. Standing insurge-se contra o capitalismo rentista e não contra o capitalismo financeiro, o que é um aspecto a destacar. Mas, no plano estritamente económico, de certo modo o rendimento mínimo garantido é uma ideia lógica, porque introduz um patamar de segurança a longo termo num mercado de trabalho caracterizado pela terceirização, pela flexibilidade e pelas mudanças bruscas, ou seja, com empregos precários. A analogia que me ocorre é a da rede por baixo do equilibrista. Isto permitira manter o precariado económico, mas sem os inconvenientes do precariado social. É isto mesmo que Standing afirma ao declarar que «it would enhance individual liberty. It would give people a sense of control over their lives and would provide them with freedom» [isso aumentaria a liberdade individual. Daria as pessoas a sensação de controle sobre as próprias vidas e proporcionaria liberdade].
Um abraço do
João Bernardo

10.
Caros,
Pensando sobre a atual estruturação dos trabalhadores me parece que há uma dupla questão, os setores mais qualificados inseridos nas grandes cidades pouco se enxergam como tal, ao mesmo tempo também não se enxerga o precariado. A esquerda por sua vez se divide em duas, a que busca com todas as forças o operariado fabril e a que acha que ele foi substituído pelos setores mais pauperizados. Recordei com isso de uma conversa que tive com meu primo escocês, ele falou que na Grã-Bretanha não acha que a divisão central esteja entre direita e esquerda, mas entre os cosmopolitas e os provincianos (acho que ele usou outro termo), que isso é particularmente dificil para os labours porque a base tradicional dele caminhou muito mais no sentido provinciano. A isso também associei o comentário que o JB fez em outro e-mail que copio aqui:
“minha única esperança neste momento, e é mesmo a única, é que um certo bom senso acabe por prevalecer e afunde todos esses identitarismos. Por enquanto a hegemonia dessa ideologia restringe-se ao meio universitário, mas está cada vez mais a penetrar capilarmente na sociedade em geral através dos partidos de esquerda, como o Bloco em Portugal, o Podemos em Espanha e por aí adiante. Olhe o que sucedeu já nos Estados Unidos. O problema é que se, ou quando, o identitarismo e o multiculturalismo se afundarem, a esquerda se afundará com eles, ou seja, o nome «esquerda». Talvez isso seja bom. Já mudámos tantas vezes de nome, em dois séculos de existência, talvez com outro nome se consiga rejuvenescer a coisa.”
A questão para mim é que não sei o quanto nos é possível abrir mão disso que costumamos chamar de esquerda.
Abraços
LL
11.
Caro,
Na minha perspectiva, as classes sociais têm uma existência permanente apenas no âmbito económico, definido como âmbito das relações sociais de produção e não como âmbito das transacções no mercado. Só os conflitos sociais permitem que as classes sociais adquiram existência específica, enquanto classes, no âmbito sociológico, entendido como âmbito de comportamentos e de ideologias. Esta minha perspectiva é inteiramente distinta da perspectiva leninista, para a qual o partido comunista constitui, por ele mesmo, a consciência da classe trabalhadora. Se a distinção entre estas duas perspectivas não for entendida claramente, tudo o resto fica confuso.
Actualmente a classe trabalhadora têm existência apenas no âmbito económico das relações sociais de produção. No âmbito sociológico, isto é, de comportamentos e de ideologias, a classe trabalhadora encontra-se dispersa e fragmentada por diferentes quadros, nomeadamente pela divisão em classes baixas e classes médias, que corresponde ao âmbito das transacções no mercado dos bens de consumo; pela divisão em nacionalidades; pela divisão em identidades; e por um número ilimitado de outras divisões.
As classes capitalistas, porém, têm actualmente existência, além do âmbito das relações sociais de produção, no âmbito sociológico. Precisamente as mesmas condições actuais da luta social que, por um lado, fragmentam ou dissolvem a identidade sociológica da classe trabalhadora, por outro lado reforçam e consolidam a identidade sociológica das classes capitalistas. Dois exemplos. Contrariamente aos esquerdistas que afirmam que já não existem classes sociais, The Economist não tem a mínima dúvida de que elas existem. O segundo exemplo é o que se passa actualmente nos Estados Unidos com a transição entre a antiga administração e a administração eleita. Essa transição não adquiriria características tão violentas e caóticas se à mudança de orientações políticas não se sobrepusesse uma mudança de eixo de classe, em que a um governo assente nos gestores sucede outro governo assente na burguesia. Notem como até os estilos mudaram, passando-se da objectividade tecnocrática que tem caracterizado as administrações norte-americanas desde Wilson ou de Franklin Delano Roosevelt para o velho paternalismo do patrão burguês, expresso pelos twitters em que Trump intima algumas grandes empresas.
Em sentido oposto, quando as lutas sociais levam a uma tomada de consciência do conjunto da classe trabalhadora como classe específica, ou seja, quando a existência da classe trabalhadora se afirma não só no âmbito das relações sociais de produção mas igualmente no âmbito sociológico, então a existência sociológica das classes capitalistas começa a dissolver-se. Este processo foi bastante claro em Portugal em 1974-1975. Nesse período a burguesia fragmentou-se, escondendo-se uns e fugindo os outros para o Brasil, em suma, dissolvendo a sua unidade de classe. E a tecnocracia repartiu-se e fragmentou-se, dissolvendo em boa medida a sua consciência ideológica. Em França, ou pelo menos em Paris e nalgumas outras cidades, passou-se um pouco o mesmo em Maio-Junho de 1968, embora de maneira mais fugaz e, portanto, mais ténue.
No âmbito das nossas possibilidades individuais não cabe a inversão destes processos. O mais que podemos fazer é, por um lado, tentarmos clarificar as ideias e não baralhar as coisas e, por outro lado, não prosseguirmos práticas nocivas. Tudo o resto decorrerá exclusivamente de movimentações sociais em âmbitos muito amplos. Ora, a classe trabalhadora está hoje a ser sujeita a um colossal processo de reorganização, em que ao toyotismo de ontem se soma a precarização de hoje, tudo atravessado, de um e outro lado do Mediterrâneo, por vagas migratórias, que mais ainda contribuem para dificultar uma tomada de consciência comum imediata. Perante isto, o que fazer? Retomo uma passagem da mensagem do Legume, acerca da divisão em cosmopolitas e provincianos. A primeiro-ministro britânica, Theresa May, declarou há pouco tempo que «os cidadãos do mundo são cidadãos de parte nenhuma». Também Zhdanov considerava o cosmopolitismo como um dos grandes inimigos do comunismo soviético. Les bons esprits se rencontrent, et il semble que les mauvais aussi. [Os bons espíritos se reeencontram, e parece que os maus também] Perante isto, cabe-nos acima de tudo ser cosmopolitas, mais ainda do que internacionalistas. O internacionalismo era da época das multinacionais, mas na época das transnacionais é urgente o cosmopolitismo. E cosmopolitismo, no caso que nos interessa, significa estar acima de todas as identidades e assumir uma identidade universal única, que é a da classe trabalhadora. Pálido reflexo, tentando opor-se ao verdadeiro e bem real cosmopolitismo assumido hoje pelos gestores.
Abraços do
João Bernardo
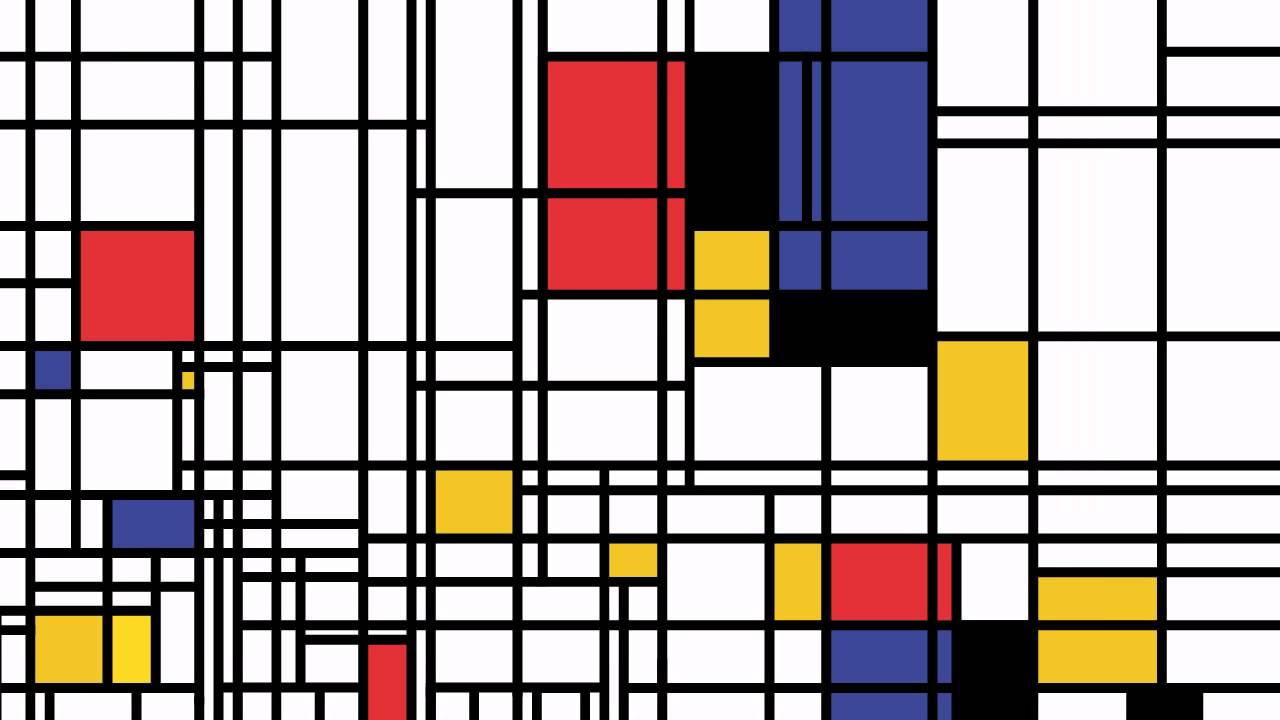
Todas as imagens que ilustram a publição são obras de Piet Mondrian.


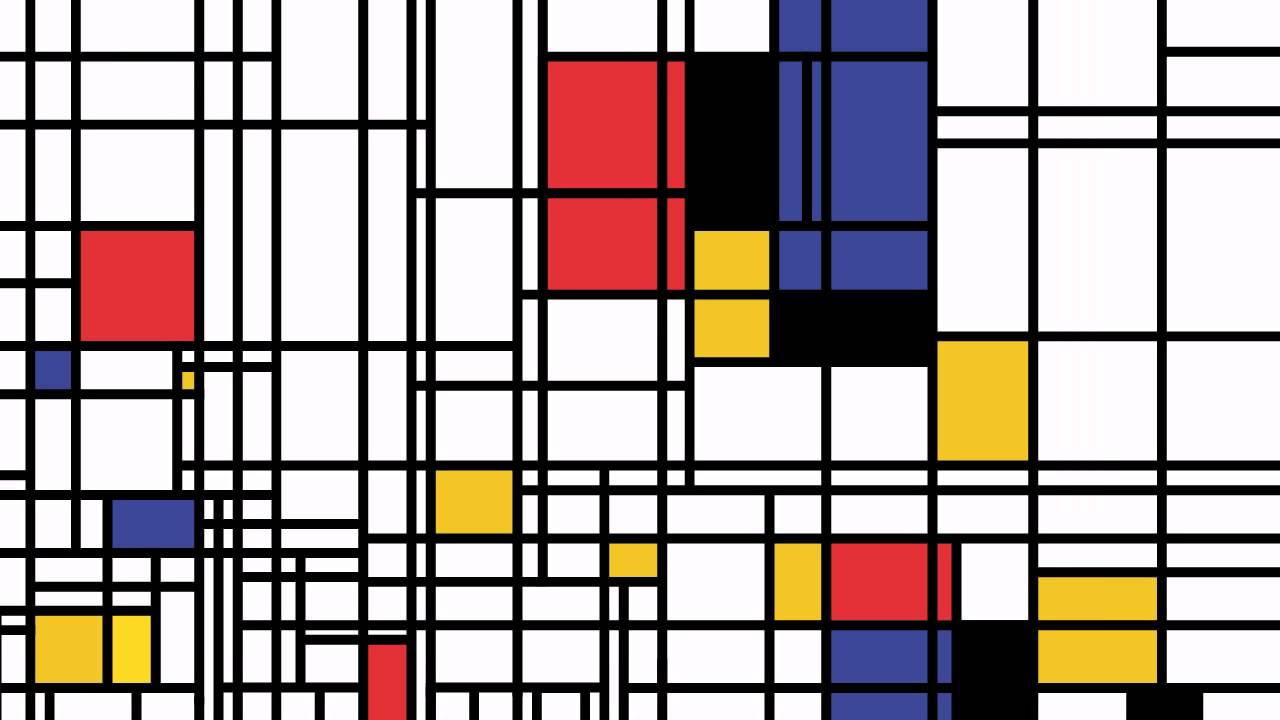





Gostei do debate entre os colegas, o que me interessou aí é acerca da base social da revolução, como o João Bernardo assinalou que para a esquerda tradicional é os trabalhadores mal pagos e menos qualificados, junte-se a isso a sua alma gêmea no movimento “popular”( os pobres e periféricos )esta já destituída de qualquer corte de classe. Faz tempo que li o livro Sindicalismo de Estado do agora militante da Consulta Popular, Armando Boito Jr, e lá ele colocava os trabalhadores menos qualificados como a base desse sindicalismo e daí demonstrava a debilidade da luta que estes empreendiam, bem como da consciência dos dirigentes sindicais, os sindicalistas tutelando e sendo “representantes” dos trabalhadores, “lutando” em seu lugar, no livro ele aponta como os sindicatos não conseguiam construir relações e organização junto aos operários mais qualificados e mais produtivos, inclusive o caso de algumas oposições sindicais combativas que ao chegarem a direção sindical viam seu objetivo enfim consumado se transformar em um pesadelo frente a burocracia do aparelho, perdendo bases também nestes locais de trabalho com operários de alta qualificação, os novos dirigentes sindicais caem no desânimo e sentem falta da fase heróica de oposição sindical.
Aí em cima só quis pontuar o elemento da estrutura sindical como um ponto a mais pra discussão, o curioso que no Brasil as correntes se diferenciam mais por quem faz a “melhor luta” ,ou seja, quem é o melhor comerciante da força de trabalho( e não nego a repercussão disso nas bases)
Mas queria perguntar pros colegas pra além das confusões, embaralhamentos conceituais na esquerda: indentitarismos/povo/classe, produtivos/improdutivos, mais valia relativa/absoluta, como avaliam a questão da transnacionalização das cadeias produtivas que possibilidades trazem para organização operária em nível global, ao mesmo tempo queria q alguém comentasse sobre a alta rotatividade dos operários na indústria, que impede uma maior socialização ou criação de identidade entre os trabalhadores já q logo são demitidos. Bem é isso oportunidades de união e criação de identidade na classe e os seus obstáculos.
Gostei do debate dos comentarios. Em relaçao ao debate sobre a “desindustrializaçao”, acho valido nao enxergar esse processo como uma simples realocação da força de trabalho e ampliação da mais valia relativa, mas enxergar como JB disse essa divisão entre setores uma abstraçao da realidade economica, já que essa ampliaçao do setor de serviços sao parte duma cadeia que ainda é ligada a industria, seja pelo transporte, pelo telemarketing,etc. Ou seja, essa ampliaçao no “terceiro setor” faz parte do processo de ampliaçao do escoamento de bens.
Prezado João Bernado,
Creio que não há dúvidas quanto à afirmação de que “O crescimento económico hoje faz-se mediante a redução relativa do sector industrial e o correspondente aumento do sector de serviços moderno, ou seja, baseado na electrónica e nos computadores”, bem como, “Se alguma coisa deve impressionar ao longo de mais de dois séculos de capitalismo não é o desemprego, mas exactamente o contrário, a capacidade deste modo de produção para absorver força de trabalho” (Transnacionalização do Capital e Fragmentação dos Trabalhadores – disponível em https://comunism0.wordpress.com/transnacionalizacao-do-capital-e-fragmentacao-dostrabalhadores/) .
Minhas dúvidas residem justamente numa afirmação do mesmo trabalho: “Por um lado, aquilo que se denomina desenvolvimento do capitalismo consiste, sob o ponto de vista da força de trabalho, exclusivamente na conjugação de dois processos, o aumento da intensidade do trabalho e o aumento da sua qualificação”. Até que ponto é possível a conjugação destes processos? Qual o limite, não só da conjugação destes processos, mas dos próprios processos? Não teria a capacidade de reabsorção da massa de trabalhadores chegado ao limite no capitalismo?
Se, como diz a Wikipédia: o “Modo de produção em economia, é a forma de organização socioeconômica associada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Reúne as características do trabalho preconizado, seja ele artesanal, manufaturado ou industrial. São constituídos pelo objeto sobre o qual se trabalha e por todos os meios de trabalho necessários à produção (instrumentos ou ferramentas, máquinas, oficinas, fábricas, etc.)”, não estaríamos nós nos aproximando de um desenvolvimento tal em que as relações atuais de produção podem estar sendo superadas justamente por este desenvolvimento das forças produtivas?
E, sem querer apelar para as emoções ou sentimentos (e ao mesmo tempo envolvido por um temor – talvez fabricado, induzido, como já se fizera em outros tempos… – haja visto o que os fatos presentes “aparentam”…), enquanto trabalhador, sinto que a revolução da classe trabalhadora que preconizada por Marx que iria por fim à burguesia foi apropriada pela classe antagônica, ela sim revolucionária, ditadora…
Outra dúvida: “Ora, se virem a composição da administração Trump, verificarão que ele nomeou para postos chaves da economia burgueses e não gestores” poderia significar esta afirmação que a luta de classes se polarizou entre gestores e burgueses? E da qual o Brasil, ao menos em parte, também poderia estar vivenciando? João Dória poderia ser um exemplo?
Enfim, podendo estar enganado, a impressão que tenho é as forças produtivas estão chegando a um ponto onde ela conseguirá se produzir e reproduzir quase que sem a intervenção do trabalho humano, estando a classe que hoje chamamos burguesa (amanhã, quando um novo modo de produção superar o atual e se firmar como dominante, poderá ter outro nome) se aproximando cada vez mais de sua”emancipação”…
O UBER, assim como várias outras tecnologias, não está produzindo só a precarização do trabalho humano, que é seu fundamento, está investindo e financiando as tecnologias que substituirão o próprio trabalho humano e, o que me parece mais trágico, com os recursos produzidos pelos próprios trabalhadores preconizados…
Vou tentar responder aos três comentários acima, e para isso convém talvez começar pela distinção entre multinacionais e transnacionais. Enquanto nas multinacionais as filiais reproduziam aproximadamente o padrão da sede, embora na maior parte dos casos sem os aspectos mais sofisticados, nas transnacionais as cadeias produtivas são dispersas geograficamente, de maneira que as sucessivas fases de uma mesma cadeia produtiva estão localizada em vários países. Assim, uma mesma companhia transnacional pode aproveitar melhor factores como as diferentes qualificações da força de trabalho, os diferentes níveis salariais medidos em dólares (não confundir com os salários avaliados consoante o poder de compra), as diferentes infra-estruturas e a proximidade das matérias-primas ou fontes de energia necessárias a cada fase de uma dada cadeia de produção. Perante esta realidade, como conjugar numa luta comum os trabalhadores das sucessivas fases de uma mesma cadeia de produção? Não houve até agora uma resposta a esta pergunta, e ela é fundamental.
O problema é ainda mais grave porque se reproduz até nas empresas localizadas num só país ou numa só região, já que a electrónica permite dispersar os trabalhadores ao mesmo tempo que mantém ou reforça a centralização da organização do trabalho. Isto significa que os capitalistas se aproveitam das economias de escala suscitadas pela cooperação da força de trabalho sem precisarem de correr o risco de concentrar a força de trabalho nas mesmas instalações. É este o quadro geral da chamada terceirização e esta situação nova ditou a falência da forma clássica de sindicalismo. Esta falência não seria dramática, e poderia até ser óptima, se tivessem surgido formas de luta capazes de unificar os trabalhadores dispersos. Mas não surgiram. As acampadas e os movimentos sustentados apenas pelas redes sociais mostraram a sua fragilidade, sem que tivessem aparecido formas mais sólidas ou duradouras.
Igualmente grave é o facto de, neste quadro de fragmentação e dispersão da força de trabalho, a esquerda ou extrema-esquerda —- aquilo que continua a usar estes nomes —- despedaçarem mais ainda a classe trabalhadora mediante o apelo às presumidas «identidades».
Ora, esta dispersão da classe trabalhadora sustenta, do lado capitalista, uma grande centralização da organização dos processos de trabalho. Isto ocorre não só na transnacionalização das cadeias de produção e na terceirização, mas ainda na generalidade da vida económica, devido à diluição das fronteiras entre os velhos três ramos (agricultura, indústria, serviços). A chamada agro-indústria e a transformação dos produtos agrícolas em commodities fizeram com que a fronteira entre agricultura e indústria perdesse o significado. A difusão da electrónica na maquinaria e a conjugação de computadores e máquinas diluíram a fronteira entre indústria e serviços, que mais ainda ficou posta em causa pelos sistemas 3D e pela fabricação aditiva digital. É nesta situação que o movimento ecológico exerce mais um dos seus inúmeros efeitos negativos, fomentando uma visão mística da natureza, que no fundo é uma nova versão do vitalismo, precisamente quando o trabalho na terra perde a sua especificidade.
Qual o limite destes processos? Parece-me que é um atestado de falência da esquerda anticapitalista atribuir aos capitalistas a função de levarem o capitalismo à sua crise final. Essa é a função dos trabalhadores e de mais ninguém. A função dos capitalistas é a de converterem em mais-valia tudo o que lhes apareça à frente do nariz. Neste processo a noção de «trabalho» e de «trabalhador» tem sido reconvertida e reorganizada, assumindo novos aspectos concretos. As classes sociais têm um elemento de continuidade, na medida em que ocupam as mesmas posições relativamente ao processo de extorsão da mais-valia. Mas essas posições vão adoptando novos perfis e novas formas. Os trabalhadores que Dickens descreveu não são os mesmos trabalhadores que surgem nos livros de John Dos Passos e estes não são os mesmos que aparecem nas páginas de Bukowski. Estamos a viver uma época em que as formas concretas do trabalho mais uma vez estão a mudar. Significará isto o fim do trabalho e a extinção da classe trabalhadora? Gostava de saber como é que se pretende que a classe trabalhadora está a deixar de existir e ao mesmo tempo vemos os capitalistas acumularem lucros. Se os lucros não vierem no bico da cegonha terão de vir da classe trabalhadora. O problema que agora nos é colocado é o de contribuirmos para que os trabalhadores que existem hoje façam as suas lutas convergir e possam assim tomar progressivamente consciência do facto de pertencerem a uma classe social comum. Para este problema não existem soluções já feitas.
Caro João Bernardo: instigando um bom debate, como sempre. Leio-o ainda, como vê; um longo trilho de lucidez. Um abraço.
Mais algumas dúvidas que compartilho com os autores dos textos (e comentadores).
Quais frações da burguesia estadunidense estão a lograr benefícios devido à política econômica de Trump? Ou, talvez seja perguntar o mesmo, quais os capitalistas que dão suporte ao novo presidente? Seriam aqueles menos competitivos e, portanto, retardatários no processo de integração das cadeias produtivas a que faz menção João Bernardo?
Vi uma caracterização de Trump (em outros textos) como fomentador de um certo Capitalismo de Estado… Seria correta essa caracterização? O Capitalismo de Estado não estaria associada a governos de gestores?
Abraço.
Em 2010 publiquei no Passa Palavra uma série de artigos sobre a crise económica que se agudizara nos anos anteriores (o primeiro artigo pode ser lido aqui http://passapalavra.info/2010/08/28011 e os seguintes têm o link indicado). Nessa série de artigos um dos eixos da análise consistiu na tese de que se tratava de uma crise no, e não do, capitalismo, ou seja, que o centro dinâmico do capitalismo se tinha deslocado em detrimento dos Estados Unidos e em benefício da China. Tudo o que sucedeu na China desde 2010 confirma a validade daquela minha análise, nomeadamente a modernização e o desenvolvimento das condições gerais de produção, o papel assumido pelo mercado interno no crescimento da economia e a qualificação crescente da força de trabalho. Foi devido aos mecanismos da mais-valia relativa que a China se converteu na segunda economia mundial e é este o desafio que o capitalismo norte-americano enfrenta.
A eleição de Barack Obama em 2008 mostrou que os norte-americanos tinham consciência da gravidade da situação, ao escolherem o mais atípico dos presidentes, um negro nascido em terras distantes e durante vários anos educado no estrangeiro. Não serviu de nada, a não ser para demonstrar a profundidade do declínio do país. Durante oito anos de mandato a administração Obama foi incapaz de renovar as infra-estruturas materiais e de melhorar o sistema educacional, o que comprometeu o crescimento da produtividade e impediu a economia norte-americana de defrontar eficazmente a economia chinesa. No plano externo os Estados Unidos assistiram durante esses oito anos ao descalabro da sua posição política e militar: o Irão obteve a hegemonia sobre o governo de Bagdad; a China afirmou o seu poderio naval; a Rússia conseguiu uma importância crescente nos jogos diplomáticos mundiais; o governo de Kiev continuou entregue aos oligarcas; a Turquia, que é a segunda força militar da Nato e é essencial para a solidez desta aliança, virou as costas; cessou o controlo diplomático sobre as Filipinas; a intervenção militar na Síria fracassou. Nesta situação ocorreu a campanha presidencial de 2016, e a eleição de Donald Trump foi, embora com sinal inverso, tão atípica como havia sido a do presidente anterior, já que Trump não só era alheio às instituições políticas tradicionais como conseguiu a nomeação por um partido cujas opiniões não reflecte.
Com menos de uma semana de exercício, é impossível saber o que a administração Trump vai fazer. Mas sabe-se o que promete fazer e já são conhecidas algumas medidas. Num mundo como o actual, assente em relações multilaterais, Trump pretende regressar às relações bilaterais. E em vez de um sistema capitalista em que as vantagens recíprocas permitem o desenvolvimento conjugado -– embora desigual -– das várias economias, Trump pretende instaurar um arremedo de mercantilismo, um jogo de soma zero em que um dos parceiros só ganha se o outro perder.
Ora, a transnacionalização da economia, fragmentando por vários países uma mesma cadeia de produção, implica que o produto vá para lá e para cá ao longo das sucessivas fases de fabrico. Nestas circunstâncias, grande parte do que continua a denominar-se comércio entre nações consiste na transferência de bens no interior das mesmas companhias, entre as sedes e as filiais. Para quem pretenda ter uma noção da dimensão quantitativa deste fenómeno, remeto para o § 4 do meu artigo «A Geopolítica das Companhias Transnacionais» (http://passapalavra.info/2011/05/39343 ). Que consequências pode ter, neste contexto, a aplicação de medidas proteccionistas, como as anunciadas por Trump? Limito-me aqui a um exemplo. Segundo The Economist de 14 de Janeiro de 2017 ( https://www.economist.com/news/leaders/21714342-americas-new-president-could-be-disaster-its-southern-neighbour-how-mexico-should-handle ), «os automóveis feitos no México estão cheios de partes manufacturadas na América; cerca de 40% do valor das exportações mexicanas é constituído por inputs comprados aos Estados Unidos». O mesmo, embora em percentagens diferentes, se passa nas relações entre os Estados Unidos e outros países, nomeadamente a China.
A administração Trump, porém, não pretende limitar-se a aumentar as taxas aduaneiras e a construir muros na fronteira meridional. Pretende igualmente reverter a exportação de capitais mediante o seguinte conjunto de medidas: a baixa dos impostos sobre as empresas, acompanhada pelo perdão fiscal, faria com que as companhias transnacionais repatriassem para os Estados Unidos muitos dos lucros que até agora têm investido no estrangeiro; a construção e a modernização das infra-estruturas abririam a esses lucros repatriados novas possibilidades de investimento; e essas possibilidades de investimento tornar-se-iam maiores ainda pela paralisação ou pelo desmantelamento de departamentos governamentais encarregados da protecção do ambiente e da fiscalização da poluição. Esta seria a face interna do programa nacionalista, que tem uma face externa. Aquele repatriamento de capitais, a verificar-se, deixaria os outros países numa situação de carência de investimentos e de desinvestimento nos projectos em curso; e levaria a uma apreciação do dólar, com o consequente agravamento do serviço da dívida para os países cuja dívida esteja estipulada em dólares.
Mas sucede que no mundo actual o proteccionismo é sempre contraproducente. As grandes transformações históricas do capitalismo têm obedecido a um eixo, o aumento da produtividade, que é a condição da mais-valia relativa. A transnacionalização, tal como existe hoje, é a condição para o aumento da produtividade, graças ao aproveitamento das melhores localizações materiais, sociais e financeiras. Colocar obstáculos a esse aproveitamento só pode ter como consequência o declínio da produtividade, de imediato nas companhias transnacionais que forem atingidas e, a partir daí, nas empresas que usarem como inputs os bens ou serviços produzidos por aquelas companhias. O que significa que, em vez de aumentar o emprego e as remunerações, o proteccionismo os piora a ambos.
Por isso os trabalhadores pouco qualificados de ramos industriais em declínio que votaram em Trump -– e foi esta a origem da troca de mensagens aqui publicada -– estão na verdade a prejudicar-se a si mesmos. Tal como estão a prejudicar-se aqueles trabalhadores do mesmo tipo que na Inglaterra votaram pelo Brexit. Ou aqueles que em vários países europeus anseiam pelo abandono do euro. Ou aqueles que etc.
Quanto aos capitalistas, decerto há muitas empresas pequenas e médias activas em ramos arcaicos, aquelas em que domina a burguesia e o patronato tradicional, a imaginarem que podem substituir os seus produtos aos produtos chineses, tornados subitamente mais caros devido à subida das taxas alfandegárias. Isto é possível a curto prazo, mas em breve essas empresas verificarão que os inputs de que precisam se tornaram também mais caros, pois provinham da China ou de outros países atingidos pelas medidas proteccionistas da administração Trump. Se esta minha análise estiver certa, a administração Trump não só não conseguirá reverter o declínio económico dos Estados Unidos como ainda o irá agravar. O que significa que esse declínio se tornou já irreversível.
Não encontro nenhum traço de capitalismo de Estado neste programa, que enfrenta a oposição quase unânime dos gestores. Muito pelo contrário, o programa de Trump parece-me assentar na convergência entre uma burguesia de pequeno e médio porte, interessada apenas na produção para o mercado interno norte-americano, e uma fracção da classe trabalhadora menos qualificada e incapaz de operar nos sectores mais modernos. O certo é que se rasgou assim nos Estados Unidos uma clivagem política profunda, que ultrapassa até aquela que se verificou quando Franklin Delano Roosevelt sucedeu a Hoover em 1933.
João,
Queria retomar seu comentário feito dia 23/01. Quanto a dispersão dos trabalhadores em unidades variadas e trabalhos variados, o que implicou em dificuldades colossais para atuação em locais de trabalho e na falência das estruturas sindicais como força mobilizadora. Acho que ocorreu um deslocamento para lutas que incidem nas Condições Gerais de Produção, essas lutas tenderiam a ter menos tendências corporativas, pois suas demandas práticas incidiriam sobre a classe trabalhadora e não em uma categoria específica. Ao olhar para São Paulo me parece claro que começaram aqui e se espalharam pelo Brasil lutas nesse sentido em 2013 a por transporte e em 2015/16 a luta dos secundaristas. A segunda está sendo discutida em outro artigo aqui no Passa Palavra, mas a primeira me parece que a derrota se deu não na pauta, mas pela autodestruição da organização que pretendeu organizar ela, ao mesmo tempo, quando essa mobilização estourou a demanda que as pessoas faziam em relação ao MPL era que se comportasse como um partido e indicasse o verdadeiro caminho, a resposta a isso foi se voltar para dentro. Me parece ali que é uma forma diferente de burocratização da clássica, mas tem em comum que começa pela base.
Lucas,
Além do Brasil existe o resto do mundo. E se o capitalismo é hoje não só uma realidade global mas, na sua vertente mais dinâmica, uma realidade transnacional, temos de olhar para as lutas sociais nesse vasto quadro. Ora, não vejo sinais claros que indiquem quais as áreas do sistema económico mais propícias à unificação das lutas, por isso não vejo sinais claros que indiquem os caminhos que poderão levar todos os tipos de trabalhadores a terem consciência de que pertencem à mesma classe. Actualmente, para os capitalistas, os aspectos estratégicos da gestão processam-se mediante os computadores e a internet, mas os trabalhadores terão ainda de aprender a usar eficazmente a internet e os computadores na sua estratégia de luta.
No § 15 do meu manifesto «Sobre a Esquerda e as Esquerdas» (http://passapalavra.info/2014/05/93837 ) escrevi: «Existem formas de organização que são, sempre e em todas as circunstâncias, nocivas para a acção anticapitalista. Mas não existem formas de organização que sejam, sempre e em todas as circunstâncias, benéficas. A este respeito, a garantia funciona só no sentido negativo». Isto aplica-se igualmente às lutas ditas autónomas. É por este motivo que a autocrítica da esquerda é tão indispensável como a crítica do capitalismo. Quando houver uma forma organizacional que seja sempre favorável à acção anticapitalista, o capitalismo será destruído num ápice. Mas até lá…
João,
Concordo com você. Acho que as organizações autônomas deixaram bem claro seus limites e não vejo grandes movimentações unificando a classe globalmente.
A minha hipótese, a partir de momentos de unificação que existiram limitadamente por aqui, é que essas lutas se deram a partir das CGP e não dos locais de trabalho especificamente. Entretanto, organizativamente o que se chama de autonomismo apresentou de maneira clara seus limites e de fato não me parece que seja dali que sairá uma forma organizacional proprícia para ação anticapitalista que se necessita.
João Bernardo, o link do The Economist me levou a outro artigo da mesma revista, em realidade dois (http://www.economist.com/news/leaders/21715660-global-firms-are-surprisingly-vulnerable-attack-multinational-company-trouble e http://www.economist.com/news/briefing/21715653-biggest-business-idea-past-three-decades-deep-trouble-retreat-global), onde fala-se de uma recente queda, nos últimos 5 anos, do desemprenho das empresas transnacionais, especialmente no rendimento (return on equity) destas a níveis abaixo do considerados mínimos para os bons negócios.
Não ficou para mim de todo claro o motivo, mas creio haver entendido que entre eles seriam a queda na taxa de lucros, na relação investimento/lucro, além de um desempenho cada vez mais forte de empresas com raízes locais/nacionais em ramos importantes — o artigo dá o exemplo do e-comércio chinês e indiano, dos bancos brasileiros, entre outros. Outro argumento seria que as pequenas e médias empresas com foco nacional/regional estariam se tornando cada vez mais capazes de absorver a inovação criada nos grandes polos de P&D, enquanto que as transnacionais estariam perdendo as vantagens da economia de escala. (A única exceção, importante, seriam das gigantes da tecnologia — Google e afins).
Fiquei com a impressão de que é uma leitura do curto prazo recente que tenta explicar os fenômenos políticos presentes. Já que está rolando esse pingue-pong com você e os demais comentadores, fiquei interessado em saber se você acha possível que as pequenas e médias empresas possam passar a ter uma maior produtividade que as transnacionais, ou mesmo que a tendência seja uma maior fragmentação destas, no sentido de realizar um aumento de produtividade por outros métodos que os que estiveram determinando a integração global nos últimos 30 anos, de aquisições e fusões.
Lucas a duras penas,
Os artigos «The Multinational Company Is in Trouble» e «The Retreat of the Global Company» deixaram-me igualmente perplexo. Eu interpreto-os como mais uma peça na campanha do Economist contra a administração Trump, sugerindo um novo argumento, o de que não vale a pena ela perder tempo a atacar uma instituição que se encontra já em declínio.
De qualquer modo, a argumentação do Economist parece-me frágil, sobretudo pelos motivos seguintes:
1) Afirmar que «as multinacionais são responsáveis por apenas 2% do trabalho mundial» (no segundo dos artigos citados, o mesmo valor no primeiro artigo) enquanto ao mesmo tempo «elas são proprietárias ou organizam as cadeias de oferta responsáveis por mais de 50% do comércio mundial, atingem 40% do valor do mercado de acções ocidental e detêm a maior parte da propriedade intelectual mundial» (no segundo artigo e parcialmente no primeiro) corresponde a reconhecer a altíssima produtividade da força de trabalho daquele tipo de empresas. Ora, no capitalismo é este o critério básico para avaliar o dinamismo de uma instituição. E esta produtividade tem vindo a aumentar, se dividirmos o valor das exportações pelo número de trabalhadores. «Em 2000, cada milhar de milhão de dólares do stock de investimento externo mundial representava 7000 postos de trabalho e 600 milhões de dólares de exportações anuais», lemos em «The Retreat…». «Hoje, um milhar de milhão de dólares é responsável por 3000 postos de trabalho e 300 milhões de dólares de exportações».
2) Os dois artigos não distinguem claramente entre as velhas multinacionais e as novas transnacionais, e «The Retreat…» define-as apenas pelo facto de «procederem a mais de 30% das vendas fora da sua região de origem». Por isso este artigo pode começar por evocar o McDonald’s e a Kentucky Fried Chicken, que são típicas multinacionais, obedecendo ao velho formato, e cuja situação não deve confundir-se com a das modernas companhias transnacionais. Ora, devo aqui recordar que durante muito tempo The Economist recusou-se a admitir a existência de multinacionais, argumentando que se tratava apenas de empresas locais ligadas num mesmo quadro internacional de propriedade jurídica. Depois, a transnacionalização, com a deslocalização das várias fases das cadeias de produção, levou The Economist a mudar de posição, mas ainda hoje, excepto quando isso é indispensável nos artigos especializados, a revista não distingue claramente entre multinacionais e transnacionais, denominando-as colectivamente «multinacionais». É o que sucede nesses dois artigos. Há lugar para admitir, portanto, que aqueles números agregados reflictam, na realidade, um declínio das multinacionais e uma ascensão das transnacionais.
3) Nas cifras globais os dois artigos não distinguem entre os ramos de produção arcaicos, ligados sobretudo à velha indústria, e os novos ramos de produção desenvolvidos com a electrónica e a internet. Em «The Retreat…», porém, lemos que «as firmas americanas sofreram menos, com uma queda de 12% [nos lucros das filiais estrangeiras nos últimos cinco anos, relativamente a uma queda de 20% nas companhias não americanas], em parte devido à sua propensão pelo sector tecnológico de crescimento mais rápido». E este artigo afirma que «o único aspecto positivo são os gigantes tecnológicos», esclarecendo que «os seus lucros no estrangeiro correspondem a 46% dos lucros estrangeiros totais das 50 maiores multinacionais americanas, quando eram só 17% há uma década atrás». Pode admitir-se, portanto, que se trata de uma ascensão dos novos ramos tecnológicos e de um declínio dos ramos arcaicos. Aliás, parece-me ser esta a lição do quarto gráfico de «The Retreat…».
4) Numa parte considerável, as pequenas e médias empresas locais que têm florescido ultimamente estão em situação de subcontratantes relativamente às filiais locais das multinacionais e das transnacionais. Ora, as redes de subcontratantes nas são referidas em nenhum dos dois artigos.
5) A propósito da última secção do artigo «The Retreat…», pergunto quantas das empresas que surgem neste momento em âmbitos nacionais se tornarão em breve empresas transnacionais? Lembro-me de que há trinta anos era corrente o argumento de que a electrónica havia alterado os mecanismos que levavam à concentração do capital e que em qualquer fundo de garagem era possível fundar micro-empresas tão dinâmicas e concorrenciais que o processo de concentração ficaria travado. E realmente a observação empírica imediata parecia apoiar essa nova visão. Porém, a realidade evoluiu em sentido contrário e a Microsoft, a Apple, o Google, o Facebook mostraram que a electrónica acelera a concentração do capital em vez de a travar ou de a retardar. Agora, «The Retreat…» pretende que «os fluxos de informação livres implicam que os concorrentes conseguem recuperar o atraso na tecnologia e no know-how [conhecimentos práticos] mais facilmente do que antes». Mas não será esta uma repetição da situação anterior?
Esses dois artigos do Economist parecem-me reflectir demasiado o curto prazo e perderem a acuidade numa perspectiva a longo prazo, como se pode observar no primeiro gráfico de «The Retreat…». Mas como a história é feita de acontecimentos que não se prevêem, vejamos o que os próximos anos nos trazem e mantenhamos num canto da cabeça estas análises de The Economist. As ideias feitas são a pior das armadilhas que criamos para nós mesmos. A eleição de Trump marcou uma ruptura tão colossal nas tradições políticas norte-americanas que neste ano e nos próximos é possível admitir uma influência directa da política sobre a economia. Com que efeitos?
Para já, «The Retreat…» insiste numa lição que me parece fundamental no contexto presente e que a esquerda propensa ao nacionalismo nunca devia esquecer, a de que «tentar favorecer as companhias nacionais mediante a promulgação de tarifas aduaneiras já não tem o mesmo efeito que teve noutros tempos. Mais de metade das exportações totais, em termos de valor, atravessa uma fronteira pelo menos duas vezes antes de chegar ao consumidor final, por isso tais tarifas prejudicam todos igualmente». Chamei a atenção para este fenómeno no meu comentário de 26 de Janeiro, quando mencionei o § 4 do meu artigo «A Geopolítica das Companhias Transnacionais» (http://passapalavra.info/2011/05/39343 ).
Como também li e me espantei com os artigos da Economist, deixo também meus pitacos:
a) As cadeias de fast food não são o melhor exemplo de multinacionais, pois operam por meio de franquias. Sequer o investimento direto nos moldes clássicos — construir do zero filiais nos moldes da matriz ou comprar empresas pré-existentes — sequer isto fazem. Isto quando não são alvo de contrafação: só a KFC hoje, no Brasil, concorre com o Frango Americano no Balde, com o Frango Frito Americano e similares. Para estes casos, o argumento da Economist cai como uma luva. Já no caso do ramo da informática, eles erraram feio.
b) Num campo estritamente jurídico The Economist tem razão ao dizer que “não existem transnacionais”, mas não é este campo que define as coisas no funcionamento da economia; pelo contrário, via de regra o jurídico está a reboque dos CEOs e das agitações operárias. Nos artigos de João Bernardo sobre a crise econômica de 2008-2010 está bem apontada a contradição: a produção e a logística se estendem unificadamente em escala global, mas a personalidade jurídica fragmenta-se por vários ordenamentos jurídicos nacionais, a depender de as legislações serem mais ou menos benéficas a tal ou qual ramo ou tipo de produção no âmbito da cadeia logística ou produtiva total. Esta contradição entre uma economia globalizada e um campo regulatório nacionalizado é um problema para as transnacionais, mas não é nada insuperável. Daí dizer que The Economist, mais uma vez, erra ao confundir as multinacionais clássicas com as transnacionais modernas.
c) A Economist, naquele último comentado por João Bernardo, parece apostar muitas fichas nas startups. Ora, posso estar enganado, mas vejo nas startups indícios do mesmo tipo de bolha que anos atrás resultou na crise das .com . Com a diferença de que algumas startups já são milionárias e fagocitam o que quer que lhes surja pela frente e possa agregar valor à sua produção. Pensem, por exemplo, na compra do WhatsApp pelo Facebook, ou na multiplicação de ramos vivida hoje pela Uber (táxi, motofrete, entrega de comida etc).
Além disto, adiciono que o “deslize” metodológico da Economist não me parece ser compartilhado por outras publicações especializadas como Foreign Affairs e Financial Times.
Manolo,
Sem pretender desviar as atenções do assunto principal, comento apenas o seguinte. Neste momento 83% dos restaurantes da McDonald’s são franchisings, ou franquias, como se diz no Brasil, e o actual ceo pretende elevar este valor para 95%. Porém, a dependência das franchisings relativamente à matriz não consiste somente na obrigação de lhe pagarem uma determinada renda. A dependência vigora também no plano tecnológico, já que as franchisings têm de obedecer estritamente aos sistemas de produção, de trabalho e de controlo da qualidade definidos pela matriz. E a dependência vigora igualmente no plano das relações com os consumidores, pois a matriz procede a testes de opinião regulares. Na minha opinião, as cadeias de franchising correspondem a uma remodelação no quadro de propriedade, aparentando uma relativa autonomia jurídica, no interior de uma completa integração no quadro tecnológico. Procedendo a uma analogia –- com todos os limites das analogias –- muitas pessoas que no plano jurídico se definem como profissionais independentes são, no plano das relações de trabalho, verdadeiros assalariados, com a diferença somente de que a empresa para a qual laboram os responsabiliza por uma série de custos. A situação das franchisings parece-me ser comparável.
QUANDO A SUBSTÂNCIA (MASSA PROLETÁRIA REBELDE) DEVÉM SUJEITO (PROTAGONISTA COSMO-HISTÓRICO)
scilicet, na fábrica planetária:
http://clb.org.hk/content/new-and-old-economy-divisions-deepen-q4-worker-actions
Num comentário do dia 25 de Janeiro Breno perguntou: «Quais frações da burguesia estadunidense estão a lograr benefícios devido à política econômica de Trump? […] quais os capitalistas que dão suporte ao novo presidente? Seriam aqueles menos competitivos e, portanto, retardatários no processo de integração das cadeias produtivas […] ?». Uma notícia divulgada hoje (https://www.yahoo.com/news/top-tech-companies-argue-against-trump-travel-ban-112912514.html ) mostra qual é o sector do capitalismo norte-americano que está a ser mais imediatamente prejudicado pela política de Trump. E então fica a pergunta: como é possível que um presidente governe contra noventa e sete companhias de topo no ramo tecnológico mais importante da actualidade, incluindo a Intel, a Apple, a Microsoft, o Google, o Mozilla, o Facebook, o Twitter, a AirBnb, a eBay, o LinkedIn, a Netflix e a Uber? Nisto tudo encontro mais motivos para fazer perguntas do que elementos para dar respostas.
Verifico agora que o link no meu comentário anterior conduz a uma nova versão da notícia que eu havia lido ontem, onde está mais resumida a parte referente ao protesto apresentado em tribunal, no domingo, por noventa e sete empresas de tecnologia de ponta contra a ordem executiva que suspendia a entrada nos Estados Unidos de pessoas originárias de sete países muçulmanos. Quem não saiba inglês pode ler aqui uma notícia sobre o mesmo assunto em língua portuguesa (http://observador.pt/2017/02/06/grandes-empresas-tecnologicas-unem-se-contra-decreto-anti-imigracao-de-trump/ ).
Encontro hoje outra notícia (https://www.yahoo.com/news/why-some-big-tech-giants-didnt-join-a-brief-fighting-trumps-immigration-ban-224244071.html ) que revela as nuances da situação. A ausência da Amazon na lista não é significativa, já que não integrou aquele grupo de empresas só por estar já a participar noutro protesto em tribunal. Também a Hewlett-Packard reclamara publicamente e anunciou que não se juntara às noventa e sete empresas porque lhe fora dado um prazo demasiado curto para o fazer. Mais interessantes são os casos da Oracle e da IBM. Uma co-ceo da Oracle pertenceu à equipa de transição de Trump, o que levou a protestos por parte de outros dirigentes da empresa, um dos quais se demitiu em Dezembro do ano passado. Por seu lado, o ceo da IBM faz parte do grupo de conselheiros do presidente Trump em questões de negócios e um porta-voz da IBM afirmou que a companhia teria usado este canal para veicular a sua posição. Seria convidativo insistir aqui na diferença entre os tipos de tecnologia prosseguidos pela IBM e pelas empresas integrada no grupo das noventa e sete, mas prefiro não me satisfazer com explicações demasiado rápidas. O certo é que num ramo crucial das tecnologias de ponta temos noventa e nove empresas (97+2) de um lado, a IBM do outro, e a Oracle a meio.
Mas, como disse, convém não se deixar seduzir por soluções apressadas, porque o presidente e ceo da Starbucks, que não é propriamente uma empresa de tecnologia de ponta, publicou em 29 de Janeiro um verdadeiro manifesto ideológico, que importa ler na íntegra (https://news.starbucks.com/news/living-our-values-in-uncertain-times ).