Por Emílio Gennari
Leia o artigo anterior aqui.
 Como já dissemos, o estado emotivo das pessoas torna-se o elemento-chave para definir sua identidade, seus anseios, seus sonhos, enfim, sua realidade. Neste processo, a gestão das emoções é a maneira mais fácil de guiar o comportamento individual e coletivo, por dispensar a realidade material na qual o sujeito se encontra, fazendo com que tudo dependa de um simples esforço de vontade. Não por acaso o termo auto-estima é usado para indicar o sentir-se bem consigo mesmo, o respeito para si próprio, a confiança em si mesmo e nas próprias capacidades, o que faz da auto-estima a expressão de um atitude serena, confiante e um estado de espírito desejável para quem deseja se tornar um vencedor, apesar dos limites de sua condição econômica e social.
Como já dissemos, o estado emotivo das pessoas torna-se o elemento-chave para definir sua identidade, seus anseios, seus sonhos, enfim, sua realidade. Neste processo, a gestão das emoções é a maneira mais fácil de guiar o comportamento individual e coletivo, por dispensar a realidade material na qual o sujeito se encontra, fazendo com que tudo dependa de um simples esforço de vontade. Não por acaso o termo auto-estima é usado para indicar o sentir-se bem consigo mesmo, o respeito para si próprio, a confiança em si mesmo e nas próprias capacidades, o que faz da auto-estima a expressão de um atitude serena, confiante e um estado de espírito desejável para quem deseja se tornar um vencedor, apesar dos limites de sua condição econômica e social.
Mas por que deveríamos pensar que problemas sociais tão complexos como os que o Brasil enfrenta podem ser causados por um único fator, ou seja, o sentir-se mais ou menos bem consigo mesmo?
Se o que caracteriza a identidade do indivíduo é a maneira pela qual ele se sente em relação a si mesmo (o que ocorre através de suas emoções), então todas as iniciativas que procuram promover ou melhorar esta situação de bem-estar não encontram dificuldades em serem aceitas, assimiladas e vistas como naturais.
Mas como isso é possível?
A tendência a reduzir uma realidade complexa a um problema de auto-estima não se baseia em dados científicos, mas sim em elementos que confirmam pontualmente as intuições e pressupostos do indivíduo. Esta postura tem sido fortalecida pela progressiva valorização do sentir em relação ao raciocínio lógico, movimento que dispensa uma investigação científica e racional. O “caso” individual é separado das condições materiais que permitiram o seu desenvolvimento/sucesso e passa a ser apresentado como modelo a ser seguido por quem partilha o mesmo estado de espírito. Um prato cheio para a lógica formal do senso comum pela qual o fato de uma pessoa em cada mil ter conseguido dar a volta por cima é mais que suficiente para cobrar dos 999 restantes a suposta falta de compromisso que gerou o seu fracasso. Trata-se de algo próximo ao que ocorre com quem joga na loteria. No verso do bilhete está o número de possibilidades reais de ganhar o prêmio almejado, mas para o jogador basta saber que alguém, ao fazer uma jogada mínima, pôs a mão numa bolada de dinheiro. Por isso, contrariando qualquer dado empírico, ele sente que pode ganhar.
O fato de a auto-estima ser apontada como chave de leitura para explicar situações sociais complexas não tem como base as evidências que emergem da realidade, mas sim uma idéia de auto-estima que, por ser vaga e ter um sentido flutuante, se adapta a qualquer circunstância, tornando-se um mito que pode ser facilmente incorporado na visão de mundo do povo simples e por ele repetido à exaustão como explicação racional de sua situação. Se querer é poder, então eu não quis o suficiente, não me esforcei o suficiente, não me preparei como devia ou desanimei justo quando era necessário acreditar e apostar todas as fichas. A causa dos problemas pessoais, vista como tendo origem em situações estritamente individuais, tem assim sua percepção confirmada em cada fracasso do sujeito. O “EU” sabia que a realidade era o que era. Um erro de leitura, adaptação e intervenção só pode ser atribuído ao mesmo “EU” num círculo vicioso que, ao deixar o indivíduo como responsável único pelo que lhe acontece, o enaltece ou faz precipitar proporcionalmente aos seus sucessos ou fracassos.
 O fascínio da auto-estima se deve também à convicção do seu poder quase mágico ou dos seus efeitos milagrosos. Como vimos, é tida como elemento-chave para o desenvolvimento positivo do indivíduo, para o sucesso futuro da inteligência e do talento, tornando-se caminho obrigatório para a felicidade. Uma espécie de vacina contra os males que afligem a sociedade e de estímulo necessário para subir na vida.
O fascínio da auto-estima se deve também à convicção do seu poder quase mágico ou dos seus efeitos milagrosos. Como vimos, é tida como elemento-chave para o desenvolvimento positivo do indivíduo, para o sucesso futuro da inteligência e do talento, tornando-se caminho obrigatório para a felicidade. Uma espécie de vacina contra os males que afligem a sociedade e de estímulo necessário para subir na vida.
Mas isso não é tudo. Sabemos que é somente após uma análise criteriosa que tomamos consciência de quanto a globalização, o mercado, as relações de trabalho e de propriedade determinam nosso comportamento e influenciam as ações que empreendemos. Estes elementos do dia-a-dia se apresentam diante de nós de forma tão natural que, para a maior parte das pessoas, acabam desaparecendo atrás da convicção de que suas ações e sentimentos vêm de algo que está apenas dentro delas, daí que o estresse, a crise dos quarenta, uma situação de esgotamento físico e mental, etc, são remetidos a um comportamento individual, fruto de uma forma de ver e dar sentido à vida, produzido pela cabeça do indivíduo e, portanto, visto como algo privado e solitário. Esta percepção superficial do cotidiano da história faz perder a capacidade de perceber o amplo leque de elementos que partilhamos com os demais e as forças sociais que influenciam nossas decisões.
Nesta situação, não é de se estranhar que seja difícil dar um sentido à própria existência. O isolamento leva o indivíduo a acreditar que as dificuldades de encontrar um sentido para a vida sejam oriundas de um problema interior, próprio de cada um. Por consequência, não estaríamos diante de algo que tem relação com a incapacidade de a sociedade criar laços comuns de sentido através de uma identidade coletiva e um sentimento de solidariedade capazes de servir de rede de proteção aos seus membros. O que, por sinal, já ofereceu resultados surpreendentes até mesmo em situações tão traumáticas quanto as de uma guerra.[1]
O mal-estar que resulta desta sensação de vazio passa assim a ser vivido como problema individual, de natureza fundamentalmente emotiva. O mundo interior do sujeito reafirma-se como o âmbito no qual se acredita devem ser resolvidos os problemas da sociedade, pois se supõe que sem um indivíduo que acredita em si mesmo, dificilmente teremos a possibilidade de impedir um comportamento anti-social e construir um cidadão dedicado exclusivamente a fazer o “seu” dever, a cumprir a “sua” parte, como se para o bem comum bastasse a simples somatória dos esforços individuais propensos a fazer o que é considerado correto, bom, justo e louvável pelo senso comum moldado de acordo com os interesses dominantes.
Mas como é possível que isso “pegue” em meio a uma realidade na qual a maioria da população continua amargando uma situação de marginalização?
Mais uma vez, o campo das emoções oferece um caminho viável para fortalecer a idéia de que o indivíduo deve se tornar paladino de si mesmo. O “EU” deve focar suas energias em sentir-se bem consigo mesmo, pois este bem-estar é uma condição virtuosa indispensável para as suas realizações. O que implica em colocar em segundo plano os comportamentos, as preocupações e as atitudes que distraem o sujeito das exigências e da busca de sua realização pessoal.
 Neste sentido, se você está com raiva de alguém ou, ao contrário, se apaixona por uma pessoa, no fundo, você está se amarrando ao outro. Quanto mais este vínculo se fortalece, mais o sujeito estaria impedido de crescer e progredir no plano emotivo, na medida em que estes sentimentos, ainda que opostos, estariam afastando-o da preocupação central que é sua realização pessoal. Para alguns autores, quando você se compromete com algo externo a você mesmo (a felicidade do parceiro/a, o tratamento de pais doentes, a adesão a uma causa social, etc.), passa a ser dominado por um processo negativo pelo qual a sua felicidade depende de algo que não é apenas você mesmo.
Neste sentido, se você está com raiva de alguém ou, ao contrário, se apaixona por uma pessoa, no fundo, você está se amarrando ao outro. Quanto mais este vínculo se fortalece, mais o sujeito estaria impedido de crescer e progredir no plano emotivo, na medida em que estes sentimentos, ainda que opostos, estariam afastando-o da preocupação central que é sua realização pessoal. Para alguns autores, quando você se compromete com algo externo a você mesmo (a felicidade do parceiro/a, o tratamento de pais doentes, a adesão a uma causa social, etc.), passa a ser dominado por um processo negativo pelo qual a sua felicidade depende de algo que não é apenas você mesmo.
O compromisso com o sofrimento ou a necessidade do outro, base para a formação do sentimento de coletividade, passa a ser visto como falsa generosidade ou dependência, fruto de uma consciência que ainda se preocupa em apaziguar sentimentos de culpa e de vergonha vindos de relações vividas em outras épocas e, portanto, ultrapassadas e prejudiciais para o indivíduo da modernidade. Quem se dedica corpo e alma a ajudar os demais ou se envolve profundamente numa causa social estaria apenas descuidando de si mesmo, das próprias exigências e, obviamente, dos elementos emocionais que poderiam lhe proporcionar algo bem mais sólido e satisfatório. Ou seja, para os intelectuais a serviço do novo conformismo social, é somente quando pensamos que podemos ser felizes sem o outro que deixamos de nos comportar como tóxico-dependentes que usam os vínculos e a relação com os demais como dose diária da droga predileta para atingir instantes fugazes de felicidade e satisfação.
Nunca foi mistério que o envolvimento emotivo pode provocar sofrimento, o que é potencialmente prejudicial ao equilíbrio emocional do indivíduo. Mas, na concepção que acabamos de apresentar, a relação com os demais passa a ser caracterizada pelo medo e por uma profunda desconfiança de que, mais dias menos dias, é inevitável que as pessoas ao nosso redor venham a nos decepcionar. Daí a necessidade de o sujeito ser, e não apenas se sentir, totalmente independente e autônomo, sem vínculos e sem outra bússola que não seja o investir em si mesmo. O problema é que quanto mais diminui a confiança nas relações pessoais, mais cresce a necessidade de recorrer à ajuda profissional de um terapeuta, de um psicólogo ou de alguém com quem sentimos poder desabafar. A erosão do envolvimento, da solidariedade, do companheirismo e da amizade gratuita com os demais não aumenta a independência do indivíduo, mas, simplesmente, leva à substituição de uma suposta dependência por outra bem mais real e invisível. Sem fornecer um guia para a conquista da solidariedade, a terapia (nas mais diversas formas em que o sujeito tem acesso a ela) busca dar sentido à experiência de falta de solidariedade. Na ausência deste elemento imprescindível à vida diária, celebra o culto do “EU” como fim em si mesmo e reduz as demandas coletivas à somatória de problemas pessoais. Mais uma vez, ao centrar o olhar no indivíduo, este é distraído dos fatores econômicos, políticos, sociais, culturais, ambientais, etc. que tornam objetivamente difícil e cansativa a vida moderna. Mas este mesmo fato é devidamente ocultado pelo fato de que o terapeuta/psicólogo/confidente está ao seu inteiro dispor e se foca no “eu” a ser reconstruído, o que, por sua vez, reafirma a lógica dominante do resgate da auto-estima e continua mantendo o sujeito como elemento a ser indiscutivelmente colocado no centro das atenções.
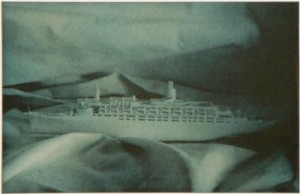 Um exemplo disso é o aconselhamento/acompanhamento psicológico que algumas empresas oferecem aos funcionários que acabam de ser demitidos. De início, era denunciado como uma tentativa de conter a reação dos que acabavam de perder seu emprego, convencendo-os a adaptar-se a uma existência precária. A partir dos anos 90, porém, esta medida passa a ganhar apoio de várias empresas e sindicatos diante dos suicídios que ocorrem após as demissões e que, de alguma forma, denunciam a desumanidade dos processos em curso. O fato é que as dinâmicas desses encontros trazem a idéia de que a realidade esta dada, não há o que fazer a não ser se conformar/aceitar, pois é fruto das relações de mercado que ninguém pode controlar e deter e, portanto, o sujeito estaria diante de algo inevitável/natural que atinge toda a sociedade. O “boi manso”, indignado pelo desemprego, pode se rebelar e denunciar a injustiça de várias formas, inclusive através do suicídio. A intervenção de caráter terapêutico serve de “sossega-leão” para naturalizar o que despertava indignação. O peão pode voltar a ser boi manso, resignado diante de uma realidade que nega o que já foi, mas com sua auto-estima recuperada tanto quanto basta para acreditar que pode enfrentar, sozinho, uma forma mais precária de ganhar a vida e usá-la como meio para subir novos degraus de reconhecimento social.
Um exemplo disso é o aconselhamento/acompanhamento psicológico que algumas empresas oferecem aos funcionários que acabam de ser demitidos. De início, era denunciado como uma tentativa de conter a reação dos que acabavam de perder seu emprego, convencendo-os a adaptar-se a uma existência precária. A partir dos anos 90, porém, esta medida passa a ganhar apoio de várias empresas e sindicatos diante dos suicídios que ocorrem após as demissões e que, de alguma forma, denunciam a desumanidade dos processos em curso. O fato é que as dinâmicas desses encontros trazem a idéia de que a realidade esta dada, não há o que fazer a não ser se conformar/aceitar, pois é fruto das relações de mercado que ninguém pode controlar e deter e, portanto, o sujeito estaria diante de algo inevitável/natural que atinge toda a sociedade. O “boi manso”, indignado pelo desemprego, pode se rebelar e denunciar a injustiça de várias formas, inclusive através do suicídio. A intervenção de caráter terapêutico serve de “sossega-leão” para naturalizar o que despertava indignação. O peão pode voltar a ser boi manso, resignado diante de uma realidade que nega o que já foi, mas com sua auto-estima recuperada tanto quanto basta para acreditar que pode enfrentar, sozinho, uma forma mais precária de ganhar a vida e usá-la como meio para subir novos degraus de reconhecimento social.
Como já vimos, ao contrário do entendimento pelo qual, no passado, se dizia que “ninguém pode ser feliz sozinho”, hoje se afirma que qualquer vínculo mais forte com o mundo ao nosso redor é um freio à busca do que nos faz felizes. Ou seja, para que o sujeito possa se realizar, se faz necessário que o “EU” incorpore como regra de vida a busca incessante de uma felicidade completa graças a um esforço exclusivamente centrado em si mesmo. Por isso a responsabilidade primordial do indivíduo é a que ele desenvolve em relação a si próprio. Assim como o beija-flor procura retirar de cada flor o que é necessário para o seu sustento sem criar vínculos com as plantas que lhe servem de alimento, o indivíduo tem que se relacionar com os demais com a única preocupação de alimentar sua realização pessoal através das migalhas de felicidade que esta pode lhe proporcionar.
O “EU”, assim construído, acredita poder se realizar na medida em que vai se livrando do que soa a obrigação/limite, até mesmo em relação ao círculo de pessoas mais íntimas com as quais convive. O primeiro passo nesta direção vem da eliminação de todo sentimento de culpa ou de vergonha. Visto como incômodo e desagradável, mas também como reconhecimento de responsabilidades que o indivíduo não cumpriu junto à coletividade, este sentimento indicava a consciência do sujeito em relação a expectativas morais do coletivo a que pertence, a presença de idéias de certo e errado, além de constituir um elemento importante no processo de socialização e de reflexão sobre a relação entre o sujeito e o grupo do qual faz parte.
 Hoje, os sentimentos de culpa e de vergonha são apresentados como algo exclusivamente negativo por induzir o indivíduo a se submeter a exigências externas que nada podem ter a ver com seu caminho de realização pessoal. A culpa e a vergonha não seriam apenas causa de infelicidade, mas absorveriam energias emotivas que, no lugar de serem empregadas na auto-realização, acabam direcionadas a satisfazer demandas externas que podem não estar em sintonia com os rumos que o individuo definiu para si mesmo. Por isso, longe de valorizar os momentos de sofrimentos produzidos por estes sentimentos rumo à necessária responsabilidade do sujeito com o mundo em volta dele, a culpa e a vergonha tendem a ser lidas como problemas comportamentais oriundos de distúrbios da personalidade.
Hoje, os sentimentos de culpa e de vergonha são apresentados como algo exclusivamente negativo por induzir o indivíduo a se submeter a exigências externas que nada podem ter a ver com seu caminho de realização pessoal. A culpa e a vergonha não seriam apenas causa de infelicidade, mas absorveriam energias emotivas que, no lugar de serem empregadas na auto-realização, acabam direcionadas a satisfazer demandas externas que podem não estar em sintonia com os rumos que o individuo definiu para si mesmo. Por isso, longe de valorizar os momentos de sofrimentos produzidos por estes sentimentos rumo à necessária responsabilidade do sujeito com o mundo em volta dele, a culpa e a vergonha tendem a ser lidas como problemas comportamentais oriundos de distúrbios da personalidade.
Neste contexto, a relação com os demais passa ser vista apenas como a partilha momentânea de um sentimento que cria um vínculo descomprometido de qualquer intervenção mais séria com quem está ao nosso lado. Um bom exemplo disso nos é oferecido pela atitude dos políticos que visitam populações atingidas por catástrofes naturais. Suas declarações costumam trazer frase como “sinto a sua dor”, “partilho o seu sofrimento”, “estou com vocês neste momento de dificuldade”, pronunciadas como prova de compromisso de quem sente os mesmos sentimentos dos atingidos pelos desastres. Assim como o camaleão se adapta a qualquer ambiente para escapar dos predadores, não há político que não use o boné, não vista a camisa, apele ao seu histórico (“eu também sou nordestino, retirante…”), enfim deixe de se identificar com os presentes como forma de criar a empatia que a situação demanda e de fazer nascer nas pessoas a sensação de estarem sendo entendidas.
Para a elite, basta isso para tentar superar sem sustos uma situação de desgaste ou de perigo para a reafirmação da própria representatividade, pois, em ambientes despolitizados e de falta de envolvimento na luta social, o interesse pelas emoções é frequentemente considerado um indicador de uma maneira de pensar iluminada e um compromisso implícito com o interesse coletivo. Ninguém vai lembrar dos desmandos, das falcatruas, das irresponsabilidades e das medidas que poderiam ter evitado o pior e cuja ausência continua projetando um futuro sombrio, pois isso é parte de um real que compromete o desejo de realização do político enquadrado nos moldes dominantes. Quem lembrar disso publicamente para formular uma crítica contundente corre o risco de ser repreendido pelos presentes na medida em que o luto convoca a solidariedade esquecida e o momento é visto como de renovação das condições subjetivas para dar a volta por cima. E o que importa é justamente o momento, o instante, o sentimento, não a realidade dos fatos que, por sinal, revela sentimentos e posturas bem distantes do que é revelado nas frases de ocasião. Para afugentar posições contrárias baseadas nos fatos, sempre que alguém conquista um lugar de destaque graças a suas virtudes e compromisso público, sua vida privada é investigada de forma tão invasiva que é inevitável que venha descoberto algum ponto negativo, sistematicamente usado para desqualificar o mérito deste sujeito que ousou se afastar do que era esperado. Ao fazer isso, a elite busca apenas mostrar que, no fundo, o que parecia interesse público não passa de uma fachada que veio abaixo diante de uma investigação que coloca em dúvida a seriedade das realizações passadas sobre as quais paira agora a sensação de que tudo não passava de uma forma de acobertar algo errado e que a mídia fez bem a desmascarar.
Ainda que por caminhos tortuosos, podemos recuperar aqui um aspecto esquecido da comunicação sindical que, via de regra, percorre o caminho da racionalidade sem se preocupar em dar sentido às vontades dispersas da base numa leitura e co-participação do sentimento coletivo que estas expressam. Se, de um lado, é verdade que a solidariedade mostra sua fragilidade ao precisar de uma situação extrema para se manifestar, é também verdade que, como dirigentes sindicais, não dá para aproveitar o momento de dificuldade para uma espécie de revanche no estilo do “bem feito! Nós já havíamos alertado e vocês não nos deram ouvidos!”. Ainda que o gostinho da vingança ou do “eu não disse?” abram a possibilidade de “dar o troco a quem não nos ouve”, esse tipo de intervenção não só não cria empatia, como impede a abertura de um canal de comunicação com a base.
 Sem a partilha do sentimento para abrir os ouvidos e dialogar com as emoções coletivas, a mais lúcida exposição racional de motivos e razões corre o risco de não ter o menor efeito. Dado esse passo, estabelecido o contato, estreitada a conexão pelo caminho do sentimento, pode-se começar a ponderar o como e o porquê dos elementos em jogo, sem esquecer de apontar o onde queremos chegar para, em seguida, mostrar concretamente qual é o primeiro passo a ser dado. Do contrário, a mudança/intervenção projetada vai cair no vazio e elevar a sensação de insegurança na exata medida em que é percebida como projetada para um futuro incerto no qual o processo de intervenção permanece indefinido, sem um projeto consistente que parta da realidade vivida pelo coletivo e incorpore suas preocupações. A idéia precisa se fazer projeto para que possa encontrar no “nós” a ser construído as respostas que cada trabalhador deseja ver espelhadas para restabelecer os sentimentos feridos. Não se trata de despolitizar o debate com falsos sentimentalismos, nem muito menos de enganar as pessoas com ilusões vazias ou apelos estéreis à auto-estima e à individualidade, mas sim de dialogar com adultos que precisam ver como e por que seu anseio pessoal só é possível na medida em que suas vontades se fundem num coletivo a ser construído e no qual cada um terá que assumir a responsabilidade pelo andar da carruagem com o melhor de suas energias.
Sem a partilha do sentimento para abrir os ouvidos e dialogar com as emoções coletivas, a mais lúcida exposição racional de motivos e razões corre o risco de não ter o menor efeito. Dado esse passo, estabelecido o contato, estreitada a conexão pelo caminho do sentimento, pode-se começar a ponderar o como e o porquê dos elementos em jogo, sem esquecer de apontar o onde queremos chegar para, em seguida, mostrar concretamente qual é o primeiro passo a ser dado. Do contrário, a mudança/intervenção projetada vai cair no vazio e elevar a sensação de insegurança na exata medida em que é percebida como projetada para um futuro incerto no qual o processo de intervenção permanece indefinido, sem um projeto consistente que parta da realidade vivida pelo coletivo e incorpore suas preocupações. A idéia precisa se fazer projeto para que possa encontrar no “nós” a ser construído as respostas que cada trabalhador deseja ver espelhadas para restabelecer os sentimentos feridos. Não se trata de despolitizar o debate com falsos sentimentalismos, nem muito menos de enganar as pessoas com ilusões vazias ou apelos estéreis à auto-estima e à individualidade, mas sim de dialogar com adultos que precisam ver como e por que seu anseio pessoal só é possível na medida em que suas vontades se fundem num coletivo a ser construído e no qual cada um terá que assumir a responsabilidade pelo andar da carruagem com o melhor de suas energias.
Mas por que é tão difícil reconstruir o sentimento de coletividade sem o qual não há ação coletiva possível?
Nota:
[1] Estudos sobre reações da população atingida pela Segunda Guerra Mundial na Grã Bretanha e pelo conflito no Vietnã comprovam esta possibilidade com uma impressionante riqueza de detalhes.
(Continua aqui.)
Ilustrações de Eeva-Liisa Isomaa







esse comentário é sobre o texto numero 1; está aqui, porque se eu comentasse lá, ficaria parado eternamente.. rs
Primeiramente, não entendi o movimento que se dá quando, na primeira parte do texto, o autor atribui ao “novo trabalhador conformado” a postura de sempre ver as desigualdades como fruto de sua própria ação e modo de vida, negligenciando assim um segundo e determinante fator, o contexto material no qual está inserido, contudo, num segundo momento afirma o seguinte: “Neste processo, o fato de as desgraças poderem ser sempre atribuídas aos OUTROS, e nunca à falta de ação pessoal, permite aos patrões encolher cada vez mais o campo de autonomia do sujeito e …”
Pareceu-me um tanto quanto contraditório, pois num primeiro momento a responsabilidade é deslocada para o meio social, que suprimiria as possibilidades de exercício efetivo da autonomia do indivíduo, lançando-o em uma condição inferior e inferiorizante, enquanto que num segundo o autor parece evocar a autonomia do trabalhador como fator que possibilitaria a sua emancipação independentemente de sua condição de subordinação. Talvez, mas só talvez, o autor queira dizer que algum movimento ou ação social impulsionaria o proletariado de sua condição de objeto da situação para a condição de sujeito da situação, talvez o movimento revolucionário, mas enfim, deixemos que o autor fale por si.
Outro ponto importante é a questão do assédio moral.
Primeiramente, o autor diz que: “é curioso perceber que as vítimas de assédio moral, por exemplo, não percebem que o próprio assédio só é possível na exata medida de sua submissão.”
O assédio moral é uma coisa complicada. Na verdade, não há assédio moral somente da parte do patrão ou do “superior” hierárquico para com o empregado de menor “hierarquia”; também há assédio moral entre empregados de mesma “hierarquia”.
Até por isso, penso que com o instituto do assédio moral, o ordenamento jurídico não visa proteger o empregado do empregador pura e simplesmente, mas sim proteger o empregado de possíveis situações vexatórias dentro da estrutura da empresa, seja o autor do assédio o empregador ou qualquer outro empregado, de igual, superior ou inferior hierarquia. – até porque, em grandes empresas é quase impossível que o empregador seja o responsável por uma situação de tal tipo; não é imaginável, por exemplo, o dono da Toyota xingando um funcionário brasileiro dentro de uma montadora brasileira, até porque o tal do Toyota(o dono da empresa) raramente vem ao brasil realizar inspeções ou coisas do gênero.
A garantia da proteção se dá na medida em que o responsável pela pagamento de danos morais é sempre o empregador pois cabia a ele manter a situação de harmonia e bem estar dentro de sua empresa, seja ele o autor do assédio ou não.
Ou seja, não é necessariamente a estrutura material de produção – em um sentido marxista – a responsável pela criação de situações de inferiorização no sentido do assédio moral.
Mais algumas citações do texto anterior, as últimas prometo… rs
“encontramos a ausência de ação de um indivíduo ou grupo que deixou de ser AUTOR, de escrever seu roteiro de relações e de batalhar por ele e que, diante do aparecimento de distúrbios psíquicos, limita-se, no máximo, a cobrar na justiça a reparação dos danos morais sofridos”
“O mais comum é que culpe o chefe/supervisor mau caráter e transfira para o advogado a cobrança de uma compensação monetária. Esta opção não só confirma aos patrões que o crime compensa (na medida em que, no Brasil, não mais de 10% dos injustiçados buscam recuperar seus direitos na justiça, sendo que 6% deles farão acordo antes do encerramento do processo), mas, sobretudo reafirma na prática que a realidade da qual é vítima é o resultado de forças externas poderosas e incontroláveis, nunca de sua omissão.”
Ora, numa sociedade cuja estrutura jurídica de Estado está minimamente evoluída, os conflitos necessariamente são absorvidos por tal estrutura, eliminando vinganças privadas ou situações do gênero; claro que isso é uma conjectura, uma idealização, mas, para todos os efeitos, é esse o sentido para o qual o aparato jurídico nacional encaminha-se. Sendo assim, não vejo o porquê do menosprezo frente à exigência de danos morais, (“limita-se, no máximo, a cobrar na justiça a reparação dos danos morais sofridos”) na medida em que me parece um meio bastante satisfatório de composição de conflitos e regulamentação das relações de trabalho; indo além, não só satisfatório, mas que deve ter sua aplicação suavizada pelo judiciário brasileiro, dada a voracidade com que alguns juízes avançam sobre o patrimônio de empresas que por vezes sequer detém potencial econômico para arcar com tais valores; convenhamos que não se pode arbitrar a indenização a ser cobrada de uma microempresa com a mesma régua com a qual se arbitra uma potencial indenização a ser cobrada do banco Bradesco por exemplo. O bom senso necessário, a qualquer olhos evidente, é esquecido por alguns juízes.
Por último, deve-se desfazer o mito de que as empresas não estão nem ai pra indenização. Mentira! Qualquer empresa, pequena, grande, média, gigante, borra-se nas calças só de pensar em algumas indenizações trabalhistas. Correm por aí indenizações milionárias. Imaginem 10 dessas indenizações, 100 delas; tem empresa por aí que tem mais de 5 mil processos trabalhistas em curso.
quem ganha realmente dinheiro com isso tudo é o advogado.