Aspectos terapêuticos das lutas de massa e alguns desafios para o trabalho de base contemporâneo. Por Marco Fernandes [*]
Por dentro e por fora é uma série de artigos de debate sobre as lutas e os movimentos sociais, da iniciativa conjunta de Paulo Arantes e do coletivo Passa Palavra. Série aberta a um amplo leque de colaboradores individuais, convidados ou espontâneos, mais ou menos empenhados (ou ex-empenhados) nas lutas concretas, que ajude a aprofundar diagnósticos sobre a sociedade que vivemos, a cruzar experiências, a abrir caminhos – e cujos critérios seletivos serão apenas a relevância e a qualidade dos textos propostos.
No beabá da luta de classes, costumamos valorizar as mobilizações de massa por pelo menos dois motivos principais. Primeiro, porque sem greves, piquetes, trancamentos de pistas, ocupações de terra ou de prédios públicos etc., já aprendemos com a história, não somos capazes de garantir a conquista de direitos para a classe trabalhadora ou a melhoria nas condições de trabalho e de vida de determinado setor do proletariado; que dirá, então, promover transformações mais profundas na estrutura de uma sociedade.
 Segundo, porque também aprendemos que são, principalmente, as lutas da classe que nos formam como militantes, num duplo sentido, político e organizativo: por um lado, politicamente, pois nos deparamos o tempo inteiro com as contradições do sistema capitalista, com o papel do Estado como “comitê executivo dos negócios da burguesia” e, não raro, sofremos literalmente na pele o peso de nos revoltarmos contra os interesses das classes dominantes da sociedade, ficando evidente que os “nossos interesses” não se conciliam com os “interesses deles”; e, por outro lado, organizativamente, pois qualquer luta massiva é um aprendizado da capacidade de analisar a conjuntura, de elaboração de táticas, planejamento coletivo, divisão de tarefas, capacidade de avaliação e de resposta ao contra-ataque dos proprietários e governantes. Mesmo uma simples marcha cumpre um papel formativo para todos que dela participam. E sem tal capacidade organizativa, não há mobilização de massa que se sustente até atingir seus objetivos, dos mais imediatos aos mais ambiciosos.
Segundo, porque também aprendemos que são, principalmente, as lutas da classe que nos formam como militantes, num duplo sentido, político e organizativo: por um lado, politicamente, pois nos deparamos o tempo inteiro com as contradições do sistema capitalista, com o papel do Estado como “comitê executivo dos negócios da burguesia” e, não raro, sofremos literalmente na pele o peso de nos revoltarmos contra os interesses das classes dominantes da sociedade, ficando evidente que os “nossos interesses” não se conciliam com os “interesses deles”; e, por outro lado, organizativamente, pois qualquer luta massiva é um aprendizado da capacidade de analisar a conjuntura, de elaboração de táticas, planejamento coletivo, divisão de tarefas, capacidade de avaliação e de resposta ao contra-ataque dos proprietários e governantes. Mesmo uma simples marcha cumpre um papel formativo para todos que dela participam. E sem tal capacidade organizativa, não há mobilização de massa que se sustente até atingir seus objetivos, dos mais imediatos aos mais ambiciosos.
No entanto, há um terceiro aspecto das lutas de massa, ao qual não costumamos dar tanta importância, e sobre o qual eu gostaria de propor uma reflexão nas páginas seguintes. Trata-se da dimensão terapêutica envolvida em grande parte dos processos de mobilização massiva, desde lutas específicas e localizadas (como uma ocupação de terreno dos que buscam pressionar o governo por seu direito à moradia digna) até processos mais amplos e radicais, de todo um povo lutando por sua independência frente a um Estado invasor, ou da classe trabalhadora de um país buscando modificar o modo de produção através de um processo revolucionário.

As virtudes terapêuticas de uma mobilização popular costumam surgir a despeito da intenção, ou mesmo da consciência, de suas lideranças políticas, o que não diminui a sua importância, muito pelo contrário. Mas a hipótese que eu gostaria de lançar aqui é que: assim como no plano das análises de conjuntura, ou da escolha do momento correto de se lançar numa mobilização, é necessário um conhecimento profundo das relações de forças políticas e econômicas de uma determinada sociedade, bem como das demandas materiais que nos movem à luta (como terra, teto ou melhores salários), também haveremos de avançar política e organizativamente se formos capazes de atinar para as “relações de forças subjetivas” envolvidas na arena da luta de classes, se soubermos interpretar as nossas demandas simbólicas e dar coletivamente respostas eficientes a tais demandas. Em suma, estou tentando sugerir que o conhecimento sobre os elementos imaginários, simbólicos, e até mesmo inconscientes de um povo, ou seja, tudo aquilo que diz respeito aos aspectos subjetivos – ou psicossociais – envolvidos nas lutas populares – e que muitos de nós chamamos simplesmente de “mística” –, pode servir como um poderoso instrumento capaz de potencializar nossa capacidade mobilizatória e, por consequência, aumentar nossa força política e social.

Não se trata de nenhum princípio original. Há uma certa tradição marxista que se debruçou sobre essa preocupação desde princípios do século XX. Seus autores, em geral, souberam aliar o inestimável conhecimento trazido pelo materialismo histórico e dialético com a teoria psicanalítica elaborada por Freud e seus colaboradores. Desde que, em 1934, Wilhelm Reich (1897-1957), psicanalista e militante do Partido Comunista Alemão, publicou a Psicologia de massas do fascismo, primeira obra de fôlego que se propôs a analisar um fenômeno de massa – a ascensão do nazismo no interior da classe trabalhadora alemã – a partir da síntese teórica entre o marxismo e a psicanálise, abriu-se uma importante vereda para a teoria e a prática da esquerda. Seus passos foram logo seguidos, na Alemanha, pelos pensadores da chamada Escola de Frankfurt, como Erich Fromm, outro psicanalista de formação marxista, bem como seus colegas “frankfurtianos” Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Max Horkheimer, filósofos que tão bem transitaram entre as teorias de Marx e Freud, a fim de analisarem as formas pelas quais o fetiche da mercadoria se consolidava no interior da subjetividade do indivíduo contemporâneo.
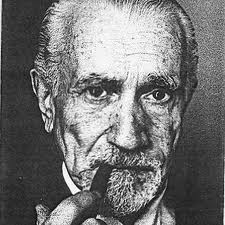
No caso do nosso “terceiro mundo”, há o exemplo de Enrique Pichòn-Rivière (1907-77), fundador da Psicologia Social argentina, que também se propunha a formular uma síntese teórica e prática entre marxismo e psicanálise, e sustentava que a visão de mundo e as práticas dos seres humanos estão diretamente relacionadas com as formas pelas quais sua existência material se produz e reproduz ou, em suas palavras, “a psicologia social que postulamos tem como objeto o estudo do desenvolvimento e transformação de uma realidade dialética entre a formação social e a fantasia inconsciente do sujeito, sustentada sobre suas relações de necessidade” (Psicologia da vida cotidiana, Martins Fontes, 1998). Além disso, Pichón inaugurou uma tradição de “terapia de grupos operativos” que representou um importante avanço político nas técnicas terapêuticas.
Podemos lembrar ainda da tentativa radical de Frantz Fanon (1925-61) – sobre o qual voltarei a falar adiante – psiquiatra marxista, negro da Martinica, que se tornou militante da Frente de Libertação Nacional (FLN) da Argélia e empreendeu o esforço de construir uma análise econômica, política e psicossocial do processo de colonização do terceiro mundo, de subjugação dos povos originários (negros e árabes, no caso africano) e, especificamente, do processo de libertação da nação argelina.
Apesar desta razoável tradição teórica e prática, de origem marxista – que é formada por muito mais do que a meia dúzia de nomes que mencionei –, infelizmente constatamos que o potencial político de tal conhecimento, acumulado ao longo de décadas, ainda está longe de ter sido incorporado por nossas organizações na esquerda, seja no centro ou na periferia do sistema. Bom, quando digo “esquerda”, genericamente penso nas organizações que lutam, ou pretendem lutar, pela superação do modo de produção capitalista. Os mais antigos chamavam de “revolução”, para que fique bem claro.
Mas antes que pareça que tento reivindicar uma espécie de “teoria geral da subjetividade, de raiz marxista” – o que não seria má idéia, mas eu não ousaria dar tal passo megalomaníaco – é preciso que fique claro que parto de uma necessidade posta para nós em um momento e em um lugar historicamente determinados. Falo desde a experiência da militância dos movimentos sociais (sem terra, sem teto, sindicais etc.) no Brasil contemporâneo, sobretudo refletindo a partir da realidade das grandes metrópoles do país. Mas não duvido que algumas das hipóteses que iremos debater sirvam, igualmente, para discutir a realidade das periferias de outras grandes cidades da América Latina, quiçá de todo o velho terceiro mundo.
É patente que vivemos, no Brasil, e em muitos outros países da América Latina, um momento histórico de refluxo de mobilizações populares. As razões são muitas e mais ou menos consensuais no interior da esquerda, e não é minha intenção debatê-las aqui, mas, em parte, elas se devem ao modo como o neoliberalismo se implementou de forma avassaladora nas últimas décadas, sobretudo por seu reflexo na total precarização do mundo do trabalho. Por outro lado, no caso brasileiro, isso também se explica por opções políticas do núcleo dirigente do partido que ocupa a presidência do país, feitas há anos.
Por exemplo, desde que, no começo dos anos 90, o núcleo duro do PT [Partido dos Trabalhadores] optou pela centralidade do processo eleitoral em sua estratégia política e dissolveu – com uma “medida administrativa” do Diretório Nacional – os “núcleos de base” por local de trabalho e moradia, que representaram um grande avanço organizativo na história da esquerda brasileira, aquilo a que chamamos de “trabalho de base” foi deixando cada vez mais de ser uma prática comum em nossas organizações.
Hoje em dia, é gritante a falta de influência das organizações combativas sobre a vida cotidiana, sobre os valores e as idéias da maioria esmagadora da classe trabalhadora, bem como é nítida a insuficiência de nossas atuais organizações em servir como instrumento político e de mobilização populares massivas com o objetivo de pressionar o Estado e os patrões a atenderem ao menos nossas reivindicações mais básicas (como a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma política, a moratória do pagamento de extorsivos juros da dívida pública etc.), para não falar das transformações estruturais. Evidentemente, não há como imaginar um avanço da hegemonia política e cultural da esquerda – no sentido que Gramsci nos ensinou – nem mesmo a longo prazo, sem que haja uma retomada consistente do trabalho de base nos locais onde a classe convive, sejam estes de trabalho, moradia ou estudo.
É diante desse desafio que me parece crucial atentarmos para algumas demandas subjetivas do nosso povo. Como este texto é, no fundo, uma prosa entre militantes que se identificam com esse desafio, pretendo ilustrar com dois exemplos concretos (pois o espaço é limitado) o tema que estou propondo: começaremos dando voz ao velho militante da FLN, já mencionado, que há exatos 50 anos nos chamou atenção para este mesmo problema. Em seguida, baseado nas experiências de acampamentos massivos de sem teto que tive a oportunidade de participar como militante e, sobretudo, em narrativas de companheiras e companheiros que viveram intensamente estas lutas, gostaria de destacar alguns aspectos da dimensão terapêutica envolvidos numa ocupação urbana massiva, que intuo sejam importantes para o avanço do nosso trabalho de base no atual momento histórico.
Fanon e a terapia da luta armada popular

“Esses desempregados e esses sub-homens se reabilitam para si mesmos e para a história. (…) todos aqueles e aquelas que evoluem entre a loucura e o suicídio vão se reequilibrar, retomar o caminho e participar de modo decisivo da grande procissão da nação despertada” (Frantz Fanon, Os condenados da terra).
Frantz Fanon foi um dos primeiros pensadores da tradição marxista a atinar para aquilo que estamos chamando de dimensão terapêutica das lutas populares. Não por acaso. Formado em psiquiatria na França, em 1953, aos 28 anos de idade, é nomeado para um cargo de chefia no Hospital Psiquiátrico em Blida-Joinville, na Argélia – então colônia francesa. Pouco tempo depois, presencia o início da guerra de libertação nacional argelina e passa a atender em seu consultório os “doentes de guerra”: argelinos torturados pelas forças francesas, bem como os próprios torturadores. A verdade mais íntima da colonização lhe era revelada no cotidiano do consultório, e o horror com o qual se deparava e para o qual tentava dar resposta, sempre insuficiente, o levou à decisão de se engajar na luta, tornando-se – secretamente num primeiro momento – militante da Frente de Libertação Nacional (FLN) da Argélia.
Sua experiência no processo de luta contra o colonialismo, bem como sua sólida bagagem teórica, o levaram a redigir a já clássica obra sobre a libertação argelina, Os condenados da terra (1961), que teve carreira meteórica no meio da militância terceiro-mundista nos anos 60 e 70, e cuja ressonância se multiplicou depois que Jean-Paul Sartre lhe escreveu um prefácio no inesquecível ano de 1968.
 Trata-se de um livro ousado, que se propõe a interpretar teoricamente o desenvolvimento político da guerra de libertação nacional, suas idas e vindas, suas virtudes e limitações, além de questionar, sob um ponto de vista marxista – mas formado na periferia do sistema – alguns “dogmas” do marxismo europeu: como o suposto caráter reacionário do campesinato e do “lumpenproletariado” urbano (na Argélia, ambos foram, em momentos distintos, protagonistas das lutas) e o papel de sujeito histórico revolucionário do operariado fabril (que era então o setor mais privilegiado do proletariado argelino e menos propenso a se engajar nas lutas). Fanon nos convencia da necessidade de repensar historicamente alguns conceitos marxistas sob a luz do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. Na periferia, o buraco é mais embaixo. Não à toa, fez tanto sucesso entre marxistas terceiro-mundistas não alinhados com a ortodoxia moscovita dos “partidões”. Mas o que nos importa nesta prosa é reconstituir apenas uma de suas teses originais, entre tantas deste livro.
Trata-se de um livro ousado, que se propõe a interpretar teoricamente o desenvolvimento político da guerra de libertação nacional, suas idas e vindas, suas virtudes e limitações, além de questionar, sob um ponto de vista marxista – mas formado na periferia do sistema – alguns “dogmas” do marxismo europeu: como o suposto caráter reacionário do campesinato e do “lumpenproletariado” urbano (na Argélia, ambos foram, em momentos distintos, protagonistas das lutas) e o papel de sujeito histórico revolucionário do operariado fabril (que era então o setor mais privilegiado do proletariado argelino e menos propenso a se engajar nas lutas). Fanon nos convencia da necessidade de repensar historicamente alguns conceitos marxistas sob a luz do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. Na periferia, o buraco é mais embaixo. Não à toa, fez tanto sucesso entre marxistas terceiro-mundistas não alinhados com a ortodoxia moscovita dos “partidões”. Mas o que nos importa nesta prosa é reconstituir apenas uma de suas teses originais, entre tantas deste livro.
A partir de sua experiência clínica e das diversas andanças pelo país – que lhe eram demandadas por tarefas da FLN – Fanon pôde mergulhar no imaginário popular argelino e, com sua bagagem de psiquiatra e militante político, nos demonstrou que o processo da luta armada de libertação nacional adquiriu um caráter terapêutico para o povo. E mais: a própria violência necessária para expulsar os colonizadores teve papel central neste efeito terapêutico e libertador. Resumo brevemente seus argumentos.
Comecemos pelos diagnósticos. Segundo Fanon, o acúmulo histórico da violência colonial, já sedimentada por gerações, havia criado nos indivíduos alguns sintomas recorrentes, aos quais teve acesso privilegiado como terapeuta. Nos sonhos, por exemplo, era possível vislumbrá-los. Uma vez que o colonizado deve, desde sempre, aprender a “ficar em seu lugar” e que seu corpo está, o tempo todo, cercado por limites impostos pelo colonizador armado, seus sonhos “são sonhos musculares, sonhos de ação, sonhos agressivos. Eu sonho que dou um salto, que nado, que corro, que subo. Sonho que estouro na gargalhada, que transponho o rio com uma pernada, que sou perseguido por bandos de veículos que não me pegam nunca. Durante a colonização, o colonizado não cessa de se libertar entre nove horas da noite e seis horas da manhã” [1]. Como já havia descoberto Freud, nos sonhos realizamos os nossos desejos. Aqui, o desejo é o de possuir um corpo super-poderoso, como projeções de liberdade de um povo subjugado, sonhando em se libertar do colonizador.
Mas os sonhos não bastavam para sublimar essa agressividade represada. Ela se expressaria, nos conta Fanon, num estado de tensão permanente do colonizado, que por não poder descarregar seu ódio contra o invasor europeu, não raro o canalizava contra seus iguais: seu/sua cônjuge, seu vizinho ou seu colega de trabalho, em brigas sangrentas por motivos fúteis, chocando o policial colonizador, que cinicamente se eximia da responsabilidade pela supostamente “inexplicável violência destes bárbaros”.
 E nos mitos terrificantes, segundo nosso psiquiatra, tão comuns em sociedades subdesenvolvidas, o colonizado irá projetar as inibições à sua agressividade. Daí que figuras como gênios malvados, homens-leopardo, zumbis, entre outros, apareçam no imaginário popular como interdições mais assustadoras do que o próprio mundo colonialista. Em suma, para Fanon, “esta superestrutura mágica que impregna a sociedade nativa desempenha, no dinamismo da economia libidinal, funções precisas”. Note-se a precisa articulação entre as condições materiais da colônia e suas consequências psíquicas nos indivíduos, manifesta em sonhos e mitos populares, que, por sua vez, dialeticamente, contribuem para garantir, também subjetivamente, a reprodução da condição colonial.
E nos mitos terrificantes, segundo nosso psiquiatra, tão comuns em sociedades subdesenvolvidas, o colonizado irá projetar as inibições à sua agressividade. Daí que figuras como gênios malvados, homens-leopardo, zumbis, entre outros, apareçam no imaginário popular como interdições mais assustadoras do que o próprio mundo colonialista. Em suma, para Fanon, “esta superestrutura mágica que impregna a sociedade nativa desempenha, no dinamismo da economia libidinal, funções precisas”. Note-se a precisa articulação entre as condições materiais da colônia e suas consequências psíquicas nos indivíduos, manifesta em sonhos e mitos populares, que, por sua vez, dialeticamente, contribuem para garantir, também subjetivamente, a reprodução da condição colonial.
Por fim, um dos principais recursos disponíveis ao colonizado a fim de extravasar a violência, a humilhação e a tortura às quais ele é obrigado a se submeter – se não quiser ser simplesmente exterminado – são os rituais religiosos ancestrais. Por isso, afirma Fanon, “um estudo do mundo colonial deve obrigatoriamente aplicar-se à compreensão do fenômeno da dança e do transe”, onipresentes em tais rituais, nos quais a “agressividade mais aguda, a violência mais imediata são canalizadas, transformadas, escamoteadas”, e onde “a libido acumulada e a agressividade reprimida extravasam vulcanicamente”.
Sobretudo no transe, fenômeno no qual a psique atinge a experiência da catarse, presenciaremos “dissoluções da personalidade”, que “exercem uma função econômica primordial na estabilidade do mundo colonizado. Na ida, os homens e as mulheres estavam impacientes, indóceis, irritados. Na volta, é a calma que retorna à aldeia, a paz, a imobilidade”. No ritual catártico, a tensão acumulada no tecido muscular – reflexo do sofrimento do espírito – pode ser dissolvida, restabelecendo o equilíbrio da mente, relaxando a musculatura. Por um lado, é remédio da alma, pois faz o colonizado suportar o sofrimento do dia de amanhã; por outro, é veneno, pois serve para esfriar o sentimento de revolta contra sua situação insuportável.
Contudo, com o ascenso das mobilizações populares na conflagração da guerra de libertação nacional argelina, aos poucos, a função simbólica dos rituais religiosos seria então desempenhada pela organização da luta armada contra o colonizador, pois, segundo ele, “ao nível dos indivíduos, a violência desintoxica. Desembaraça o colonizado de seu complexo de inferioridade, de suas atitudes contemplativas ou desesperadas. Torna-o intrépido, reabilita-o a seus próprios olhos”. Por isso, afirma, ainda que muitos desempenhem um papel simbólico na luta armada, e que com a derrota francesa o povo seja rapidamente desarmado, ele sente que participou da libertação, e que está no mesmo nível dos seus “líderes”. Sentem que chegou, finalmente, o dia da revanche dos humilhados. A descarga de libido presente nos “sonhos de ação” e nos rituais catárticos podia então ser canalizada para a ação da luta. Já os monstros dos mitos populares adquiriam sua verdadeira face: a pele de gente branca, de olhos azuis, do soldado francês assassino. Era ele que deviam combater.
O colossal esforço de unidade popular contra o exército francês invasor será capaz até mesmo de suplantar históricas rivalidades tribais, as quais o colonizador sempre soube manipular para manter o controle da colônia. O surgimento de uma nação em potencial, a combater o inimigo comum, resultou na constituição de fortes vínculos entre aqueles que jamais se reconheceram como vítimas da mesma opressão. Se antes os indivíduos recorriam às danças rituais em busca de seu próprio alívio, proporcionado pelo transe, agora “é o solo nacional, é o conjunto da colônia que entra em transe”, de modo que se assemelha, nas palavras de Fanon, a “uma confraria, uma igreja, uma mística. [Pois] nenhum autóctone pode ficar indiferente ao ritmo que arrasta a nação”.
Não nos enganemos. A metáfora religiosa é milimetricamente calculada por Fanon: diante das lutas populares e massivas, o caráter terapêutico do ritual religioso se tornava cada vez menos necessário. O povo reencontrava, no ritual revolucionário da luta armada, a terapia de que necessitava para se libertar do sofrimento inominável da colonização. Ela atendia pelo nome de luta de libertação nacional, capaz de politizar o sofrimento do colonizado e atacar frontalmente as causas históricas de seus distúrbios psicológicos.
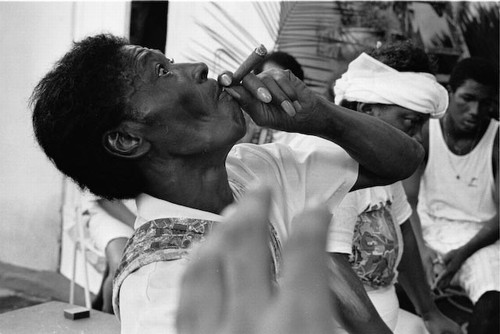
* * *
Por certo, há uma enorme distância entre a dimensão política de um caso histórico como a libertação argelina e as lutas pontuais dos sem teto no Brasil contemporâneo, de que trataremos a seguir. Mas me parece que, em ambos os casos, há elementos comuns presentes em processos de organização de lutas populares, sobretudo no que diz respeito aos efeitos subjetivos que podem ser desencadeados por tais lutas, os quais ficarão mais claros assim que adentrarmos as narrativas dos sem teto.
Creio que o exemplo de Fanon nos ajuda hoje a pensar o problema de uma análise materialista da subjetividade e, principalmente, que consequências políticas e organizativas podemos extrair a partir desta análise. Como veremos adiante, até mesmo sua reflexão sobre o paralelo entre a função terapêutica dos rituais religiosos e seu correlato nos processo de lutas de massa nos serão úteis para refletir sobre o atual panorama das periferias das metrópoles brasileiras, onde as igrejas pentecostais se multiplicam como os pães de Jesus.
Continua…
[*] Militante do Movimento Sem Terra, atuo na Regional Grande São Paulo e como educador da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF/MST). Garçom e professor de História e Psicologia Social.
Nota:
[1] cf. Franz Fanon. Os condenados da terra. Juiz de Fora, Editora UFJF, 2006. Todas as citações de Fanon em seguida são da mesma obra.







“Trata-se de um livro ousado, que se propõe a interpretar teoricamente o desenvolvimento político da guerra de libertação nacional, suas idas e vindas, suas virtudes e limitações, além de questionar, sob um ponto de vista marxista – mas formado na periferia do sistema – alguns “dogmas” do marxismo europeu: como o suposto caráter reacionário do campesinato e do “lumpenproletariado” urbano (na Argélia, ambos foram, em momentos distintos, protagonistas das lutas) e o papel de sujeito histórico revolucionário do operariado fabril (que era então o setor mais privilegiado do proletariado argelino e menos propenso a se engajar nas lutas).”
É que para o marxismo não terceiro-mundista nem nacionalista, a revolução não é a luta de libertação nacional.
Caro Marco, vou tecer alguns comentários mesmo antes da publicação da segunda parte do artigo, pela qual espero ansiosamente! Antes, eu gostaria de endereçar ao leitor que se identificou como “Pobre” a seguinte pergunta: qual é o propósito do seu comentário? Não vejo absolutamente como ele pode contribuir para a elucidação do tema abordado pelo texto do Marco.
Afinal, o grande problema apontado pelo artigo não é a crítica a uma certa ortodoxia de um certo marxismo, mas a constatação irrefutável de que existe uma assimetria enorme entre o conhecimento crítico produzido a respeito do papel do mundo psíquico no processo emancipatório e a sua apropriação na práxis das nossas organizações de esquerda. Como diminuir essa assimetria?
Entrando, pois, no problema, achei primorosa a formulação segundo a qual, junto às análises conjunturais e da correlação de forças política, deveríamos encarar como uma tarefa fundamental dos revolucionários a análise das “relações de forças subjetivas” e as “demandas simbólicas” do povo. A minha objeção, no entanto, é quanto à redução do universo subjetivo (ou psíquico) a um produto das relações de classe, subordinando todas as demais relações geradoras de subjetividade às relações de produção. Creio que, nesse ponto, o autor do texto está coerente com o marxismo que ele professa, residindo o problema, pois, no tratamento materialista do tema.
Castoriadis, por exemplo, foi um dos pensadores revolucionários que mais profundamente refletiram a respeito do papel da psique no projeto de autonomia, e chegou a exercer, inclusive, a psicanálise durante muitos anos. Para ele, a psique é um dos pólos fundamentais, junto com o processo de socialização (os dois se moldando dialeticamente), da instituição da sociedade – e não um produto da luta de classes. No entanto, acho que as reflexões dele necessitam de um complemento, o qual os aportes trazidos por alguns teóricos de filiação marxista podem fornecer, sobretudo o papel da psicologia social e das terapias de grupo.
Mas bem, voltando à crítica ao materialismo em sua aproximação ao problema do papel terapêutico das lutas emancipatórias, as formulações de Fanon dão mostras das suas limitações: tratar as manifestações místicas e catárticas tradicionais (mesmo reconhecendo as suas contribuições terapêuticas) como portadoras de um certo “veneno”, por servirem para esfriar o sentimento de revolta contra a sua situação insuportável, e dizer que o movimento de libertação nacional substitui esses rituais por canalizar as energias libidinais na “economia psíquica” é o mesmo que tomar a metáfora econômica por uma realidade, como se a constituição das pulsões psíquicas realmente compartilhassem o mesmo princípio de escassez da economia. Ora, não vejo como os rituais de transe presentes historicamente no seio das comunidades quilombolas teria competido para gerar um déficit libidinal na sua luta de resistência à escravidão, e não vejo passividade entre camaradas que participam de algumas religiões onde a prática do transe é central.
Se, de fato, a “economia psíquica” operasse sob o imperativo da escassez e o dualismo que dele deriva (um “jogo de soma zero” no dispêndio das pulsões), então as qualidades das “místicas” e terapias desenvolvidas no âmbito das organizações de esquerda seriam, ao fim e ao cabo, um desperdício de uma preciosa libido a fazer falta nas lutas… A absurdidade de uma tal formulação só faria sentido se aceitássemos um outro problema das formulações de Fanon, a mistificação excessiva da violência no processo emancipatório, um problema apontado por Hannah Arendt em seu ensaio “Sobre a violência”. Afinal, se a violência revolucionária ajuda a libertar o corpo e a “alma” de estigmas e repressões provocadas pela dominação, é bem verdade que ela não é capaz de criar, por si só, indivíduos emancipados, moldando, geralmente, indivíduos autoritários e… violentos. A trajetória de movimentos revolucionários que estetizaram a violência, com a sua incapacidade de criar espaços políticos livres, deveriam ser um alerta para nós. São poucos os movimentos revolucionários armados que escaparam, em grande parte, da imposição autoritária das armas sobre os seus espaços de atuação política(alguns exemplos são o exército revolucionário Makhnovista, as brigadas revolucionárias de Aragão e da Catalunha na Revolução Espanhola e o EZLN, em Chiapas). Aliás, as relações entre o machismo e as lutas de liberação nacional não são poucas, e deveriam ser objeto de maior consideração nas análises psicológicas das lutas sociais. Sobre este assunto, recomendo a obra de S. Walby, “Woman and Nation”.
Para encerrar o meu comentário, deixo uma questão para ser discutida: por que religiões em que os ritos catárticos de transe têm um lugar importante têm sido menos pervasivas a um programa político de transformação social? Seria possível (ou já existe) algo semelhante a uma Teologia da Libertação entre os (neo)pentecostais, umbandistas ou no Candomblé? Não me refiro a casos de militantes isolados que participam destas religiões (como já disse, eu conheço um monte deles!), mas de setores organizados no seio destas religiões com alguma reflexão sistemática sobre a forma de trabalhar a sua fé na emancipação social. Alguém conhece exemplos?
Interessantíssimo o artigo. Há tempos estava querendo ler Fanon e este artigo me instigou mais a lê-lo, até para perceber os limites, como o pontuado acima pelo “Pobre”.
Venho há alguns anos pensando sobre a questão terapêutica das lutas, de como no processo de luta e de autonomização de um grupo frente ao capitalismo os indivíduos vão desenvolvendo as suas potencialidades humanas e reforçando cada vez mais as lutas. Assim como também, por outro lado, de casos onde o stress causado pelo conflito contribui para surtos e desenvolvimento de problemas psíquicos.
As místicas, muito comuns no mst, cumprem, entre outros, um papel de fortalecimento de identidades coletivas, quesito fundamental para uma ocupação de terra por exemplo, já que se não se confia no companheiro ao lado tal tarefa se torna insustentável. No entanto, como um libertário eu pergunto: até que ponto estas místicas não reproduzem idéias e valores nacionalistas, centralizadores e dirigistas? Estou escrevendo um trabalho amador sobre o tema e em breve tornarei ele público para o debate.
Antes de tudo, achei o comentário de Eduardo Tomazine tão interessante quanto o artigo e acho que o autor poderia desenvolvê-lo melhor em um novo texto. Sim, é um pedido!
No mais, esse é um tema que andou me interessando muito ultimamente e, claro, me deparei com pouquíssimas coisas escritas que me ajudassem a entender os problemas psicológicos, se assim podemos chamá-los, que afetam os militantes de esquerda. Talvez seja porque realmente não estamos preparados para entender a questão, ou talvez seja porque ele não é exclusividade nossa e estamos chegando atrasados na questão.
Qualquer um que participa de uma organização que sustente uma luta social qualquer vê a depressão dos seus militantes como um dos maiores problemas para o desenvolvimento das lutas. A partir daí, claro, eu tendia a chegar à conclusão oposta a que chegou o artigo de Marco, a saber: que a luta social, do jeito que está sendo feita, leva os seus sujeitos a um estado de degradação psicológica muito mais acentuada do que o normal, por mais que em muitíssimos casos os levem a uma situação material melhor. Bom, depois de me afastar por um tempo das lutas sociais concretas (porque a gente nunca se afasta por completo delas, mas só do seu cotidiano), e me adentrar em outros espaços organizativos com pautas e estruturas organizativas aparentemente distintas das organizações pautadas nas lutas sociais, entretanto tidas como marginais, percebi que a depressão e outras doenças/distúrbios da psique são tão ou até mais incidentes nestas organizações. Depois, então, passei a me perguntar se em outros espaços mais conservadores e que buscam seguir a lógica organizativa hegemônica e que em nenhum momento buscam questionar a sociedade (por exemplo, uma empresa ou um órgão da administração pública, ou a organização do tráfico de drogas ou um partido político de estrutura leninista) estas questões não seriam tão fortes quanto nos espaços dos quais eu tinha algum tipo de experiência. Claro, como freqüentei a universidade, tenho mais conhecidos nestes espaços do que naqueles primeiros, e como passei a ficar curioso e atento ao assunto, vi que por lá o nível de depressão me pareceu tão alto quanto nas organizações sociais. Então a qual conclusão eu posso chegar? Exatamente a nenhuma! Eu nem sequer poderia dizer que nas organizações rígidas e hierarquizadas havia uma preocupação menor com esses aspectos do que nas organizações das lutas sociais, porque nos dois casos o problema maior é o da produtividade, e eles de lá, das empresas, sabem lidar com isso muitíssimo melhor do que a gente.
O primeiro a se fazer, se eu quiser responder a esta questão (a saber: se nas organizações das lutas sociais de alguma forma a depressão e outras questões de ordem psicológica se apresentam de forma diferenciada em relação às outras estruturas organizativas) é fazer algum tipo de levantamento que busque me mostrar se um espaço é ou não mais propício ao surgimento de problemas de ordem psicológica e individual do que em outros. No “olhômetro” eu não vejo como chegar a conclusão nenhuma.
Mas a observação tem muita validade, antes que alguém diga que disse o inverso, até porque é a partir dela que decidimos o que vamos estudar. Daí, por exemplo, eu concordo com o artigo (na base sempre da observação), de que a luta social “cura”, desde que sejam separados aqueles que começaram agora a lutar dos que já estão organicamente (eu nunca vi sentido nesta expressão, mas serve pra dialogar nos meios de esquerda) inseridos na luta. Tenho pro base os sujeitos do meio estudantil e das ocupações de sem-teto não organizados antes das ações que os convidam à militância e à posterior organização. É nítido pra mim que nesses sujeitos, já no primeiro contato com as lutas sociais, há uma alegria contagiante em todos, que pode parecer o oposto da depressão (talvez até seja, vai lá saber). Claro, pra uma quantidade considerável deles, o isolamento social em que se encontravam é rompido com a participação política e organizativa. Mas depois desse primeiro momento e em conseqüência às primeiras derrotas e logo depois com a derrota definitiva daquela luta (sejamos honestos conosco: quando alguém entra numa ocupação, o que ele quer é ganhar aquele terreno, e não fazer revolução socialista!) um outro tipo de depressão se manifesta nos seus militantes. Eaí parei pra pensar em inúmeras vezes se não é uma depressão pior do que a que esses sujeitos viviam antes. Ter consciência do que lhe aflige e se sentir impotente diante disso, já que fez o que poderia ser feito, é o que caracteriza essa nova depressão. Aliás, tem um filme que se visto sob esta ótima me parece bem interessante, que é o “Lixo Extraordinário”. Está colocado este debate lá de alguma forma, inclusive a responsabilidade das vanguardas nessa dinâmica de motivação/decepção dos militantes.
Enfim, não falo essas coisas todas pra desmotivar que participemos das lutas. Pelo contrário. Escrevo essas coisas para melhorá-las, para temos mais clareza onde nos metemos e, daí, podermos fazer algo melhor do que já estamos fazendo. Dizer que a luta é um espaço terapêutico pode ser um caminho bem fácil para não encararmos os dilemas que estamos enfrentando. Terapeutico durante três ou quatro meses? E depois, como lidar com a frustração coletiva? E quando temos que nos organizar, nos enfiar no dia-a-dia de responsabilidades, de ter que abrir mão de muitas coisas pra poder “tocar” a luta, será que ficamos realmente felizes, de boa com a gente?
Tinha outras coisas a dizer, mas como eu mesmo me encho dos comentários gigantescos…
Acho importante delimitarmos uma diferença entre o que me parece uma psicologia das lutas sociais, ou seja, um sentimento coletivo que perpassa os atuantes em determinada luta e a psicologia individual de cada pessoa que milita.
Sempre que se coloca essa questão da mística nos espaços, numa perspectiva de amparo psicológico aos militantes – e ai não durante a luta – tenho certa dificuldade em não relacionar esse aspecto com as origens católicas dos movimentos campesinos. Sempre que participo, me sinto retornando aos rituais semanais das missas de minha infância e que me remetem, necessariamente a adoração de símbolos que expressam hierarquias bem claras e uma inventividade demasiado extensa para alguém que é desejoso de ser um materialista. Acho que na atuação cotidiana faz-se necessário esse tipo de apego as origens religiosas por ainda não nos termos dado conta de o quão material – e real – é a nossa luta. Entretanto, outro aspecto bem diferente ocorre quando a ação está para ocorrer, ou seja, quando a subjetividade é pautada pela materialidade do embate direto contra nossos algozes. Justamente quando estamos focados na ação, o amparo psicológico da mística se torna obsoleto frente ao material e concreto posto que é a luta e todas as suas derivações.
Outro problema são as dificuldades psicológicas individuais dos militantes que já entram nos espaços de luta com objetivos outros que não sejam a materialidade da ação e da construção de uma sociedade para além do capitalismo. Querem fazer parte de algo maior, fazer novos amigos ou curar sua timidez… Enfim, já ouvi diversas trajetórias de pessoas que se decepcionaram por conta disso,de não entender nem buscar a materialidade da luta, e sim quererem resolver seus problemas individuais nesses espaços, buscarem alento individual na “mística”. Isso nada mais é do que o problema da exploração desmedida do sistema refletida no psicológico das pessoas que se inserem nas organizações e não reflexo de estruturas mais ou menos heterogestionadas.
Foi em Recife onde aprendi a origem da mística nos movimentos sociais. Numa reunião com uma liderança do MTST que por acaso também é pastor (ou religioso de algum tipo), estava no chão um conjunto bem-disposto de bandeiras, frutas, folhas, farinha de pupunha, pé-de-moleque, jornais, revistas, livros etc. Ao apresentar-se, com grandes arroubos oratórios, esta liderança relembrou sua formação enquanto militante, que se deu inclusive naquele mesmo convento onde realizávamos o encontro (a hospedagem nas casas da Santa Madre é sempre mais barata que hotel). E apontou para o chão: “… e vejo que vocês mantém esta origem, olha as sementes, as frutas, toda esta linda simbologia do altar que vocês fizeram…” Caiu a ficha.
Não nego que a mística sirva para, de alguma forma, resgatar para os presentes certa ligação com as lutas do passado e ativar mecanismos afetivos de vinculação às lutas. Mas seria o rito católico o único possível?
Dialogando com Caribé, lembrei de tudo o que já vi e vivi nas lutas de que participei. E a situação é tal e qual ele desenha: disciplinadíssimos leninistas amarrados pela tarja-preta, ex-militantes de CEBs afogados no álcool, suicídios rápidos e suicídios a conta-gotas… Nada disto é assim tão “anormal” quanto parece.
Mas sabe quando isto, de alguma maneira, melhora, ou fica “menos pior”? Justamente nos períodos mais ativos e coletivos das lutas. No início das ocupações de terra (no campo e na cidade), quando as assembleias são frequentes, tudo ainda está por construir, toda ajuda é boa, e todos metem a mão na massa. Isto vai durando até as primeiras mobilizações, as primeiras caminhadas, as primeiras paralizações de trânsito…
E se tais iniciativas não resolvem a questão imediatamente, há um desânimo, uma sensação de que não adianta… e começam a surgir, deste desânimo, os embriões do apassivamento das “bases” e da consolidação da “vanguarda”, da “minoria ativa”, daqueles que tomam a frente das coisas, como um grupo de pessoas que tem o telefone do gabinete de Dr. Fulano; que conhece Sicrana e Beltrana que estudam na universidade e ajudam a fazer algumas mobilizações em troca de apoio a alguma atividade estudantil; que conhecem as técnicas necessárias para mobilizar as pessoas por qualquer motivo, dos mais legítimos aos mais absurdos; enfim, a consolidação deste grupo como uma elite cada vez mais separada daqueles com quem construíram a ocupação, a luta, o movimento. Dadas certas condições em processos de luta, é o que termina acontecendo quase invariavelmente. Depois disso, iniciado este processo, tome-lhe mística, tome-lhe Igreja Universal e tome-lhe Rivotril.
A solução para a questão estaria numa “ginástica revolucionária” estilo CNT-FAI, fazer mobilização atrás de mobilização até a vitória, sempre? Tenho cá minhas dúvidas se algum movimento nas atuais condições — na verdade, falo das pessoas que o integram — suportaria ritmo tão puxado. Só penso que qualquer iniciativa que resgate a dignidade humana daquelas pessoas que comem o pão que o diabo amassou nos processos de luta mais duros passa pela ruptura com este processo geminado de apassivamento/elitização.
Tomemos um trecho do comentário do Allan: “Outro problema são as dificuldades psicológicas individuais dos militantes que já entram nos espaços de luta com objetivos outros que não sejam a materialidade da ação e da construção de uma sociedade para além do capitalismo.” Essa é uma boa demonstração de uma dicotomia que não impera só entre os liberais: de um lado, indivíduo; do outro, a sociedade. Além de ser uma boa prova de um materialismo dos mais rasteiros – mesmo para os materialistas. Dois problemas: 1) a constituição psíquica de cada um (inclusive destes que pretendem construir a sociedade para além do capitalismo) é um produto da relação deste cada um com a sociedade que lhe constitui; 2) se a única forma de lutar contra o sistema de opressão é desenvolvermos, desde já, as relações que desejamos generalizadas na sociedade de amanhã, como poderia o espaço da luta não representar também um espaço onde tentamos superar, usando os termos do Allan, “as dificuldades psicológicas individuais dos militantes”? Eu não diria amigos, mas seu eu não puder fazer bons companheiros na revolução, então essa não é a minha revolução, camarada!
A sensibilidade psicológica que deve ser assimilada por uma organização revolucionária, no meu entendimento, deve levar em conta, claro, o acompanhamento e tratamento das disfunções causadas pelos embates da luta (pressão da polícia, dos capangas, da milícia; o risco de perder a casa, o emprego etc.); mas também daquelas que vêm de casa, da fábrica, da sala de aula, da rua e, frequentemente, dentro das próprias organizações e costumam ser tomadas, infelizmente, como as “dificuldades psicológicas individuais dos militantes”. Ora, mesmo que não tenhamos um psicanalista ou um terapeuta de plantão nas nossas organizações e demais espaços de luta (como temos advogados – afinal, as leis são materiais…), prestar atenção nesses aspectos deve entrar na nossa agenda se não quisermos ser alienados nessa esfera de constituição do ser humano. Como fazer isso é uma boa pergunta. Acho que o Marco (nosso Frantz Fannon inserido no movimento sem-teto/terra) vai trazer uma tentativa de resposta na próxima parte do artigo…
Sobre o interessante problema apontado pelo Manolo – essa “lei de ferro” de criação de uma elite de militantes em contraste ao esmorecimento da base -, posso apontar duas razões (entre outras) que podem estar por trás disso. Uma é a ênfase desmesurada sobre as conquistas materiais da luta, o que pode implicar frustrações. A outra é prima da primeira, que é a projeção da luta para uma “vitória final” (que consta até como verso da Internacional…), um tudo ou nada que, também, costuma acabar em frustração. Não quero, absolutamente, desprezar a importância das conquistas “materiais”: terra, casa, aprovação de uma lei progressista etc. Por outro lado, se a luta for, desde já, um espaço mais humano que queremos ver generalizado para o amanhã, e se considerarmos ganhos de auto-estima como conquistas, então talvez seja possível, no âmbito de organizações libertárias, diminuir essa tendência ao descolamento das bases.