“Já era chegada a hora de, neste País, se ‘baratear o que é caro’ e ‘encarecer o que é barato’” Por Passa Palavra
O negócio da cultura, a cultura como negócio: “A gente precisa entrar nessa também”
Ao ser convidado, durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, para compor o Ministério da Cultura, Gilberto Gil participou de uma reunião no Palácio da Alvorada para conhecer melhor a proposta. No entanto, descontente com a não negociação de uma exigência ambiental — a nomeação dos super-intendentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) –, rejeitou o cargo naquela ocasião. Já se vê pelo ocorrido que a preocupação de Gil com as questões ligadas ao meio ambiente — compartilhada por Juca Ferreira, seu sucessor ministerial — foi central na sua filiação ao Partido Verde, no estado da Bahia [1].
 A vida parlamentar de Gilberto Gil foi influenciada pela revisão política realizada por Mikhail Gorbachev, nos anos 80, “porque se por um lado havia toda uma crítica da esquerda ao capitalismo e às formas perversas de gestão capitalista da sociedade, por outro lado faltava às esquerdas a autocrítica sobre o lado difícil do socialismo real”. Desta forma, a sua ação política passaria por “novas formas de política, formas criativas de política, formas artísticas […]. Fazer política é fazer uma arte.” [2] Destacava-se a importância da autocrítica como um caminho fundamental para a possibilidade de desenvolvimento de uma “gestão criativa”, bem como para o enfraquecimento e desmantelamento de uma estrutura burocrática.
A vida parlamentar de Gilberto Gil foi influenciada pela revisão política realizada por Mikhail Gorbachev, nos anos 80, “porque se por um lado havia toda uma crítica da esquerda ao capitalismo e às formas perversas de gestão capitalista da sociedade, por outro lado faltava às esquerdas a autocrítica sobre o lado difícil do socialismo real”. Desta forma, a sua ação política passaria por “novas formas de política, formas criativas de política, formas artísticas […]. Fazer política é fazer uma arte.” [2] Destacava-se a importância da autocrítica como um caminho fundamental para a possibilidade de desenvolvimento de uma “gestão criativa”, bem como para o enfraquecimento e desmantelamento de uma estrutura burocrática.
É então, com a chegada de Lula à Presidência da República, que Gil assume — ao contrário da opinião geral dos setores majoritários do Partido dos Trabalhadores (PT) — o Ministério da Cultura e Juca Ferreira assume como secretário-executivo. Se, por um lado, havia o “agente da contracultura”, como se autodefine Claudio Prado, é com a linha de Juca que se insere a proposta de economia criativa no âmbito das políticas públicas e se forma “a consciência de que tínhamos que ser arautos de um novo período, fundadores de um novo processo” [3]. Como motor de desenvolvimento nacional, a economia criativa devia ter a função de produzir valor agregado e transformar o país em produtor de um novo tipo de commodities. A diversidade não seria apenas um valor a ser buscado, mas uma matéria-prima necessária para sustentar essa economia e através do diálogo intercultural poder se realizar uma “democracia racial e cultural”.
As condições materiais passariam por atender não só uma classe econômica, mas por alargar o mercado consumidor interno integrando as classes C, D e E: “A inclusão social e econômica de milhões de brasileiros foi feita não só por solidariedade, mas também porque precisamos de consumidores. […] O mercado brasileiro precisa ter o tamanho da nação brasileira.” [4]
Ainda, para realizar tal transição, é necessário não só aprovar leis como o Plano Nacional de Cultura, da reforma da Lei de Direito Autoral e da modificação na Lei Rouanet, mas forjar um novo empresariado capaz de compreender as dimensões dessa nova economia. Como foi afirmado por Juca e reforçado por seu secretário-executivo (2008-2010), Alfredo Manevy, trata-se de uma política pública similar à dos Estados Unidos na década de 1930 com o New Deal, que incentivou a indústria nacional: “Essa [a economia criativa] é a segunda economia nos EUA desde meados do século passado. É a terceira economia inglesa. Não estamos inventando nada, só precisamos entrar em uma escala de valor agregado que até hoje está em segundo plano. E não nasce de geração espontânea. Nos EUA, foi fruto de uma ação pactuada entre o Estado, os empresários e os criadores. A gente precisa entrar nessa também.” [5]
Neste mesmo sentido fica mais fácil entender a ligação umbilical, desde o primeiro momento, da nova gestão cultural de Gil e Juca com a vanguarda do “open business” no Brasil. No papel que, por exemplo, entre tantas outras figuras, o antropólogo Hermano Vianna, fundador do Instituto Overmundo, passaria a desempenhar desde o momento em que Gil recebe o convite de Lula para assumir o Ministério [6].
 Para Juca, a orientação do Ministério da Cultura era um “projeto [que] não é dirigista, sufocante da iniciativa privada ou a sociedade. Pelo contrário, é empoderamento da sociedade e das empresas culturais, é desenvolvimento do acesso pleno à cultura e da economia da cultura” [7]. Assim, conforme anunciado pelo próprio ex-presidente Lula, o programa “Cultura Viva” foi o “carro-chefe” desta gestão presidencial, o qual foi estruturado em cinco eixos (Pontos de Cultura, Cultura Digital, Agentes Cultura Viva, Griôs – Mestres dos Saberes e Escola Viva), sendo os Pontos de Cultura o principal desse programa.
Para Juca, a orientação do Ministério da Cultura era um “projeto [que] não é dirigista, sufocante da iniciativa privada ou a sociedade. Pelo contrário, é empoderamento da sociedade e das empresas culturais, é desenvolvimento do acesso pleno à cultura e da economia da cultura” [7]. Assim, conforme anunciado pelo próprio ex-presidente Lula, o programa “Cultura Viva” foi o “carro-chefe” desta gestão presidencial, o qual foi estruturado em cinco eixos (Pontos de Cultura, Cultura Digital, Agentes Cultura Viva, Griôs – Mestres dos Saberes e Escola Viva), sendo os Pontos de Cultura o principal desse programa.
Na perspectiva da economia criativa, através do Estado, buscou-se a criação e constituição de uma cadeia produtiva independente das companhias transnacionais e dos oligopólios regionais da cultura. Como afirmamos no artigo A esquerda fora do eixo, planejou-se que se consumisse e produzisse a “autêntica” cultura brasileira cortando os antigos intermediadores. Por isso, a descentralização em forma de rede através dos Pontos de Cultura. Trata-se de uma nova forma não só de descentralizar o orçamento — cortando, assim, custos que seriam destinados para obras de infraestrutura como anfiteatros, centros culturais, entre outros e de recursos humanos –, mas também de prospectar as diversas manifestações culturais. Um verdadeiro mapeamento da diversidade cultural — fundamental para o desenvolvimento expansivo dos setores do capitalismo contemporâneo. “Hoje eu vejo campanhas publicitárias falando dessa diversidade cultural, tornou-se algo visível no Brasil, é motivo de orgulho. Isso é uma pequena contribuição que demos.” [8] A diversidade cultural “descoberta” é promovida através de um “Sistema de Propriedade Intelectual mais flexível, mais viável”, pois assim “seremos capazes de aumentar sua credibilidade e sua mais ampla aceitação como uma ferramenta fundamental para promover inovação, criatividade e desenvolvimento.” [9]
 Um processo também denominado por Gilberto Gil de “do-in antropológico”, por meio do qual seria possível potencializar “as ‘sinergias intermináveis’ que podem acontecer a partir do momento que estes espaços massageados comecem a liberar a energia produtiva reprimida pelo esquecimento social (…) [Afinal] já era chegada a hora de, neste País, se ‘baratear o que é caro’ (subsidiar tecnologia de ponta — e livre — para produção cultural na periferia), e ‘encarecer o que é barato’ (potencializar, dar visibilidade e viabilidade à real cultura brasileira )”. [10]
Um processo também denominado por Gilberto Gil de “do-in antropológico”, por meio do qual seria possível potencializar “as ‘sinergias intermináveis’ que podem acontecer a partir do momento que estes espaços massageados comecem a liberar a energia produtiva reprimida pelo esquecimento social (…) [Afinal] já era chegada a hora de, neste País, se ‘baratear o que é caro’ (subsidiar tecnologia de ponta — e livre — para produção cultural na periferia), e ‘encarecer o que é barato’ (potencializar, dar visibilidade e viabilidade à real cultura brasileira )”. [10]
Desse modo, o programa do Ministério da Cultura inseriu o país em diversos eventos internacionais que discutem a globalização, a cultura e os direitos autorais, tornando-se aí uma referência simbólica mundial. O objetivo é de utilizar a indústria criativa para acelerar o desenvolvimento nacional. Aliás, isso é uma das propostas da UNCTAD – Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.
No entanto, Juca Ferreira confessa a necessidade da “consciência do empresariado”, dados os limites ideológicos, e ilustra o caso num encontro com Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), quando os empresários presentes zombavam do presidente: “Quando a atenção se voltou para mim, eu disse: ‘Sou doido para fazer uma pergunta. Vocês nunca ganharam tanto dinheiro como no governo Lula e por que existe tanta dificuldade em aceitar?’. Eles foram obrigados a dizer que é o período mais promissor que já viveram e não conseguiram me explicar porque o presidente Lula deu uma contribuição irreversível para o desenvolvimento brasileiro, inclusive beneficiando os mais pobres e as elites.” [11]
Mas, ainda, é necessário que os “agentes econômicos nacionais e a elite brasileira operem o Brasil com grandeza e não apenas como escravo do passado. […] É preciso que a economia da cultura se torne uma economia pungente no Brasil, não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional.” [12]
Outra iniciativa que evidencia a importância da produção cultural para os gestores estatais é a realização, no dia 14 de junho de 2010, do Seminário “Produção de Conteúdo Nacional para Mídias Digitais” — organizado pela Secretaria de Estudos Estratégicos (SAE), órgão diretamente vinculado à Presidência da República. Na abertura desse evento, Samuel Pinheiro Guimarães, Ministro do SAE, explicou aos presentes que o seminário em questão era parte de um dos temas centrais a serem desenvolvidos pelo “Plano Brasil 2022” — responsável por traçar diagnósticos e fixar metas a serem cumpridas pelo conjunto de todos os Ministérios do Estado brasileiro até o ano em que se comemora o Bicentenário de sua Independência.
 Nesse mesmo seminário, vários estudiosos e profissionais da área apresentaram e discutiram uma diversidade de temas e abordagens sobre a indústria cultural brasileira. Dentre as exposições realizadas, a palestra O Espetáculo do Crescimento: a Indústria Cultural como novo motor do desenvolvimento na atual fase do capitalismo mundial, de Marcos Dantas — professor de pós-graduação da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) — é emblemática, como seu próprio título indica, do assunto que estamos a desenvolver nos artigos dessa série. Através de uma interessante discussão teórica, fundamentada por análises empíricas da dimensão da produção cultural de hoje no Brasil, Dantas chama a atenção para as potencialidades da cultura nacional se transformar numa das principais commodities da economia do país em sua fase recente de internacionalização.
Nesse mesmo seminário, vários estudiosos e profissionais da área apresentaram e discutiram uma diversidade de temas e abordagens sobre a indústria cultural brasileira. Dentre as exposições realizadas, a palestra O Espetáculo do Crescimento: a Indústria Cultural como novo motor do desenvolvimento na atual fase do capitalismo mundial, de Marcos Dantas — professor de pós-graduação da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) — é emblemática, como seu próprio título indica, do assunto que estamos a desenvolver nos artigos dessa série. Através de uma interessante discussão teórica, fundamentada por análises empíricas da dimensão da produção cultural de hoje no Brasil, Dantas chama a atenção para as potencialidades da cultura nacional se transformar numa das principais commodities da economia do país em sua fase recente de internacionalização.
Nesse contexto, Marcos Dantas afirma com convicção a seguinte ideia: “A conclusão é uma só: o Brasil precisa tratar a indústria cultural com a mesma visão estratégica como tratou, no passado, a indústria siderúrgica, a petrolífera, a automobilística, a de bens de capital e outras. Apenas querendo ser didático, embora podendo suscitar compreensíveis sorrisos condescendentes, seria o caso de acrescentar o C de cultura após o S de BNDES. O objetivo será fortalecer, nacional e internacionalmente, o poder de barganha dos produtores e programadores brasileiros, logo das marcas culturais brasileiras. Nisso, o Estado tem papel fundamental a cumprir”.
Mas, então, qual seria esse “papel fundamental” que o Estado deve cumprir? Segundo a perspectiva de Marcos Dantas, o Estado deve agir “não como mecenas, mas como legislador (para o quê, tem a Constituição ao seu lado!), estimulador, fomentador, até mesmo ‘cobrador’ de atitudes e práticas industriais da parte dos muitos agentes envolvidos nas cadeias produtivas de cultura em nosso país”.
Os articuladores da cultura
 Inspirados no festival holandês Next Five Minutes (N5M), coletivos brasileiros organizaram o Festival de Mídia Tática, o qual, realizado em 2003, incorporou diversos coletivos ativistas e “hacktivistas” das novas tecnologias [13]. O evento convidou o fundador da Eletronic Front Foundation (EFF), John Perry Barlow e contou com a presença do acadêmico Richard Barbrook, autor do livro Gift Economy, além do recém-empossado ministro Gilberto Gil. Sentado na plateia e observando o que acontecia ao seu redor, Cláudio Prado, ex-empresário dos Mutantes e dos Novos Baianos, teve a grande oportunidade de reencontrar o seu antigo amigo do movimento cultural tropicalista — justamente o ministro Gil.
Inspirados no festival holandês Next Five Minutes (N5M), coletivos brasileiros organizaram o Festival de Mídia Tática, o qual, realizado em 2003, incorporou diversos coletivos ativistas e “hacktivistas” das novas tecnologias [13]. O evento convidou o fundador da Eletronic Front Foundation (EFF), John Perry Barlow e contou com a presença do acadêmico Richard Barbrook, autor do livro Gift Economy, além do recém-empossado ministro Gilberto Gil. Sentado na plateia e observando o que acontecia ao seu redor, Cláudio Prado, ex-empresário dos Mutantes e dos Novos Baianos, teve a grande oportunidade de reencontrar o seu antigo amigo do movimento cultural tropicalista — justamente o ministro Gil.
Exilados pela ditadura civil-militar que iniciou no Brasil em 1964, o primeiro contato de Claudio Prado com os tropicalistas ocorreu em Londres, no final dos anos 60. Na época, Prado já havia feito bicos, como a experiência de guia turístico de uma empresa “mequetrefe” da Copa do Mundo de Futebol de 1966. Quando visitava o primeiro-secretário da Embaixada brasileira, Rubens Barbosa, ele conheceu Nelson Motta, o qual acompanhou para encontrar Caetano Veloso. Questionado por outros tropicalistas — “quem é esse cara?” –, desconfiou-se num primeiro momento que seria um policial para espionar os exilados. “Foi assim que os conheci”, mas, por intermédio da cena musical, Prado conseguiu estabelecer os laços com os novos no pedaço: “Eu estava começando a descobrir os porões, o underground. Eu já estava lá há algum tempo, fui me relacionando com eles, mas esse mergulho no mundo underground, que depois nos levou a começar a plugar isso nos festivais e descobrir porões onde estavam acontecendo coisas, foi o elo.” Sobre os festivais desta época, para Prado o objetivo e sentido era “de território liberado, o lugar onde você conquistava o direito de ficar pelado, viajar, tomar ácido, fumar, onde não tinha polícia”, isto, pois, era “um autogoverno, a política do êxtase” [14].
De volta a 2003, Cláudio Prado viu neste reencontro uma oportunidade real de realizar no Ministério da Cultura a sua ideia de articular música e tecnologia digital. Após uma tentativa inicial frustrada de obter a lista dos coletivos presentes, ele se viu obrigado a entrar em contato individualmente e convidou ativistas para conversas em sua casa. Seu principal objetivo com essa iniciativa era levantar um conjunto de pautas e iniciar um programa que seria apresentado ao Ministério da Cultura. Isso foi feito enquanto se aguardava a liberação do orçamento pelo governo federal.
 Enquanto isso, Gilberto Gil realizava um processo de reorganização do Ministério e formulava-se o esboço inicial do que seria uma política pública de cultura. Na visão de Gil essa era uma questão de grande complexidade e que precisava dar conta dos “novos problemas, com as novas tecnologias e a relação dessas novas tecnologias na vida cultural, tecnologias exaustivamente utilizadas pela produção cultural, como é o caso das tecnologias digitais” [15].
Enquanto isso, Gilberto Gil realizava um processo de reorganização do Ministério e formulava-se o esboço inicial do que seria uma política pública de cultura. Na visão de Gil essa era uma questão de grande complexidade e que precisava dar conta dos “novos problemas, com as novas tecnologias e a relação dessas novas tecnologias na vida cultural, tecnologias exaustivamente utilizadas pela produção cultural, como é o caso das tecnologias digitais” [15].
Dois meses depois do contato com Gil, Claudio Prado pressionava para o Ministério participar dos eventos relacionados ao Software Livre. Como não delegaram um representante, ele se passou como representante oficial do Ministério da Cultura no evento em Brasília de Software Livre, a Segunda Oficina de Inclusão Digital, em maio de 2003. A situação se repetiu no Fórum Internacional de Software Livre (FISL), e dessa forma começaram a enxergá-lo como alguém do governo, já que era ele quem o representava nos eventos. Sendo reconhecido como porta-voz e “cansado de esperar”, Prado se autonomeou “Coordenador de Políticas Digitais” e fabricou seu próprio cartão com um carimbo do Ministério. Segundo ele, de tanto entrar e sair, as pessoas do Ministério poderiam jurar de pé junto que ele trabalhava lá. Porém, como ele mesmo confirma, isso não é verdade; Claudio diz ter “hackeado” o Estado, isto é, “subverter” a lógica das políticas públicas, alterar por dentro uma “ideia careta”. E, através do jargão da contracultura, Prado falava em “conspirar” dentro do governo.
A ideia de “hackear” o Estado é muito presente dentro do campo político relacionado aos coletivos que circulam nas discussões e eventos da cultura digital. Em debates virtuais e encontros presenciais, foi questionado se isto não seria cooptação ou “domesticação” e, ainda, colocaram como “paradigma” a realização da política do próprio coletivo, autônoma ao Estado — mas não do mercado. Em parte, essa discussão levou a um “racha” interno criando discordâncias e acusações entre coletivos e indivíduos que participaram do Ministério da Cultura e em programas de outros Ministérios, como no de Comunicação.
Por 18 meses, além das reuniões em seu apartamento, Prado formou no Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP o grupo autodenominado “Articuladores” e numa wiki formulou-se de forma colaborativa a “política pública revolucionária” que, segundo ele, contou com a participação de mais de 80 pessoas. Nas reuniões discutiam-se propostas para sair do “gueto” e se tornar a “vanguarda do mundo da web 2.0”.
 Nesse processo Prado passou a circular nas atividades de coletivos como no Encontro de Rádios Livres, na Unicamp. Assim possibilitou-se a atualização da contracultura hippie com o discurso pós-moderno e “era da informação” — oriundo das teorias midiocêntricas — presente em muitos dos coletivos como Mídia Tática, Rizoma.Net, Mídia Sana e Projeto Metáfora. Prado define-se hoje como um hippie digital, ou não.
Nesse processo Prado passou a circular nas atividades de coletivos como no Encontro de Rádios Livres, na Unicamp. Assim possibilitou-se a atualização da contracultura hippie com o discurso pós-moderno e “era da informação” — oriundo das teorias midiocêntricas — presente em muitos dos coletivos como Mídia Tática, Rizoma.Net, Mídia Sana e Projeto Metáfora. Prado define-se hoje como um hippie digital, ou não.
O Ministério da Cultura passou a ser analisado por Prado como um “guarda-chuva” das políticas digitais, as quais foram divididas em duas grandes frentes: a primeira, de trazer as discussões das implicações do digital e do direito autoral; a segunda, da apropriação da tecnologia na prática, a qual foi traduzida no projeto dos Pontos de Cultura.
Sobre a flexibilização do direito autoral, Prado afirma que o primeiro mundo não consegue desconstruir essa ideia e isso afeta o desenvolvimento deles. Porém, nos países periféricos, onde a legislação trabalhista e o direito autoral “está longe”, já que a maioria dessas pessoas vive oficialmente desempregada e se sustenta através do trabalho informal e uma vez que nem sequer possui contato com essas ideias do “século XX”, fica muito mais fácil de se assimilar os modelos de novos negócios.
Para Prado, como a população periférica está acostumada a “se virar” para se sustentar, o programa Ponto de Cultura veio reforçar essa capacidade de “se virar”; “eu e o Gil chamamos de sevirismo”. Em documento do Cultura Digital, elabora-se a definição de “sevirismo” como de “articular uma compreensão cultural e política de viabilização de uma nova cidadania digital na qual o acesso democrático ao conhecimento, aos meios de produção e à difusão da criatividade se dá a partir da apropriação de tecnologias que propiciam soluções de economia criativa.” [16]
No final da gestão do ministro Juca Ferreira, e com o fim da Era Lula, como não se tinha certeza do que viria pela frente na gestão Dilma, esse campo que orbitava o ministério passou a se organizar e planejar um “governo paralelo”, capaz de influenciar a próxima gestão principalmente com os projetos dos quais eles são os gerentes e dominadores do discurso, pois são eles próprios que o formulam conceitualmente. Dessa forma, nasce a Casa de Cultura Digital, em São Paulo, denominada por alguns deles como um “bunker”, mas por outros como um espaço de co-work [17] das “empresas 2.0”.
O velho, o novo e o novíssimo
Há o novo e o velho. Há aqueles que, apavorados com o novo, proclamam que não passa de uma miragem. E há aqueles que, deslumbrados com o novo, esquecem que têm raízes. Não se trata aqui de recordar que além da ciberatividade existe o trabalho de mãos e pés e dorso vergado, porque o começo de uma tecnologia coexiste sempre com o fim de outra e pode argumentar-se que o importante é discorrer sobre as linhas de tendência que virão a hegemonizar o futuro. Pois bem, é o que vamos fazer.
Temos então uma atividade informática que surgiu no quadro do capitalismo e não resultou de nenhum movimento exterior a esse quadro, não foi uma nova tecnologia criada por um qualquer cataclismo social que tivesse inventado uma sociedade nova. Mas respondem-nos que por aí mesmo estamos a mostrar o nosso arcaísmo, que esta é uma maneira velha de encarar a questão, uma maneira pré-, e que agora se vive na maneira pós-, que agora já não é a sociedade a criar uma nova tecnologia mas a nova tecnologia a criar uma sociedade. Dizem-nos que enquanto andarmos com as nossas teimosias e participarmos nas lutas sociais estaremos a fazer as coisas no lugar errado, porque é na internet agora que se inventa a toda a hora, a todo o minuto, a sociedade nova e diferente e livre.
Mas argumentos assim deixam-nos imobilizados de espanto ou contorcidos de riso, depende do carácter de cada qual, porque não há nada mais vetusto do que esse tipo de teses. No capitalismo não surgiu até agora uma grande inovação tecnológica que não tivesse sido apresentada por muitos como constituindo a ultrapassagem de todos os constrangimentos sociais. A humanidade iria enfim libertar-se da servidão do trabalho e da exploração graças à eletricidade, graças à agricultura científica, graças à produção de massa, graças à automatização e aos robots. Todas as novas tecnologias, inclusivamente o taylorismo, tiveram os seus poetas líricos e os seus prosadores proféticos. E para que a série se repita agora basta uma coisa — ignorar a história.
Não é outro o motivo por que insistem com tanta persistência que a informática provocou uma ruptura tal que deixa a história sem valor no presente. Só ignorando a história, e com esta indispensável condição, é que alguém pode acreditar que uma tecnologia invente uma sociedade e que este seja um programa nascido agora pela primeira vez. Mas a ideia de que a aplicação da eletricidade aos meios de produção constituía o fundamento de uma sociedade nova e emancipadora foi o programa da tecnocracia nos alvores do século XX, tanto na área do socialismo como nas margens mais progressistas dos governos daquela época. E deu no que deu. O mesmo com o resto.
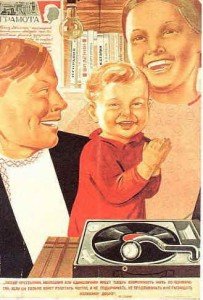
Se evocarmos o stalinismo todos pensam em muito goulag e pouco goulash, mas esquecem a outra face, que neste caso é o verdadeiramente importante. A partir da transição da década de 1920 para a década de 1930, com o lançamento dos Planos Quinquenais e a realização do Socialismo Num Só País, o stalinismo foi uma colossal operação de engenharia baseada no mito de que a novidade técnica haveria de criar uma sociedade nova. Leiam a literatura política e econômica do stalinismo, e quem não tiver paciência para tanto veja o cinema soviético daquela época, e quem não o encontrar procure no Google as imagens de propaganda, e quem tiver um gosto verdadeiramente perverso leia os romances escritos de acordo com as diretivas do Partido — os outros ficaram então na gaveta — e verão que se tratou de uma enorme apologia à novidade técnica e da promessa de que essa técnica abriria as portas de um paraíso povoado por operários musculosos, camponesas robustas e criancinhas bochechudas.
Mas nunca, até hoje, as inovações tecnológicas trouxeram uma novidade social que não consistisse na reestruturação do sistema de exploração. E é para isto mesmo que chamamos a atenção no artigo A esquerda fora do eixo e nesta série de artigos Domingo na Marcha. Resumido ao fundamental, pretendemos mostrar que a informática, assim como possibilitou novos utensílios de luta, abriu igualmente vastos espaços à ação empresarial. É isto que temos dito e que estamos agora a dizer.
Mas há quem aguarde nós chegarmos a este ponto do discurso para nos lançar outro argumento. É que, pretendem, as lutas e os confrontos estão agora ultrapassados. São pré-, e nós vivemos no pós-. A informática dispensaria as lutas, as lutas da velha toupeira e as da cacetada nas ruas, porque permitiria hackear o Estado. Em matéria de hackers, porém, não foi necessária a informática e há um século atrás, como este site recordou, Léo Taxil conseguiu penetrar no mais fechado e secreto dos Estados, o do Vaticano, na mais fechada das instituições, a Igreja Católica. Taxil já morreu, mas o Vaticano e a Igreja de Roma ainda aqui estão. Muito recentemente o WikiLeaks conseguiu penetrar não num Estado mas num grande número deles. Todos nós nos entusiasmamos com este feito, todos nós tentamos, na medida das nossas curtas possibilidades, colaborar na defesa de Assange quando ele foi vítima de uma armadilha policial. Mas o que sucedeu em seguida? Nada.
Não sucedeu nada porque os movimentos de luta contra o capitalismo não estavam e não estão preparados para se aproveitarem de algo com a dimensão do WikiLeaks, como não sucedeu nada há um século atrás porque os movimentos de luta contra a superstição e a opressão moral não estiveram à altura da subversão conseguida individualmente por Léo Taxil. Continuando a resumir-nos ao fundamental, é precisamente para isto que chamamos a atenção no artigo A esquerda fora do eixo e nesta série de artigos Domingo na Marcha. Transformar Marchas — todas ou algumas delas — de mobilizações de luta em espetáculos capitalizáveis por um empresário mostra a realidade subjacente à pretensão de hackear o Estado. Não se trata de um discurso vazio. Muito pior do que isso, trata-se de um discurso perverso.

A primeira pessoa que anunciou que tinha hackeado o Estado — com outras palavras, porque os hackers ainda estavam longe de existir — foi Alexandre Millerand, em França, em Junho de 1899, o primeiro socialista a entrar num governo burguês, como então se dizia. O caso criou um enorme escândalo, de um lado e do outro, e durante muito tempo foi esta a linha de clivagem dos socialistas, se podiam ou não participar em governos burgueses. Mas a argumentação com que Millerand e os seus incontáveis imitadores se defenderam é em tudo semelhante à que usam hoje os pretensos hackeadores do Estado, a tese de que por dentro é que se mudam as coisas.
Na realidade, porém, uma vez lá dentro são as pessoas que mudam. Como todos nós bem sabemos ao vermos o percurso de tantos antigos companheiros. Além de não libertar a sociedade, a informática não destrói também os mecanismos do poder.
Mas para quê toda esta discussão? Poderiam os empresários de negócios e os empresários de departamentos acadêmicos alguma vez estar interessados em destruir o fundamento último das relações de exploração? Poderiam os que se sentem embevecidos e atraídos pelas margens do poder político alguma vez estar interessados em destruir o fundamento último das relações de opressão?
(Continua aqui)
NOTAS
[1] Quando regressa do exílio, Juca Ferreira filia-se ao PV, sendo eleito vereador por duas vezes. Além disso, ele dirigiu a Fundação Ondazul, criada pelo Gilberto Gil, sendo conhecido regionalmente pela sua militância no movimento ambientalista.
[2] Gilberto Gil – Entrevista realizada por Produção Cultural no Brasil.
[3] Gilberto Gil – Entrevista realizada por Produção Cultural no Brasil.
[4] Juca Ferreira – Entrevista realizada por Produção Cultural no Brasil.
[5] Juca Ferreira – Entrevista realizada por Produção Cultural no Brasil.
[6] História remontada pela pesquisadora e co-partícipe deste processo, Eliane Costa, em sua dissertação “Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje”: o Ministério da Cultura, na gestão Gilberto Gil, diante do cenário das redes e tecnologias digitais”.
[7] Juca Ferreira – Entrevista realizada por Produção Cultural no Brasil.
[8] ibidem.
[9] “Pronunciamento do ministro Gilberto Gil durante o Seminário sobre Economia Criativa organizado pelo Britsh Council”, 06/12/2005. Disponível aqui.
[10] Trecho extraído daqui.
[11] Juca Ferreira – Entrevista realizada por Produção Cultural no Brasil.
[12] ibidem.
[13] Hacktivistas preparam megaevento em SP.
[14] Claudio Prado – Entrevista realizada por Produção Cultural no Brasil.
[15] Gilberto Gil – Entrevista realizada por Produção Cultural no Brasil.
[16] Trecho extraído de “CULTURA DIGITAL 2007-2010 – UM PROGRAMA DO MINC”. Disponível aqui.
[17] A proposta de um espaço físico “colaborativo” é justamente para capturar as externalidades positivas dos envolvidos nessas iniciativas.








Toda essa discussão sobre os negócios culturais me faz lembrar uma cena do filme “O Príncipe” (2002), de Ugo Giorgetti, em que um empresário da cultura tenta mostrar ao seu amigo, recém retornado da França, as “maravilhas” desse nascente filão de mercado no Brasil.
A cena pode ser vista aqui: http://www.youtube.com/watch?v=rxT1aASJO48
Esse Hermano Vianna não é um dos principais ideólogos e roteiristas dos programas Central da Periferia ( http://www.overmundo.com.br/download_banco/central-da-periferia-texto-de-divulgacao ) e Esquenta! ( http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquenta! ) da Rede Globo de Televisão???
Não era ele que também estava por trás daquele projeto do “Blog de R$ 1,3 Milhões”, aprovado pelo MINC/Rouanet, para publicação de poesias recitadas por Maria Bethânia ( http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/03/18/hermano-vianna-colunista-comenta-polemica-envolvendo-blog-de-maria-bethania-924039639.asp )???
Qual a novidade, e qual o caráter libertador deste tipo de proposta? Quem realmente tá ganhando com isso?
O Passa Palavra acende uma perigosa, fundamental e necessária faísca nas dsicussões sobre políticas públicas culturais, ativismo e lutas sociais! – esse barril de pólvora. E o faz na hora certa, com precisão e com propriedade!
Neste artigo exclusivamente, sinto que o relato sobre a trajetória de Cláudio Prado e suas relações com o Ministério acaba soando como elogioso, embora faça a ressalva de que o pensamento por ele defendido (junto com seus interesses) estava inebriado de falta de “olhar para trás”, de sacar a história (e as lições que hoje já deveríamos ter assimilado).
Prado realmente hackeou o Estado, e não obstante qualquer interesse mais obscuro, os resultados das políticas de Cultura Digital não são desprezíveis – embora não representem solução alguma para que vê no capitalismo a raiz essencial do problema humano conteporaneo – ao contrário, hackeando-o, o fortalecem e o renovam…
Enfim, creio que o Passa Palavra, sendo radical (como deveríamos ser todos nós: radicais – com raiz e que vai até a raiz das coisas) assume a luta frontal e sem concessões contra um sistema assumidamente perverso. – Assim, ou somos contra o capitalismo, ou somos necessariamente a favor dele. Quem não ajunta, espalha! – E na era da informação, precisamnete quando é mais fácil sacar como o sistema funciona em seus mais secretos (ou ocultados) porões – nesta era, deve ser impossível não reagir com radicalismo e decisão. Conhecer a perversidade exige uma posição: ou somos contra, ou a favor.
Nisso o Passa palavra está de parabens: pergunta – qual a nossa posição?
Prezados,
De http://www.quadradodosloucos.com.br/1691/dormindo-na-marcha-3/, compartilho:
Cada vez mais fica clara a referência teória do Passa Palavra. Em 1987, o teórico marxista e capo militante João Bernardo escreveu Capital, Sindicatos, Gestores (1987). Nesse livro, expõe a sua teoria dos gestores — burocratas do estado ou gerentes/executivos de empresas. Os gestores não integram a classe proletária, servem como altos funcionários do capital e são centrais para a cooptação do movimento operário. Em síntese, “A partir do momento em que são os gestores que comandam incontestadamente o capitalismo, é o antagonismo entre eles e a classe operária que passa para primeiro plano.” (p. 9).
No Brasil, o sociólogo do trabalho Ricardo Antunes, fundador e intelectual orgânico do PSOL, em Adeus ao trabalho? (2008, 15ª ed.), entre outros, compartilha de tese semelhante, tomando por objeto de estudo o sindicalismo: “Uma tendência crescente de burocratização e institucionalização das entidades sindicais, que se distanciam dos movimentos sociais autônomos”, com consequente “distanciamento cada vez maior de ações anticapitalistas e perda da radicalidade social” e “incapacidade para desenvolver e desencadear uma ação para além do capital” (p. 70). Logo a seguir, em nota de fim de capítulo, elogia João Bernardo, que “levou ao limite esta crítica, mostrando, não sem boa dose de razão, que os sindicatos tornaram-se também grandes empresas capitalistas, atuando, enquanto tal, sob uma lógica que em nada difere das empresas privadas. (p. 75)
Essa matriz é então utilizada para identificar uma lógica de gestão empresarial capitalista, seja no coletivo Fora do Eixo, no Instituto Overmundo, na Casa da Cultura Digital e, generalizando, no amplo e heterogêneo espectro de grupos e coletivos organizados ao redor de editais e programas do ministério da cultura no governo Lula, com Gilberto Gil (2003-08) e Juca Ferreira (2009-10).
Na ótica do Passa Palavra, tais grupos não passam de “ativismo empresarial”, sob o ponto de vista do trabalho. Disfarçam-se de inovação, militância 2.0 e discurso revolucionário para fazer o mais do mesmo: a exploração capitalista do trabalho. Assim, cooptam energias rebeldes da juventude, usurpam as bandeiras da esquerda e agem como colaboracionistas para o desenvolvimento de um novo capitalismo de redes e fluxos. A disputa entre esses movimentos político-culturais 2.0, de um lado, e a indústria cultural, ECAD, IIPA, SECULT-PT e medalhões, do outro, não vai além de uma briga interna ao capital, entre os exploradores fordistas e os pós-fordistas. Sim, é o novo contra o velho, porém todos inteiramente atrelados à lógica do capital e sua mercantilização da cultura. O Overmundo, o Fora do Eixo, o Creative Commons, a Casa da Cultura Digital, os Pontos de Cultura em geral, tudo isso não é anticapitalista o bastante, apesar da propaganda. Falta tensão dialética, falta luta de classe, falta rancor. Basta analisar a dinâmica produtiva do Tecnobrega, para ali perceber a formação de uma indústria desigual, da divisão social e de um regime de acumulação. Se esse é o “novo modelo de negócios”, nada mais capitalista, logo injusto.
Na realidade, para o Passa Palavra, todas essas iniciativas sob crítica são ainda outra vez capitalismo — um capitalismo mais profundo e abrangente. Não admira o rapper Emicida vender a sua contracultura e atitude irresignada e se tornar o garoto-propaganda do Banco Itaú. Nem tantos slogans de “responsabilidade social” ou “consciência ambiental” na publicidade empresarial. Starts with you! O capitalismo cognitivo, enfim, não vende produtos, mas mundos em que esses produtos existem. Isso já se conhecia desde as sofisticadas propagandas de cigarro nos anos 1980/90, em que todo um modo de vida modernoso era engendrado para cada marca.
Assim como a geléia geral da contracultura dos anos 1960 terminou reapropriada pela ordem capitalista, o pós-modernismo se integrou inteiramente ao fetichismo da mercadoria na sociedade de consumo. Daí o rancor dos textos, quando os novos gestores e empresários, e o Fora do Eixo em especial, tentam capitalizar simbolicamente em cima das marchas das liberdades. Pior do que isso, agora os gestores não fazem mais nada, limitando-se a capturar o ciclo produtivo de fora, chamando-o malandramente de “externalidade positiva”. Nada mais vampiresco. Eis a origem da necessidade de denunciá-los, de expô-los como traidores da classe, colaboracionistas em pele de cordeiro.
Afinal, vocês, ativistas 2.0, não passam de acadêmicos new age deslumbrados e empresários da novidade-que-veio-dar-à-praia, em qualquer caso distantes da verdadeira revolta que move os oprimidos e alimenta o motor das rupturas históricas. Então, a certa altura, o Passa Palavra mostra o muque, cospe no chão e se proclama mais militante: “Não há teoria que não seja reflexão sobre lutas concretas, reais, vividas, sentidas na pele e narradas por aqueles que lutam, enquanto lutam. E é o que temos feito.”
A análise é pertinente, bem estruturada, marxista e parte de premissas indisputáveis. Mas onde está o erro? o tremendo desvio de perspectiva? nas conclusões?
É claro que o mercado engorda os olhos para o manancial de novos movimentos político-culturais. É evidente que as suas engrenagens buscarão reapropriar-se e alimentar-se dos novos modos de produzir e organizar, transformando-os em mercadorias e imagens e espetáculo. O carnaval, o tropicalismo, o samba, o funk, o hip hop, a cultura hacker, o compartilhamento, as redes produtivas de cultura, os fluxos de afetos e desejos da geração, tudo isso é óbvio que se tentará tirar da circulação comum, privatizar, pôr um preço e atrapalhar, quiçá criminalizar o uso livre. É assim mesmo que funciona a Grande Máquina: canibalizando o trabalho vivo, o trabalho social combinado, tudo o que os homens produzem e se produzem e se valorizam, nesse processo de constituição do mundo.
Os autores do Passa Palavra insistem na luta de classe. Ora, isso é reconhecer, em primeiro lugar, que a relação social mediada pelas coisas possui dois pólos. Que, onde há exploração e explorado, também há resistência e sujeito político. Que, se o capitalismo tanto se interessa por certos processos de produção e valoração, é porque ali há trabalho e riqueza. Porque sem isso, sem o trabalho vivo, sem a potência de vida dos homens, o capital não é capaz de produzir nada. Então menos do que recuar e torcer o nariz para esses movimentos tão produtivos (eureca, o capitalismo já percebeu isso!), é preciso mergulhar neles. Pessimismo na razão, otimismo na ação. Faz-se urgente mergulhar com todo o senso crítico e toda a revolta rancorosa nunca-ressentida da geração.
O tropicalismo, a contracultura, ora, a Revolução Russa tiveram seus momentos de lutas inovadoras, seus devires libertários e comunistas. Toda revolução são muitas revoluções. Se depois foram neutralizados, mastigados, deformados, se depois passaram a falar em nome disso tudo para outros propósitos, como de fato passaram, ora, isso foi depois. Não dá pra julgar a revolução pelo futuro da revolução. Seria a suma injúria. Existe toda uma memória militante, muito além da história que ficou, onde faíscas e lampejos podem ressignificar o presente e, uma vez mais, efetuarem-se no sentido da libertação. Porque, acredito, ninguém é ingênuo para sustentar que a virada digital resolva os problemas do estado, dos partidos e dos patrões, como se sovietes e internet conduzisse ao fim da história.
Vale escutar o coletivo EduFactory: “Acolher a radical inovação da forma-rede significa, antes de tudo, assumi-la como um campo de batalha, continuamente atravessado por diferenciais de potência e por linhas de força antagonistas, pela produção do comum e pelas tentativas de capturá-lo. E evitar toda e qualquer teleologia ingênua que termine por ler a intelectualização do trabalho como desmaterialização das relações sociais e o fim das experiências de luta. A rede é, ao contrário, uma estrutura hierárquica, e que a horizontalidade não é nada além de uma relação de força que é posta em questão. As práticas de subtração e autonomia, por um lado, e os processos de captura e de subsunção, por outro, constituem o ponto de tensão imanente à cooperação social.”
Portanto, identificar e esquadrinhar as estratégias da reconfiguração capitalista, do fordismo ao pós-fordismo, é fundamental. Nisso, o Passa Palavra acerta. Forte no diagnóstico, mas por enquanto insuficiente em como resistir. Deve-se passar, agora, ao segundo estágio. O que fazer. Como imergir nesse movimento, sem medo ou ressentimento, e contribuir para dar-lhe um sentido libertador? Como caçar o capitalismo de dentro, já que a relação social é antagonista? Porque se há trabalho vivo ali, habemus proletariado. Quem são os aliados e parceiros nessa luta? Como entrelaçar-se com eles, dialogicamente, ajudar a “sistematizar seus anseios e construir uma pauta que movimente todos numa direção comum“?
Decerto jamais com conclusões peremptórias, que apontam o dedo ao diferente para acusar-lhe de inimigo ou traidor de classe. A crítica constrói quando explora as condições de possibilidade da superação do que existe. E não como dialética puramente negativa, que tende ao diletantismo e à paralisia prática. Não há como contornar, em todo esse formidável esforço do Passa Palavra, certo tom sectário e até mesmo auto-indulgente. O que, aliás, o MinC com Gil e Juca menos adotou, uma vez ocupado pelos movimentos sociais que fazem a luta do trabalho e por dentro dele.
Bruno Cava,
a alternativa é financiar o Facção Central.
Bruno Cava,
que tal ler o resto do site?
Não sei se interessa, talvez chovendo no molhado, mas acabo de tirar do spam de minha caixa postal http://empreendedorescriativos.com.br/. Bem banana….
Realização: Cemec http://redecemec.com.br/
Parceria: Santander http://www.santander.com.br/
Brjs, Eric
Sem querer tomar o tempo de vcs, mas no site que mencionei http://empreendedorescriativos.com.br/ tem entre outros este vídeo, que merece ser assistido.
CPBR11 – STARTUP Capitalistas sociais
http://www.youtube.com/watch?v=Nf67nyKYWCM&feature=player_embedded
Uploaded by campusparty on Jan 18, 2011
CPBR11 – STARTUP Capitalistas sociais
Discutir o tema economia Criativa e Empreendedorismo Criativo. Esses temas se referem às atividades de criatividade nas habilidades individuais e no talento de inovação. Com intenção de quebrar o paradigma que a criatividade é somente para a arte, serão abordados aspectos que demonstram que criatividade é algo intrínseco ao empreendedorismo e na economia global.
Participantes:
Adolfo Menezes Melito: Presidente do Instituto da Economia Criativa e Presidente do Conselho de Economia Criativa da Fecomercio-SP
Marcelo Rosenbaum – Criativo do quadro” Lar Doce Lar”, do programa Caldeirão do Huck.
Gil Giardelli – Ceo Gaia Creative, empresa de comunicação especializada em redes sociais.
Dra Valéria Brandini – Antropóloga especialista em multimeios.