Por Rodrigo Santaella Gonçalves
1. Introdução
As derrotas dos movimentos de trabalhadores espalhados pelo mundo acumuladas a fins do século XX, principalmente a partir da década de 80, tiveram reflexo também no campo teórico da esquerda mundial. O que ficou conhecido como neoliberalismo teve uma de suas maiores vitórias no campo ideológico ao tentar isolar as questões econômicas e sociais das discussões políticas, e as discussões que se seguiram, mesmo no âmbito da esquerda, sofreram também os efeitos deste processo. Os anos 80 foram na melhor das hipóteses momentos de resistência social, e o abandono da política levou, no fim do século XX, a uma fetichização dos movimentos sociais, à crença em sua auto-suficiência, principalmente depois de Seattle em 1999 e do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2001. Daniel Bensaid fala deste como “o “momento utópico” dos movimentos sociais, que assumiu diversas formas: utopias baseadas na regulação dos mercados livres; utopias keynesianas; e acima de tudo utopias neolibertárias, nas quais o mundo poderia ser mudado sem tomar o poder ou através da criação de contra-poderes” (BENSAID, 2006, p.1).
 Pensadores como John Holloway, Toni Negri, Immanuel Wallerstein, apesar de afirmarem manter-se dentro de uma perspectiva de superação do capitalismo e de terem inúmeras diferenças entre si, concordam com a idéia de que tomar o poder político não é mais condição fundamental para a mudança radical da ordem social. Em formulações como “mudar o mundo sem tomar o poder”, como propõe Holloway, criar “contra-poder”, nas palavras de Toni Negri, ou perceber que “a revolução não é mais um conceito viável”, como Wallerstein, fica clara a conexão entre os três autores no que diz respeito ao papel da mudança política para a mudança social. Todos, de forma diferente e partindo de eixos de análises distintos, negam a necessidade de uma revolução política para a transformação da sociedade capitalista, ainda que percebam que esta não é a melhor das formas de organização social e afirmem buscar maneiras de superá-la.
Pensadores como John Holloway, Toni Negri, Immanuel Wallerstein, apesar de afirmarem manter-se dentro de uma perspectiva de superação do capitalismo e de terem inúmeras diferenças entre si, concordam com a idéia de que tomar o poder político não é mais condição fundamental para a mudança radical da ordem social. Em formulações como “mudar o mundo sem tomar o poder”, como propõe Holloway, criar “contra-poder”, nas palavras de Toni Negri, ou perceber que “a revolução não é mais um conceito viável”, como Wallerstein, fica clara a conexão entre os três autores no que diz respeito ao papel da mudança política para a mudança social. Todos, de forma diferente e partindo de eixos de análises distintos, negam a necessidade de uma revolução política para a transformação da sociedade capitalista, ainda que percebam que esta não é a melhor das formas de organização social e afirmem buscar maneiras de superá-la.
Este trabalho busca percorrer alguns aspectos determinados da teoria marxista da política para polemizar com a idéia de que a mudança política não é condição necessária para a mudança social. É importante afirmar que esta polêmica, em termos mais gerais, pode ser travada em duas frentes distintas: uma contra os marxistas economicistas e outra contra os neo-utopistas. Este trabalho se centrará na segunda fonte possível de polêmica. Pretende-se demonstrar aqui, portanto, que além de condição importantíssima para qualquer transformação da ordem capitalista em direção a outro tipo de sociedade, a mudança política é o primeiro passo para o início do processo de transição de um modelo de sociedade para outro. Se o horizonte político de qualquer análise marxista é a transformação revolucionária da sociedade capitalista em direção ao comunismo, a mudança política é condição imprescindível para essa transformação. Não se pretende negar que a mudança da estrutura e da organização econômica é condição fundamental para a superação do sistema capitalista, mas a partir da análise trazida pelo arcabouço teórico marxista das questões políticas, se torna evidente que qualquer mudança econômica radical não é praticável sem a concomitante – ou anterior – mudança da classe que controla o centro de poder da sociedade, ou seja, a mudança política.
Para argumentar a necessidade da mudança política para a mudança histórica ou, em outras palavras, da tomada do poder para a revolução socialista, este trabalho passará por dois pontos fundamentais da teoria marxista da política: primeiro, uma discussão a respeito da centralidade do Estado para a concentração do poder da classe dominante; e depois a caracterização marxista da atividade política, que não se baseia pela razão, mas fundamentalmente pelos interesses de classe. Antes de entrar na discussão feita pela teoria marxista propriamente dita, serão expostos de forma sintética alguns dos argumentos principais dos autores que contestam a necessidade da mudança política para a transformação da sociedade capitalista.
2. Desenvolvimento
a) Mudar o mundo sem tomar o poder?
A partir desta formulação de John Holloway (2005), podemos introduzir também o que existe de fundamental no pensamento de Antonio Negri. Immanuel Wallerstein tem uma linha de argumentação um pouco diferente. Nestes autores, como dito anteriormente, o que há de comum é a idéia de que a revolução política não é necessária para a transformação radical da sociedade. Para Holloway e Negri, isso acontece porque a tomada do poder central não seria de fato uma condição primordial para a construção de outra sociedade dentro do capitalismo contemporâneo. Para Wallerstein, a tomada do poder pode até contribuir para a luta anticapitalista, mas ela não deve mais ser revolucionária; já que a história teria mostrado que esta tomada revolucionária não traz resultados mais efetivos do que a opção reformista, então seria melhor investir em outras táticas e “utilizar” o Estado apenas quando conveniente.
 Para contestar o imobilismo e o estatismo de diversos movimentos de esquerda do século XX, John Holloway afirma que é preciso agir aqui e agora, começar a construir o comunismo – ou a superação da sociedade capitalista – a partir do já existente. A idéia do autor é a de criar espaços que rompam com a lógica do capital dentro do próprio sistema, que funcionem como fendas que possam se articular e se expandir; e que, a partir dessa articulação proveniente de cada fenda particular com as demais, o sistema começaria a ruir e algo novo estaria sendo produzido. Essa formulação tem como pressuposto a idéia de que o “capitalismo é um sistema que não está controlado por ninguém. Nem pelos capitalistas, nem pelos governos. É um sistema onde quem domina são as coisas.” (HOLLOWAY, 2011, p.2). Isso implicaria, segundo o autor, que todos os seres humanos teriam algo de anticapitalista e que a luta contra o sistema deveria apelar a essa característica de todos, deveria ser uma luta fundamentalmente contra a fetichização, a ilusão produzida pelo sistema; e, se assim fosse, todos seriam parte da luta.
Para contestar o imobilismo e o estatismo de diversos movimentos de esquerda do século XX, John Holloway afirma que é preciso agir aqui e agora, começar a construir o comunismo – ou a superação da sociedade capitalista – a partir do já existente. A idéia do autor é a de criar espaços que rompam com a lógica do capital dentro do próprio sistema, que funcionem como fendas que possam se articular e se expandir; e que, a partir dessa articulação proveniente de cada fenda particular com as demais, o sistema começaria a ruir e algo novo estaria sendo produzido. Essa formulação tem como pressuposto a idéia de que o “capitalismo é um sistema que não está controlado por ninguém. Nem pelos capitalistas, nem pelos governos. É um sistema onde quem domina são as coisas.” (HOLLOWAY, 2011, p.2). Isso implicaria, segundo o autor, que todos os seres humanos teriam algo de anticapitalista e que a luta contra o sistema deveria apelar a essa característica de todos, deveria ser uma luta fundamentalmente contra a fetichização, a ilusão produzida pelo sistema; e, se assim fosse, todos seriam parte da luta.
“A revolução somente é concebível se partirmos da suposição de que ser um revolucionário é assunto muito comum, muito habitual, e de que todos somos revolucionários embora de maneiras muito contraditórias, fetichizadas […] O grito, o Não, a rejeição que é parte integrante do viver numa sociedade capitalista: esta é a fonte do movimento revolucionário” (HOLLOWAY, 2005, p.215).
A partir da constatação de que todos teriam algo de anticapitalista, o autor argumenta que não é necessário buscar a unidade nas lutas contra o sistema. É preciso simplesmente articular a criação de fendas no sistema, mas estas são produzidas necessariamente a partir das realidades locais e individuais. A luta fundamental do sistema passa a ser, portanto, a luta contra o trabalho, contra essa forma de viver, não mais a luta entre capital e trabalho. E se a luta fundamental é contra a fetichização que produz o sistema capitalista, e não contra o modo de produção, a desigualdade material e a dominação real de uma parte minoritária da sociedade – a burguesia – sobre as outras, tomar o poder não é realmente necessário.
 Antonio Negri tem uma linha de argumentação diferente, para formular algo bastante parecido com a tese central de Holloway: não é preciso tomar o poder para mudar o mundo. Negri, em parceria com Michael Hardt, tenta demonstrar que não existem mais centros de poder e que o poder está totalmente difuso pelo sistema mundial. Os estados-nação não funcionariam mais como centralizadores do poder, que estaria espalhado pelas grandes corporações e difundido na sociedade como um todo (HARDT e NEGRI, 2000). Não existem mais primeiro, segundo e terceiro mundos, eles agora estão misturados e o capital “parece enfrentar um mundo suavizado – ou realmente um mundo definido por novos e complexos regimes de diferenciação e homogeneização, desterritorialização e reterritorialização” (id. IBID., p.5). Na medida em que o poder está difundido, apenas algo também difuso pode combatê-lo, e aí os autores utilizam a categoria de “multidão”, que seria o grande “ator” constituinte, com poder de contestar e reverter a ordem global, exercendo um contra-poder, e não lutando para destituir ou disputar um inexistente poder central. É através das ações localizadas difundidas entre a “multidão”, portanto, que se combate este poder que está espalhado entre os segmentos da sociedade.
Antonio Negri tem uma linha de argumentação diferente, para formular algo bastante parecido com a tese central de Holloway: não é preciso tomar o poder para mudar o mundo. Negri, em parceria com Michael Hardt, tenta demonstrar que não existem mais centros de poder e que o poder está totalmente difuso pelo sistema mundial. Os estados-nação não funcionariam mais como centralizadores do poder, que estaria espalhado pelas grandes corporações e difundido na sociedade como um todo (HARDT e NEGRI, 2000). Não existem mais primeiro, segundo e terceiro mundos, eles agora estão misturados e o capital “parece enfrentar um mundo suavizado – ou realmente um mundo definido por novos e complexos regimes de diferenciação e homogeneização, desterritorialização e reterritorialização” (id. IBID., p.5). Na medida em que o poder está difundido, apenas algo também difuso pode combatê-lo, e aí os autores utilizam a categoria de “multidão”, que seria o grande “ator” constituinte, com poder de contestar e reverter a ordem global, exercendo um contra-poder, e não lutando para destituir ou disputar um inexistente poder central. É através das ações localizadas difundidas entre a “multidão”, portanto, que se combate este poder que está espalhado entre os segmentos da sociedade.
 Usando uma linha de argumentação que parte de pressupostos teóricos diferentes, mas que pode ser igualmente contestada pela teoria marxista da política, Wallerstein (2002) afirma que para superar o sistema capitalista é preciso voltar às táticas “mais tradicionais” de disputa principalmente nos locais de trabalho; democratizar todas as instâncias da sociedade; utilizar as lutas particulares. O Estado pode servir taticamente à luta contra o sistema, mas o fundamental seria sobrecarregá-lo, levando ao extremo os próprios pressupostos liberais que o sistema deixa de utilizar, e estar preparado para o momento em que o sistema ruir. Isso seria um programa mais pragmático e que utilizaria as lições históricas do século XX, permitindo caminhar para a superação do sistema anticapitalista.
Usando uma linha de argumentação que parte de pressupostos teóricos diferentes, mas que pode ser igualmente contestada pela teoria marxista da política, Wallerstein (2002) afirma que para superar o sistema capitalista é preciso voltar às táticas “mais tradicionais” de disputa principalmente nos locais de trabalho; democratizar todas as instâncias da sociedade; utilizar as lutas particulares. O Estado pode servir taticamente à luta contra o sistema, mas o fundamental seria sobrecarregá-lo, levando ao extremo os próprios pressupostos liberais que o sistema deixa de utilizar, e estar preparado para o momento em que o sistema ruir. Isso seria um programa mais pragmático e que utilizaria as lições históricas do século XX, permitindo caminhar para a superação do sistema anticapitalista.
b) O Estado como fator de coesão da dominação de classe
O que unifica os argumentos dos três autores citados anteriormente é a não-centralidade que o Estado teria atualmente para a manutenção da dominação de uma classe sobre as outras. Seja porque Holloway e Negri consideram que a dominação se dá de forma mais difusa atualmente e, portanto, não caberia falar de um fator de coesão da dominação de uma classe sobre as outras, seja porque a estratégia de entender o Estado como fundamental na luta contra o capitalismo teria falhado historicamente, como argumenta Wallerstein. O fundamental nos três é a mudança política não ser necessária para a efetivação da mudança social. Esta poderia ser construída à revelia do Estado, que posteriormente sofreria as conseqüências dessa mudança social mais profunda e que se construiria de forma processual, através principalmente de lutas individualizadas.
O que aparece como pano de fundo dessa discussão é o conceito de poder. Enquanto em Holloway, Negri e Wallerstein o conceito é de um poder difuso, a exemplo do utilizado por Michael Foucault para analisar os mecanismos do poder nas sociedades modernas, para a teoria marxista da política o poder existe de forma concentrada. Um dos pilares fundamentais da teoria social marxista é a percepção de que a sociedade capitalista é dividida em classes sociais, e que nela vigora a dominação da classe burguesa sobre as outras. Admitir a existência de um poder difuso e sem nenhum tipo de organização hierárquica é, de certa forma, romper com a idéia de uma sociedade de classes na qual uma delas concentra o poder, para garantir a reprodução de um sistema que atenda prioritariamente a seus interesses. Grande parte dos autores marxistas que pensaram a esfera política da sociedade, partindo de uma idéia de poder concentrado, e ainda que com diferenças importantes entre eles, percebeu que o Estado é um fator de coesão da dominação da classe burguesa sobre as demais.
Na sua configuração moderna, era um instrumento de dominação da classe burguesa e funcionaria para perpetuar a ordem burguesa e a acumulação de capital. Essa dominação, entretanto, não se daria apenas através do monopólio legítimo da violência, mas também através da dominação ideológica e cultural (MARX e ENGELS, 1979). O Estado liberal burguês é caracterizado pela separação entre política e sociedade, e pelo seu desentendimento no que diz respeito às desigualdades sociais. Como “todos são iguais perante a lei”, o Estado burguês, usando a categoria de “cidadão”, funciona como se não existissem essas desigualdades (MARX, 1991). Justamente por isso, Marx trabalha com a categoria “classe” ao invés de utilizar a noção de cidadão. O Estado da classe burguesa, a partir da desconsideração das classes sociais e das desigualdades, por um lado, e da despolitização da sociedade, por outro, cria a aparência de ser um Estado sem classes, o que é uma ilusão total para a visão marxista. Para Marx, portanto, o Estado liberal burguês se fetichiza, tornando-se a expressão de todas as classes, mesmo atendendo apenas aos interesses da burguesia. Em Lênin, o Estado, como categoria histórica que é produto das contradições de classe, cumpre o papel de criar a ilusão de que essas contradições são irreversíveis. O Estado burguês seria, em última instância, o instrumento de exploração da classe operária pela burguesia e funcionaria como uma força especial de repressão (LÊNIN, 2005). Daí a necessidade de tomar e posteriormente extinguir o Estado para que se abra a possibilidade de uma mudança real na forma de organização social da sociedade.
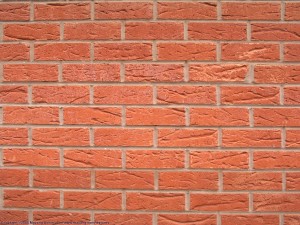 Além das origens teóricas da análise marxista sobre o Estado, o fundamental na discussão com os neo-utopistas é que o marxismo deve se orientar pela realidade. Não perceber a centralidade do Estado na dominação capitalista das últimas décadas – mesmo depois do discurso anti-estatal do neoliberalismo, que tirava funções sociais do Estado, mas mantinha as funções econômicas de manutenção da ordem – é, além de um equívoco analítico claro, fugir de uma análise marxista. Seja para garantir a acumulação capitalista, seja para reprimir os movimentos de contestação, o Estado tem sido nos últimos 50 anos o principal instrumento de dominação da classe burguesa e de desorganização da resistência, e isso não pode ser negado se a tarefa a que se propõe é superar a sociedade capitalista (BORÓN, 2003). A noção trazida pelos neo-utopistas e aprofundada principalmente em Michael Hardt e Toni Negri (2000), de que não existem mais centros estatais de poder e que este está totalmente difuso no sistema mundial, é completamente equivocada. Todas as grandes corporações, mesmo as mais mundializadas, têm uma base nacional concreta, e em última instância sempre apelam a “seus” Estados para subsídios, ajuda no campo político ou qualquer outra ação que venha a beneficiar os seus interesses particulares. Noam Chomsky afirma que:
Além das origens teóricas da análise marxista sobre o Estado, o fundamental na discussão com os neo-utopistas é que o marxismo deve se orientar pela realidade. Não perceber a centralidade do Estado na dominação capitalista das últimas décadas – mesmo depois do discurso anti-estatal do neoliberalismo, que tirava funções sociais do Estado, mas mantinha as funções econômicas de manutenção da ordem – é, além de um equívoco analítico claro, fugir de uma análise marxista. Seja para garantir a acumulação capitalista, seja para reprimir os movimentos de contestação, o Estado tem sido nos últimos 50 anos o principal instrumento de dominação da classe burguesa e de desorganização da resistência, e isso não pode ser negado se a tarefa a que se propõe é superar a sociedade capitalista (BORÓN, 2003). A noção trazida pelos neo-utopistas e aprofundada principalmente em Michael Hardt e Toni Negri (2000), de que não existem mais centros estatais de poder e que este está totalmente difuso no sistema mundial, é completamente equivocada. Todas as grandes corporações, mesmo as mais mundializadas, têm uma base nacional concreta, e em última instância sempre apelam a “seus” Estados para subsídios, ajuda no campo político ou qualquer outra ação que venha a beneficiar os seus interesses particulares. Noam Chomsky afirma que:
“Para ilustrar a “teoria do livre mercado realmente existente” com uma outra dimensão nos reportaremos ao amplo estudo de Winfried Ruigrock e Rob van Tulder sobre os conglomerados transnacionais, o qual concluiu que “a posição estratégica e competitiva de praticamente todas as grandes empresas-mãe do mundo foi decisivamente influenciada por políticas governamentais e/ou barreiras comerciais” e que “pelo menos vinte das cem maiores empresas da revista Fortune em 1993 não teriam sobrevivido como empresas independentes se não fossem salvas por seus governos” (CHOMSKY, 2002, p.21).
 A teoria que aposta nas fendas, ou na criação de um contra-poder, baseando-se na idéia de que o poder está espalhado de forma difusa pela sociedade, busca em determinados momentos apoiar-se no arcabouço teórico gramsciano para defender suas posições, o que se configura em outro equívoco teórico importante. O Estado, para Gramsci, não é simplesmente todo o aparelho burocrático e institucional, mas sim o todo da sociedade organizada, ou seja, além da sociedade política, a sociedade civil também faz parte do Estado dentro do pensamento do autor, ainda que o aparelho burocrático e repressivo do Estado ampliado (o Estado propriamente dito) tenha importância fundamental para a manutenção ou construção da hegemonia. Para entender a concepção de Estado em Gramsci é fundamental que se tenha em mente o conceito de hegemonia, principal fio condutor do pensamento gramsciano. A hegemonia é a supremacia de um grupo social sobre os outros grupos, que se dá através da direção intelectual e moral dos grupos aliados e do domínio dos grupos adversários (CARVALHO, 2004). O que acontece é que estes autores acreditam ser possível a construção da hegemonia a partir apenas da primeira parte da concepção gramsciana – a direção intelectual e moral – e esquecem-se da segunda – o domínio político. Entretanto, direção e domínio são faces de uma mesma moeda no pensamento de Gramsci e só fazem sentido na luta política se articuladas uma com a outra. Utilizar-se do conceito de Estado ampliado de Gramsci para justificar as teorias neo-utopistas é, portanto, simplificar em demasia o pensamento do autor italiano.
A teoria que aposta nas fendas, ou na criação de um contra-poder, baseando-se na idéia de que o poder está espalhado de forma difusa pela sociedade, busca em determinados momentos apoiar-se no arcabouço teórico gramsciano para defender suas posições, o que se configura em outro equívoco teórico importante. O Estado, para Gramsci, não é simplesmente todo o aparelho burocrático e institucional, mas sim o todo da sociedade organizada, ou seja, além da sociedade política, a sociedade civil também faz parte do Estado dentro do pensamento do autor, ainda que o aparelho burocrático e repressivo do Estado ampliado (o Estado propriamente dito) tenha importância fundamental para a manutenção ou construção da hegemonia. Para entender a concepção de Estado em Gramsci é fundamental que se tenha em mente o conceito de hegemonia, principal fio condutor do pensamento gramsciano. A hegemonia é a supremacia de um grupo social sobre os outros grupos, que se dá através da direção intelectual e moral dos grupos aliados e do domínio dos grupos adversários (CARVALHO, 2004). O que acontece é que estes autores acreditam ser possível a construção da hegemonia a partir apenas da primeira parte da concepção gramsciana – a direção intelectual e moral – e esquecem-se da segunda – o domínio político. Entretanto, direção e domínio são faces de uma mesma moeda no pensamento de Gramsci e só fazem sentido na luta política se articuladas uma com a outra. Utilizar-se do conceito de Estado ampliado de Gramsci para justificar as teorias neo-utopistas é, portanto, simplificar em demasia o pensamento do autor italiano.
Wallerstein (2002), por sua parte, argumenta que a partir das experiências fracassadas da esquerda mundial no século XX e da experiência acumulada e sintetizada no maio de 1968, alguns novos pontos estratégicos podem ser elaborados para a busca da transformação radical da sociedade capitalista. Entre esses pontos, está o fato da “estratégia de duas etapas – primeiro tomar o poder estatal e depois transformar a sociedade” ter sido abandonada pelo marxismo (id., ibid., p.107). Na verdade, esta nunca foi a única estratégia apontada pelo marxismo. Discutiu-se aqui rapidamente a teoria gramsciana, que considera a importância da luta na sociedade civil, mas não relega a segundo plano o aparelho burocrático do Estado, e pode-se referir a teorização de Lênin sobre a tomada de poder como sendo fundamental para a revolução, mas a revolução mesma ser um processo civilizatório, que começa com organização social e perpassa o momento de tomada do poder (BORÓN, 2003). De qualquer forma, partindo deste e de outros pontos, Wallerstein traça alguns eixos estratégicos para a transformação da sociedade: primeiro investir em uma tática mais tradicional, de fortalecer o trabalho em todos os locais possíveis, em detrimento do capital; depois buscar mais espaços participativos e abertos de democracia, aumentando a capacidade de decisão das classes oprimidas; e por fim utilizar o Estado apenas taticamente, quando convier, nunca investindo na tomada do poder ou na administração do sistema. A partir disso, o sistema iria se sobrecarregando e poderia colapsar, e aí a esquerda deveria estar preparada para assumir sua tarefa de construir a nova sociedade propriamente dita. Ora, se analisarmos profundamente os argumentos apresentados e cotejarmos com a análise marxista da função social do Estado, se percebe a contradição: como buscar aumentar o excedente do trabalho em detrimento do capital, por um lado, e aumentar a participação democrática das classes oprimidas, por outro, sem preocupar-se com o elemento de coesão da classe dominante mais munido de força material e ideológica, que tem como função principal manter o status quo? Se aceitamos a definição marxista do Estado como instrumento organizador da classe dominante, repressor das resistências e reprodutor e produtor de ideologia, ele jamais pode ser ignorado ou tratado como algo menor se o que se busca é superar a ordem capitalista.
Pretender, portanto, que o poder possa simplesmente ser dissolvido com a abertura de fendas no sistema, com a construção de experiências socialistas dentro do capitalismo ou com a articulação de ações difusas de uma “multidão” pouco organizada é um erro. A classe social que detém o poder não abrirá mão deste sem oferecer resistência, e o Estado é justamente o mecanismo mais eficiente e dotado de condições materiais de oferecer essa resistência. É compreensível o temor de repetir o erro de um marxismo “estadocêntrico”, ilustrado pelo estalinismo, de acreditar que tomar o poder é suficiente para construir o socialismo e caminhar para o comunismo, ou seja, de que o “Estado socialista” poderia ser o principal propulsor da revolução. Entretanto, como afirma Borón (2003), cair num erro simétrico, afirmando que o poder não precisa ser conquistado e que é possível simplesmente dissolvê-lo, é um equívoco de análise claro, além de extremamente prejudicial para a luta contra o sistema capitalista.
c) Atividade política e interesses: dos limites da atuação por dentro do Estado
Apresentou-se até aqui a polêmica e a discordância da teoria marxista com relação à idéia de que é possível mudar o mundo sem tomar o poder, ou construir uma ordem social totalmente nova sem ter clareza de que é necessário, no mínimo, um enfrentamento em grandes proporções com o Estado, que é o principal – não o único – organizador da dominação de classe no sistema capitalista. Entretanto, perceber que o Estado cumpre um papel importante na reprodução do sistema não implica necessariamente em afirmar que derrubada desse Estado é necessária para a construção de outra sociedade. Pode argumentar-se, como a social-democracia fez durante muitos anos, que ocupar o Estado, mesmo que este se mantenha nos moldes institucionais estabelecidos na sociedade capitalista, é a melhor maneira de ir minando o sistema, ou pelo menos de transformá-lo em algo mais justo para os trabalhadores e oprimidos em geral, para em longo prazo transformá-lo totalmente. No começo do século XX, a esquerda socialista se deparou com alguns dilemas: primeiro, o de participar ou não da eleições; depois, tendo escolhido participar, aliar-se ou não a outras classes ou fragmentos de classe; depois compor ou não governos trabalhistas, e assim sucessivamente. A social-democracia foi fazendo escolhas a partir destes dilemas que se foram impondo, e passo a passo passou da perspectiva de transformação do sistema – ainda que reformista – à conclusão de que o fundamental é manter o equilíbrio deste, de forma a garantir que a exploração da classe dominante não seja tão exagerada e que as classes subalternas tenham condições razoáveis de sobrevivência e alguns direitos sociais (PRZEWORSKI, 1985). O fato é que a opção por transformar a luta social por uma luta meramente dentro da ordem, seja pelas razões de conformação histórica que geraram essas decisões, seja pela própria estrutura jurídico política do Estado burguês, invariavelmente levou ao abandono da perspectiva socialista de transformação radical do sistema.
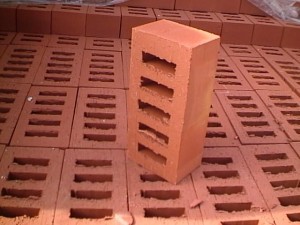 Entender que a mudança política tem um lugar fundamental na mudança histórica, para a teoria marxista, só faz sentido se for compreendido o caráter dessa mudança política. A mudança meramente de forma, organização, mas mantendo a estrutura jurídico-política do Estado e inserindo-se nela, historicamente levou à burocratização dos partidos revolucionários e ao abandono da perspectiva de superação do sistema.
Entender que a mudança política tem um lugar fundamental na mudança histórica, para a teoria marxista, só faz sentido se for compreendido o caráter dessa mudança política. A mudança meramente de forma, organização, mas mantendo a estrutura jurídico-política do Estado e inserindo-se nela, historicamente levou à burocratização dos partidos revolucionários e ao abandono da perspectiva de superação do sistema.
Isso acontece, entre outros motivos, porque o Estado burguês é organizado de forma a mascarar uma das características fundamentais da luta política: a de que a atividade política é regida primordialmente por interesses, não pela razão. O parlamento, as campanhas eleitorais e os demais espaços de “debate” fornecidos pela democracia institucional dão a impressão de que o debate político pode ser mediado exclusivamente pela razão. É baseado nessa ilusão, por exemplo, que Habermas cria sua teoria da razão comunicacional e afirma que os conflitos extra-racionais podem ser resolvidos através do debate racional, e posteriormente se poderia utilizar a razão instrumental para atingir os objetivos comuns, definidos racionalmente (LOWY, 1999). Caso isso fosse verdade, a grande tarefa seria a de criar espaços públicos mais freqüentes de debate, além de utilizar os espaços institucionais da melhor maneira possível. Entretanto, o que falta a Habermas, aos social-democratas em geral e aos liberais perceberem é que a atividade política não é mediada pela razão, e sim por interesses. Se Habermas percebe com Weber que a racionalidade voltada aos fins é o tipo mais “avançado” de razão, seu erro está em não se questionar de onde vêm os fins. A razão é de fato utilizada na atividade política, mas os fins a que ela atende são influenciados diretamente pelas condições de classe de cada ator envolvido. Como argumenta Michael Lowy contestando a teoria de Habermas,
“É difícil escapar da conclusão de que o diagnóstico de Weber e de Marx é mais realista que o sonho (demasiadamente) razoável de Habermas: como a esfera da comunicação e da vida pública poderia permanecer intacta com relação ao poder do dinheiro e da burocracia? Como ela poderia escapar aos imperativos funcionais que dominam a vida econômica e estatal? Como a sociedade, que constitui necessariamente um todo estruturado, poderia ser dividida em duas esferas hermeticamente separadas, dois compartimentos estanques? Como seria possível uma comunicação livre de qualquer dominação na esfera pública, se a economia e a administração permanecem nas mãos das potências capitalistas e burocráticas? E se a reprodução material da vida e sua gestão administrativa estão entregues à autoregulação sistêmica, o que os cidadãos vão discutir na Ágora?” (LOWY, 1999, p. 84).
É óbvio que a esfera da comunicação, assim como a esfera da política, não estão desligadas da esfera econômica da sociedade e que os interesses dos grupos sociais são formados a partir das condições de classe nas quais eles estão inseridos e das situações que lhes são impostas. Qualquer análise marxista da realidade deve ter a noção de totalidade, e acreditar na possibilidade de uma área “neutra” ou “virgem” em que se possa fazer o debate simplesmente de idéias é esquecer toda a base material que sustenta cada grupo social da sociedade capitalista. Essa percepção da impossibilidade de se fazer política simplesmente debatendo idéias e da impossibilidade de síntese real entre as idéias das classes sociais antagônicas no sistema capitalista mostra a necessidade da revolução política para a mudança histórica. O Estado é fundamental para a manutenção da ordem capitalista, mas perceber isso é também perceber que ocupá-lo de forma institucional não é suficiente e, caso seja a única alternativa de um movimento político que busque superar o sistema capitalista, leva ao desvio paulatino dos objetivos originais do movimento. É justamente da conexão entre esses dois argumentos – centralidade do Estado e impossibilidade de mudá-lo dentro da ordem – que vem a necessidade da revolução política para a mudança histórica.
3. Conclusão
Adam Przeworski, analisando o processo histórico da social-democracia, termina com a seguinte consideração:
“Defrontados com uma crise econômica, ameaçados com a perda de apoio eleitoral, preocupados com a possibilidade de uma contra-revolução fascista, os socialdemocratas abandonam o projeto de transição ou ao menos ficam à espera de tempos mais auspiciosos. Encontram coragem para explicar aos trabalhadores que é melhor ser explorado do que criar uma situação que contém riscos que podem se virar contra eles. Recusam-se a empenhar seu futuro numa piora da crise. Dispõem-se ao compromisso, e a defenderem-no perante os trabalhadores. A questão que permanece é saber se existe um caminho de escapar à alternativa traçada por Olof Palme: “retornar a Stálin e Lenin ou tomar o rumo da tradição social-democrata” (PRZEWORSKI, 1985, p.81).
A partir do que foi discutido neste trabalho, pode parecer que realmente não existe caminho para escapar a estas duas alternativas e que a alternativa aqui assumida seria a primeira. Na verdade, não é tão simples assim. Em um nível mais amplo de abstração, se a distinção que se faz no trecho citado por Przeworski é entre optar por tomar o poder ou por lutar institucionalmente por ele, a opção aqui defendida é de fato a primeira. Entretanto, dentro da alternativa mais geral de tomar o poder, existem possibilidades mais concretas abertas e muito diferentes do retorno a Stálin e a Lênin, até porque essa formulação é exageradamente simplificada – qualquer retorno à experiência soviética à luz do que aconteceu no século XX é muito mais um retorno a Stálin do que a Lênin, e mesmo dentro dessa ressalva existem inúmeras nuances e debates.
 Como já foi discutido e nas palavras de Boito Jr., “a revolução política é o início incontornável do processo de transição ao socialismo porque apenas o Estado operário, que deve ser já um semi-Estado, pode iniciar o processo de socialização dos meios de produção” (BOITO, 2004, p.78). Se a revolução política é o início do processo de transição, é óbvio que existem tarefas que se seguem. Mas não se pode deixar de perceber que existem também fatores que antecedem essa tomada do poder e que criam as condições para essa tomada, e que não podem ser ignorados. É importante considerar o fator subjetivo, o nível de conscientização da classe trabalhadora e das massas, porque deles depende em grande parte o sucesso das tarefas posteriores à tomada do poder e a própria capacidade da classe trabalhadora, aliada ou não com outros setores, executar essa tomada do poder político. Não se pretende afirmar aqui de forma alguma, portanto, que qualquer transformação social é impossível antes da tomada do poder, mas sim que para a transição para o socialismo ser algo concreto é necessário ter minada e transformada a maior máquina de repressão e reprodução do sistema, que é o Estado.
Como já foi discutido e nas palavras de Boito Jr., “a revolução política é o início incontornável do processo de transição ao socialismo porque apenas o Estado operário, que deve ser já um semi-Estado, pode iniciar o processo de socialização dos meios de produção” (BOITO, 2004, p.78). Se a revolução política é o início do processo de transição, é óbvio que existem tarefas que se seguem. Mas não se pode deixar de perceber que existem também fatores que antecedem essa tomada do poder e que criam as condições para essa tomada, e que não podem ser ignorados. É importante considerar o fator subjetivo, o nível de conscientização da classe trabalhadora e das massas, porque deles depende em grande parte o sucesso das tarefas posteriores à tomada do poder e a própria capacidade da classe trabalhadora, aliada ou não com outros setores, executar essa tomada do poder político. Não se pretende afirmar aqui de forma alguma, portanto, que qualquer transformação social é impossível antes da tomada do poder, mas sim que para a transição para o socialismo ser algo concreto é necessário ter minada e transformada a maior máquina de repressão e reprodução do sistema, que é o Estado.
É justamente o nível de conscientização e politização das massas, aliado às tarefas posteriores à tomada do poder de Estado, que permite uma revolução de fato e que logre construir o socialismo sustentado em bases materiais e ideológicas concretas. Isso passa por ter clareza de que a revolução não é um ato isolado, e sim um encadeamento de atos e processos que devem cumprir diversas tarefas históricas em um mesmo momento. É preciso combinar ato e processo, acontecimento e história (BENSAID, 2006). A revolução social é uma tarefa civilizatória que, se passa por momentos de ruptura – e a tomada do poder estatal é o mais importante destes – é também fruto de um processo histórico, cultural e ideológico. Não considerar o Estado para a construção deste processo e de outro modelo de organização social é um erro grave, muito parecido com o de achar que a partir dele se solucionarão todas as questões.
Bibliografia
BENSAID, D. O Regresso da estratégia: o início de um novo debate in Critique Communiste, 181, Paris: Ligue Communiste Révolutionnaire, 2006;
BOITO JR., A. O lugar da política na teoria marxista da história in Boito Jr., A. Estado, política e classes sociais, op. Cit., p. 39-63. (Publicado originalmente em Crítica Marxista, n. 19, 2004, p. 63-81) (http://www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista/);
BORÓN, A. A selva e a polis. Interrogações em torno da teoria política do Zapatismo. In Atílio Boron, Filosofia política marxista. São Paulo: Cortez, 2003, p. 203 – 230;
CARVALHO, A.M.P.C. Hegemonia como via de acesso ao pensamento de Gramsci: um foco na revolução passiva, in Revista de Ciências Sociais, 35 (2). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2004, p. 34-53;
CHOMSKY, N. O lucro ou as pessoas. Bertand Brasil, 2002. (versão digital);
HARDT, M. e NEGRI, T. Empire. Cambridge: Harvard University Press, 2000;
HOLLOWAY, J. Cambiar el mundo sin tomar el poder: el significado de la revolución hoy. Caracas: Editorial Melvin, 2005;
_ A questão não é tomar o poder, mas romper com a lógica do capital in Revista Caros Amigos. São Paulo: março, 2011, p. 26-28;
LENIN, V.I. O Estado e a revolução. A revolução proletária e o renegado kaustky. São Paulo: Editora Instituto José Luís e Rosa Saundermann, 2005;
LÖWY, M. Habermas e Weber, in revista Crítica Marxista, nº 9. São Paulo: Editora Xamã, 1999. (http://www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista);
MARX, K. A questão judaica. São Paulo: Editora Moraes, 1991;
MARX, K. e ENGELS, F. A ideologia alemã. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1979;
PRZEWORSKI, A. A Social Democracia como Fenômeno Histórico, in “Capitalismo e Social-Democracia”. São Paulo: Companhia das Letras, 1985.
WALLERSTEIN, I. A revolução como estratégia e tática de transformação, in “Após o liberalismo”. Rio de Janeiro: Vozes, 2002, p. 213-221.








Rodrigo Santaella Gonçalves não se limita a rejeitar as soluções políticas propostas por Holloway, por Negri e por Wallerstein. Aliás, são soluções tão distintas que recusá-las a todas é meter demasiadas coisas no mesmo saco. O mais grave é que Santaella Gonçalves recusa o diagnóstico da realidade feito por aqueles três autores e por muitos mais — que nas últimas décadas o poder se tornou pluricentrado e que as grandes empresas passaram a assumir-se explicitamente como centros de poder político, ou seja, aquilo a que eu, pelo menos desde 1985, tenho vindo a chamar Estado Amplo. Deste modo, Santaella Gonçalves ignora as alterações mais decisivas operadas pela transnacionalização do capital e cita Chomsky em abono da tese de que as grandes companhias transnacionais continuariam dependentes do poder político dos países onde se localizam as suas sedes. Chomsky é geralmente considerado um anarquista, mas a única coisa de anarquismo que eu encontro nele é a ignorância da economia. Em abono daquela tese Santaella Gonçalves poderia, ao menos, ter invocado Robert Gilpin, que tem outro conhecimento, realmente profundo, do processo de transnacionalização. Mas não me parece que teses desse tipo dêem conta da realidade em que vivemos, pelos motivos que procurei explicar no artigo A Geopolítica das Companhias Transnacionais, publicado neste site (http://passapalavra.info/?p=39343 ). A própria noção de poder usada por Santaella Gonçalves é arcaica e ignora que o Google e o Facebook, para citar apenas estes, constituem mecanismos de recolha de informação e, em consequência, de exercício do poder muito superiores — e muito mais perigosos, porque mais discretos — aos exercidos pelos Estados nacionais.
Artigos deste tipo condenam o marxismo, e os próprios autores, a serem peças de museu. E condenam-nos à irrelevância prática, o que, sendo merecido, é um final feliz.
Caro João Bernardo, primeiro obrigado pelo comentário, acredito que podemos fomentar um ótimo debate a partir das suas considerações, e acho realmente que precisamos fazer e refazer a discussão acerca do papel do Estado, principalmente no âmbito da esquerda, que imagino que compartilhemos.
Gostaria de fazer algumas considerações.
Primeiro, você afirma que colocar as soluções de Negri, Holloway e Wallerstein “num mesmo saco” é um erro. Concordo que são produções teóricas absolutamente diferentes, mas como você mesmo disse, coincidem num ponto-chave. Utilizando as suas palavras, eles coincidem em acreditar que “o poder se tornou pluricentrado e que as grandes empresas passaram a assumir-se explicitamente como centros de poder político”. Em consequência disso, não dão prioridade à luta política ou à conquista do Estado para a mudança radical na sociedade. Por tratar-se de um trabalho final de uma disciplina de mestrado, não pude aprofundar o pensamento de cada um e as inúmeras diferenças de percurso que os levam a esse resultado comum. Entretanto, como você mesmo afirmou, há um ponto comum, compartilhado inclusive por você, na perspectiva dos três. É justamente com esse ponto comum que busco polemizar.
Segundo, cito Chomsky, como você pode perceber, em referência a uma pesquisa empírica de Winfried Ruigrock e Rob van Tulder, não referenciado em suas preferência políticas ou teóricas. Cito Chomsky, neste debate, para ilustrar a persistência da importância do Estado mesmo num cenário transnacionalizado com dados de uma pesquisa empírica, e não em suas teorizações sobre economia.
Terceiro, sobre a transnacionalização e seu artigo, discordo de diversos aspectos, cito apenas alguns. Você utiliza do argumento do maior executivo da IBM para afirmar que as bases estatais das empresas são cada vez menores. Ora, é sabido que é da ideologia neoliberal omitir a importância da intervenção do estado para o sistema. No frigir dos ovos, todas as grandes corporações têm bases nacionais, são vinculadas juridicamente a algum Estado nacional e articulam com esses Estados suas políticas de investimento, regras, etc. Não é o caso de negar as grandes corporações como centros de poder, mas sim de ter clareza de que onde se encontram todos esses lugares de poder, onde são forjadas as regras básicas através das quais eles funcionam, é o Estado.
Ora, afirmar que a nacionalidade dos gestores significa o fim do predomínio do homem branco e que isso seria reflexo de uma descentralização do poder, como você dá a entender metaforicamente em seu artigo, beira o absurdo. Os gestores “estrangeiros”, de países periféricos, apesar de existirem e de se multiplicarem, são em sua enorme maioria formados em centros educacionais norte-americanos ou europeus. São em geral os “melhores”, que se destacam em seus países, ganham suas bolsas em Harvard ou onde quer que seja, e depois são recrutados para servir justamente – ora, que coincidência – as grandes corporações com base nos Estados Unidos. Pode ter se tornado mais difícil perceber o papel do Estado Nacional na articulação do poder da classe dominante atual, mas desconsiderá-lo como sendo de fundamental importância é, no mínimo, um erro. A existência de pesquisa nas filiais das grandes corporações (e ora, se são “filiais” é porque existe um centro, não?) tampouco significa um poder difundido mundialmente e não hierarquizado.
Por fim, sobre a noção de poder utilizada. Veja bem, não nego a existência de diversas formas de poder, que vão desde a esfera privada da vida, passando pelo âmbito informacional, chegando até os grandes centros políticos de tomadas de decisão. Ou seja, a noção de poder que utilizo não ignora a existência de mecanismos importantes como o “google” e o “facebook”. A questão, a meu ver, é que como mostrou-se recentemente no caso das leis de liberdade de uso da internet nos Estados Unidos, os Estados-Nacionais centrais regulam, de acordo com seus interesses (que estão obviamente vinculados ao dessas empresas) as formas de funcionamento desses mecanismos. Se te parece arcaico afirmar que o Estado segue tendo importância central na organização do poder mundial, me parece absolutamente absurdo acreditar que o Facebook ou o Google são mecanismos de poder mais importantes e mais eficientes que o Estado.
Pergunte, depois, às famílias extirpadas de suas casas no Pinheirinho, às removidas de seus lares por conta de construções da Copa do Mundo, aos negros assassinados diariamente nos morros do Rio de Janeiro, ou mesmo aos milhares que são “assassinados indiretamente” nas prisões brasileiras sobre quem é mais importante para a vida deles, o google ou o Estado. Perguntemos aos afegãos, aos iraquianos, o que eles pensam sobre a existência ou não de um Estado imperialista no mundo. O poder, para eles, aparece em forma de bombas, de soldados e de aviões, não desde a tela de um computador.
É justamente esse o ponto central do meu argumento. Existem novos mecanismos, existem novas questões e o poder é muito mais complexo do que a simples dominação de uma classe sobre outras. Agora desconsiderar o papel do Estado e a existência de uma dominação de classe em nome de um poder difuso, virtual, informacional, sem materialidade e sem sede territorial é, talvez mais do que nunca, um absurdo.
Rodrigo Santaella,
Tentando responder-lhe rapidamente, você comete o erro comum na esquerda dogmática de rejeitar os argumentos e as análises que venham da direita ou da tecnocracia. Isto a propósito das suas referências desprezivas à periodização da internacionalização do capital feita por Sam Palmisano, que aliás é licenciado em História, o que é raro para um tecnocrata. Um excelente dialéctico chamado Lenin jamais cometeu o erro de pôr de lado a literatura económica oriunda do capitalismo, como você poderá verificar se um dia ler algumas das inúmeras análises económicas que ele escreveu.
Se você estudar a literatura técnica sobre a organização das grandes companhias verificará como hoje, na fase da transnacionalização — diferente da fase da multinacionalização — a diferença entre matriz e filiais se dilui. É este o ponto central do § 3 do meu artigo sobre A Geopolítica das Companhias Transnacionais. O número crescente de alunos oriundos dos BRICs, sobretudo da China e da Índia, que se formam nos principais institutos de gestão, é essencial para essa diluição da diferença entre matrizes e filiais, para a constituição de uma pluralidade de pólos directivos e para a constituição de importantíssimos centros de pesquisa e desenvolvimento em países emergentes.
Aparentemente você não se deu conta de que o fulcro daquele meu artigo é o § 4, onde trato da conversão do comércio entre nações em comércio no interior das companhias transnacionais. Se reflectir sobre o assunto talvez perceba as suas implicações.
Você esclarece que o seu artigo resulta de um trabalho que fez para uma disciplina de mestrado. Então tem bastante tempo à sua frente para aprofundar a análise sobre o funcionamento das empresas transnacionais. Se o fizer, poderá constatar alguns factos decisivos. Mas para isso precisa de acompanhar regularmente a literatura especializada, como The Economist ou o Financial Times. Também há bons livros sobre o assunto, que infelizmente são lidos nos cursos de gestão e não nos departamentos de marxismo. É pena que sem essa base de conhecimento você, neste seu trabalho no curso de mestrado, se tivesse abalançado a criticar tão ligeiramente autores como os três que citou.
Mas se um dia você quiser saber qual é a verdadeira origem das teses que insistem muito mais no carácter soberano do poder empresarial do que nos governos nacionais, leia Saint-Simon. Foi ele o primeiro grande teórico do poder empresarial. Depois estude a importância dos saint-simonianos para o desenvolvimento das instutuições bancárias e para a formação de um imperialismo moderno, no Egipto por exemplo, e poderá então ver que mesmo no século XIX era por vezes difícil dizer se eram as grandes companhias a depender dos Estados ou os Estados a depender das grandes companhias.
O penúltimo parágrafo do seu comentário ilustra a minha acusação de as suas ideias serem peças de museu condenadas à irrelevância. Elas poderão ter aplicação em regiões devastadas ou naquelas em que a mais-valia absoluta constitui o único sistema de exploração. Mas não são essas situações que representam a tendência de desenvolvimento do capitalismo. Será que você já pensou por que motivo Karl Marx usou como base empírica para escrever O Capital a situação da Grã-Bretanha e não a da Valáquia, por exemplo? Se reflectir sobre isto, talvez você chegue a conclusões interessantes.
Não vou entrar no mérito da leitura que se faz do Holloway e do Negri (Wallerstein eu muito pouco conheço para opinar). Quanto a isso apenas afirmo que principalmente a leitura do Holloway está bastante equivocada (para Holloway, não tomar o poder não tem nada a ver com o poder estar ou não difuso, não é uma questão contextual, mas de natureza do poder, ou melhor, do poder-sobre, nos termos dele).
Mas no que importa, a questão que se coloca é tomar o poder do Estado ou não tomar o poder do Estado. E quanto a isso o artigo em nada inova. Foi basicamente essa questão que dividiu o socialismo entre ‘libertários’ e ‘estatistas’, e depois em marxistas e anarquistas.
Há algumas questões que os marxistas nunca me responderam ou nunca encontrei uma resposta vinda de um marxista (ou seja, há uns 20 anos). Se é a estrutura (economia) que determina a superestrutura (todo o resto), logicamente a fonte de poder na sociedade está na economia, e a burguesia é a classe dominante exatamente pelo seu poder econômico. Então se para mudar o mundo é necessário tomar o poder, por conseqüência lógica, deve-se tomar antes de mais nada o poder econômico. Afinal, seria o econômico que determinaria o político e não o contrário (nesse aspecto os anarquistas sempre foram mais marxistas que os marxistas).
Os marxistas seriam assim mais conseqüêntes para tentar mudar o mundo tomando o poder se, ao invés de tomarem o poder do estado, tentassem tomar o poder das empresas, se colocando no lugar dos seus gestores ou proprietários.
Para descermos ao chão do empírico, os zapatistas por exemplo mudaram o “mundo” tomando algum poder (estatal)? Não. Mudaram seu “mundo” tomando o poder econômico, os meios de produção. E a partir dessa tomada dos meios de produção que fundaram seus organismos políticos de autogoverno. (sobre isso: http://passapalavra.info/?p=2280 ).
No comentário do Rodrigo Gonçalves ele diz a certa altura que as teses de Wallerstein, Holloway e Negri «não dão prioridade à luta política ou à conquista do Estado para a mudança radical na sociedade». Eu até posso concordar em termos genéricos com esta caracterização (igualmente mto genérica). O problema é que a elaboração do autor cheira a demasiada colagem entre a luta pela mudança radical da sociedade e a conquista do Estado… Ora, se eu acho importante a tomada do poder de Estado, considero que isso é só um aspecto num processo muito mais vasto de uma profunda transformação social, de uma transformação das relações sociais. Espantoso como grande parte da esquerda de hoje pouco reflecte sobre a natureza das relações de trabalho e da exploração e como trata as empresas (a instituição mais totalitária da contemporaneidade) de modo completamente displicente…
João Valente,
Concordo contigo sobre o processo ser muito mais vasto, mas acho, talvez com Rodrigo, se é que o compreendi, que a crítica ao Estado tem sido limitante porque em tempos de raciocínio dogmático, espremido entre a falta de conhecimento das bases do que se pensa e o medo de ridículo que faz com que estejamos o tempo inteiro em busca do mestre ideal a ser seguido, um dos dogmas seja ficar bem distante de uma certa parte do aparato estatal (a atuação na universidade, não sei bem com qual pretexto, recebe licença poética).
Então, um dos únicos bloqueios que de vez em quando a gente consegue furar fica também obstruído por conta da coerência com o pensamento de alguns mestres que ainda estamos nos esforçando por compreender.
Sobre o estudo da economia burguesa, a conversa me fez pensar (não pela primeira vez, no caso das discussões que acompanho aqui) em Milton Santos e nos grupos de pesquisa relacionados a ele. Que lêem Saint-Simon, assinam a gazeta mercantil (acho que o financial times não, mas não tenho certeza), teorizam sobre a territorialização das normas através das firmas, mas ao mesmo tempo dizem que não podemos nos prender a discussões orçamentárias, que o ser humano tem que ser o eixo das propostas, que é necessário rever a natureza da civilização. Me parece muito coerente, de verdade. Eu só queria entender COMO compreender as minúcias do sistema de crédito e da territorialidade das normas que ele produz vai me ajudar a trazer o ser humano para o eixo das preocupações.
E ok, agora estão ali em cima citando Bakunin (e não mais Lênin). Seria interessante dizer de que se trata a revolução, afinal de contas.
Boa lembrança essa do Przeworski! Ainda tenho comigo um livrinho dele editado pela Cia das Letras, de que guardei este trecho:
“Defrontados com uma crise econômica, ameaçados com a perda de apoio eleitoral, preocupados com a possibilidade de uma contra-revolução fascista, os socialdemocratas abandonam o projeto de transição ou ao menos ficam à espera de tempos mais auspiciosos. Encontram coragem para explicar aos trabalhadores que é melhor ser explorado do que criar uma situação que contém riscos que podem se virar contra eles. Recusam-se a empenhar seu futuro numa piora da crise. Dispõem-se ao compromisso, e a defenderem-no perante os trabalhadores. A questão que permanece é saber se existe um caminho de escapar à alternativa traçada por Olof Palme: ‘retornar a Stálin e Lenin ou tomar o rumo da tradição social-democrata’.”
O fascismo, como sintetizou J. Bernarso, é uma revolta dentro da ordem, para preservar o poder economico. Ou o Estado mira a ordem democratica, ou só nos restará retornar a Lenin.
Excelente artigo, inclusive pelo que dele se possa discordar.
11 depois, em meio a uma crise climática sem precedentes, o que mudou? O que se confirmou?
Quais os exemplos concretos atuais?
• os limites do EZPL.
• os Curdos no olho da tormenta.
• as insurreições abortadas antes de se parir um processo revolucionário.
• as micro e nano experiências como embrião de outras relações sociais.
Como fazer a Revolução no séc. XXI?
https://m.youtube.com/watch?v=1JdquvCjcXo