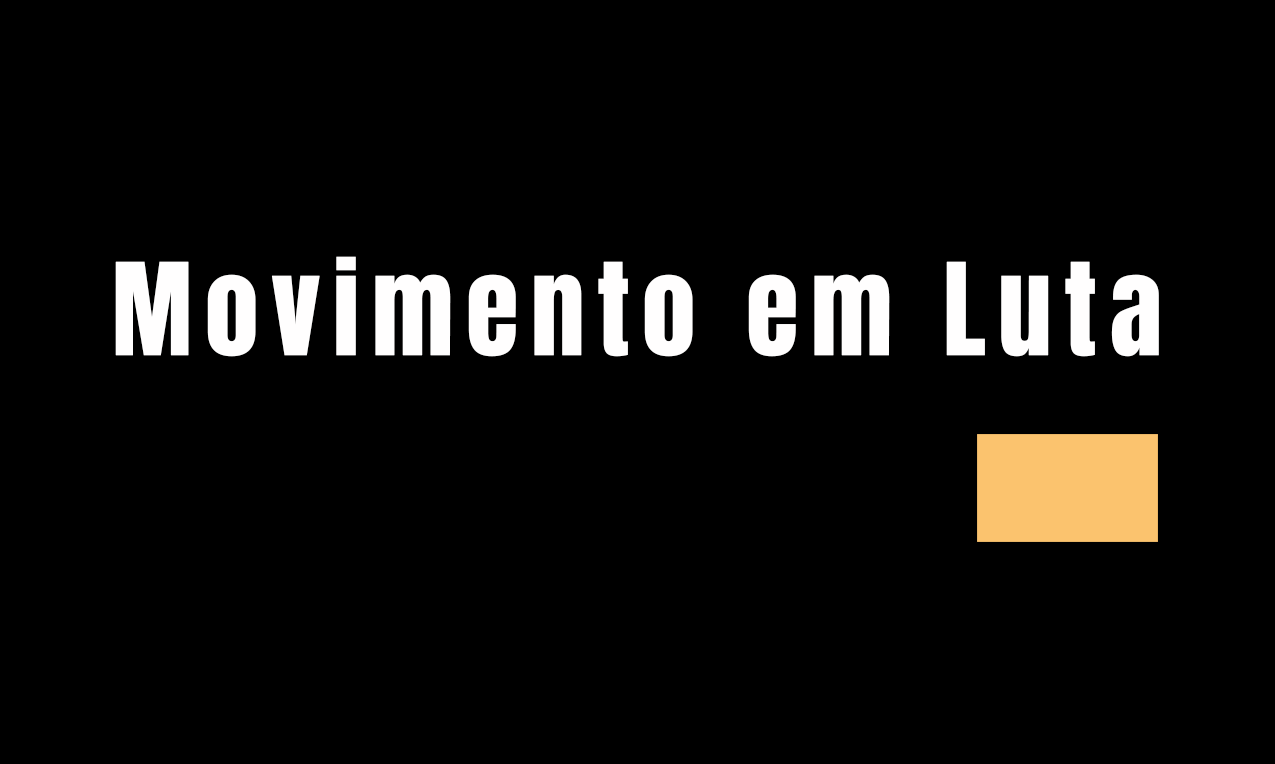Da chacina de 2003 à UPP: o Borel como exemplo de mobilização das favelas contra a violência do Estado
2013-04-21
Quem hoje houve falar que tornou-se comum policiais serem afastados ou expulsos de suas corporações por abusos ou violações de direitos, ou mesmo que são levados a julgamento pelos crimes que cometem (embora isso com muito menos freqüência do que deveria ser), dificilmente irá imaginar que há apenas 10 anos atrás a realidade era bem diferente.
Em 2003, o povo pobre do Rio de Janeiro, principalmente os milhões de moradores de suas centenas de favelas, era submetido ao terror silencioso das ações policiais. Invasões de domicílio, prisões arbitrárias, agressões e espancamentos, torturas, execuções sumárias, eram tão ou mais comuns que hoje em dia, mas naquela época levantar a voz contra isso tudo era muito difícil e arriscado.
Havia 10 anos, o país ficara estarrecido com duas chacinas grotescas cometidas por policiais, Candelária e Vigário Geral, que revelara ao mundo todo o horror da violência policial no Brasil. Defensores dos direitos humanos, sobreviventes e testemunhas destes dois casos, bem como do seqüestro e desaparecimento dos onze jovens de Acari em 1990, foram ameaçados, assassinados (como Edméia, mãe de Acari, em 1993, e policiais envolvidos no caso de Vigário), sofreram atentados ou tiveram que deixar o país (como Caio Ferraz, atuante em Vigário, e Wagner dos Santos, sobrevivente da Candelária). Poucos policiais haviam sido condenados (nenhum – até hoje – no caso de Acari), as investigações e os processos entravados por falhas (propositais) e burocracia, enquanto as chacinas continuavam…
É de se admirar que poucas pessoas, nas comunidades e fora delas, se aventurassem a denunciar as atrocidades policiais, quanto mais a lutar por justiça? A principal e honrosa exceção era um corajoso grupo de familiares de vítimas, cujas pioneiras foram as Mães de Acari, que desafiavam o preconceito e os riscos lutando por justiça, e tentando sensibilizar uma sociedade em parte calada pelo medo, e em parte embriagada pelos perversos discursos de “guerra contra a criminalidade”.
A chacina
Em abril de 2003, parecia que mais um capítulo dessa apavorante história de terror e medo estava sendo escrito. No final da tarde do dia 16 de abril, dezesseis policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma operação no morro do Borel, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Impedidos de se identificarem, quatro rapazes foram assassinados durante a operação: Carlos Alberto da Silva Ferreira, pintor e pedreiro; Carlos Magno de Oliveira Nascimento, estudante; Everson Gonçalves Silote, taxista; e Thiago da Costa Correia da Silva, mecânico.
Carlos Magno de Oliveira Nascimento vivia com sua mãe e seu padrasto, na Suíça, onde estudava. Veio ao Brasil para se alistar no serviço militar e morava, provisoriamente, na casa da sua avó materna no morro do Borel. Naquela tarde do dia 16, foi encontrar com Thiago da Costa Correia, seu amigo de infância, na barbearia para cortar o cabelo. A barbearia, que era muito procurada pelos moradores mais jovens do Borel, fica na Estrada da Independência, uma das principais vias que sobem o morro e por onde é possível transitar de carro. Quando Magno e Thiago saíram do barbeiro, escutaram os tiros e correram. Carlos Alberto da Silva Ferreira, outro morador da comunidade que tinha acabado de chegar na barbearia, também ouviu os tiros e correu. Pensando que os tiros estavam vindo de baixo, da própria Estrada da Independência, os três rapazes atravessaram a via e entraram numa vila bem em frente, conhecida como Vila da Preguiça.
Ao entrar na Vila da Preguiça, os três rapazes foram alvejados. Um grupo de policiais estava na laje de uma casa em construção na mesma vila onde entraram os rapazes e de cima da laje partiram os primeiros disparos. Magno, que tinha 18 anos, morreu na hora: levou seis tiros, dentre os quais três pelas costas (cabeça, braço direito e região escapular esquerda) e três tiros pela frente (ombro esquerdo, bacia e clavícula). Mas os tiros não partiam só de cima da laje. Thiago, que tinha 19 anos, ainda agonizou no chão pedindo socorro e dizendo que era trabalhador. Morreu após levar cinco tiros, quatro pela frente e um pelas costas (região dorsal direita). O laudo ainda atesta uma “alta energia cinética” na saída dos projéteis, o que demonstra que alguns dos disparos foram efetuados à “queima roupa”. Confirmando a versão dos disparos a curta distância, o laudo de Carlos Alberto também aponta para uma “alta energia cinética” na saída dos projéteis. “Carlinhos”, como era conhecido, tinha 21 anos. Sofreu doze disparos, sete deles pelas costas, além de fratura no antebraço e no fêmur. É importante observar que cinco dos disparos atingiram a parte interna do seu ante-braço direito e mãos direita e esquerda – o que demonstra que tentava se defender dos tiros efetuados contra ele.
Everson Silote, a outra vítima fatal desta operação, voltava para casa à pé quando foi rendido por policiais militares na Estrada da Independência. Como trazia na mão um envelope com todos os seus documentos, Everson tentou se identificar e, por esse motivo, teve seu braço direito quebrado por um golpe do policial. Afirmando ser trabalhador, insistiu em mostrar os documentos, mas foi executado antes de apresentá-los. Everson tinha 26 anos. Levou quatro tiros pela frente (dois em regiões vitais: cabeça e coração) e um pelas costas (próximo à coluna cervical).
Além das quatro vítimas fatais, essa incursão da polícia militar no morro do Borel deixou baleados Pedro da Silva Rodrigues e Leandro Mendes. Ao fim das quatro execuções, os policiais colocaram os corpos de Magno, Tiago, Carlinhos e Everson dentro do camburão que estava estacionado na saída da Vila, na própria Estrada da Independência. Nenhum morador da comunidade conseguiu se aproximar das vítimas, nem mesmo seus familiares. Tiveram que se contentar com as “instruções” dos policiais: “Se quiser ver vai atrás, no [Hospital do] Andaraí.”
Como sempre nesses casos, os policiais registraram as mortes como “autos de resistência”, ou seja, alegaram que haviam abatido os jovens num confronto armado. No entanto, as investigações do caso contaram com perícias realizadas pela Polícia Federal (maio/2003) e pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (junho/2003), que foram acompanhadas pelo Corregedor Geral da Polícia Unificada do Rio de Janeiro. A conclusão dos peritos foi de que os quatro rapazes haviam sido mortos numa emboscada. Emboscada contra quem e porquê?
Talvez nunca saibamos a resposta exata a essas perguntas, mas é importante recapitular alguns fatos das semanas anteriores. Operações violentas da polícia no Borel haviam provocado confrontos com protestos desorganizados de moradores nas ruas próximas, e inclusive uma tentativa de saque ao supermercado Carrefour, na Rua Conde de Bonfim. O comandante do 6o BPM na época, coronel Murilo Leite, conhecido por sua truculência, prometera “resposta dura contra os bandidos” a empresários e figurões da Tijuca. Poucos dias depois acontece a chacina, que toda a comunidade do Borel interpretou como uma represália generalizada e absurda contra a favela.
A mobilização da favela
A indignação uniu toda a comunidade aos familiares das vítimas, e juntos avaliaram que, embora fosse uma atitude justa, pouco efeito teria a comunidade se limitar a um protesto momentâneo, fechando a rua e queimando ônibus, por exemplo. Foram auxiliados nessa reflexão por ativistas que estavam na comunidade ajudando num projeto de capacitação de moradores da própria comunidade para assumirem programas sociais locais. Resolveram então convocar a comunidade para preparar um protesto organizado.
Numa assembléia na associação de moradores, com grande participação de pessoas da comunidade e familiares de todos os jovens mortos, ficou decidido que seria realizada uma marcha em silêncio pelas ruas da Tijuca. Estavam presentes grupos religiosos, de mulheres e de jovens e muitos moradores da comunidade da Indiana, vizinha ao Borel. Foram convidados a contribuir e participar outras comunidades da Tijuca (que vinham passando por problemas semelhantes com o comando do cel. Murilo Leite) e movimentos populares. Um documento de denúncia foi preparado e encaminhado às autoridades federais, inclusive o presidente da República. No dia 23/04 foi realizado um culto ecumênico lembrando uma semana da chacina e no dia 1º de Maio todos participaram da convocação e mobilização de toda comunidade para a marcha.
A esta altura nem as autoridades nem a imprensa haviam tomado conhecimento ou tomado alguma atitude sobre o caso. A grande imprensa continuava reproduzindo a versão da polícia de que os jovens eram traficantes mortos em troca de tiros. No dia 07/05 foi realizada a marcha, desde o Borel até a praça Saens Peña, com cerca de mil pessoas, organizadas, em silêncio, portando faixas e cartazes. O coronel Murilo tentou tumultuar a manifestação, provocando e exigindo que faixas com os nomes das vítimas fossem recolhidas pois seriam “apologia ao crime”. Vários policiais civis, militares e agentes à paisana também tentavam intimidar filmando e fotografando todo mundo. Mas a provocação e a intimidação não deram certo e a passeata foi encerrada com depoimentos e um culto ecumênico.
Durante toda a passeata, nenhum comerciante da Conde de Bonfim fechou suas portas, pois todo o comércio já havia sido avisado que passaria por ali uma manifestação organizada contra a violência. Todo aquele público de classe média da Tijuca, acostumado por preconceito ou devido às campanhas mentirosas da mídia, a ver os moradores das favelas como gente perigosa; viu com admiração e até com simpatia todas aquelas mulheres, homens e jovens se manifestando com firmeza e veemência mas sem nenhuma agressão gratuita a ninguém. Uma participação particularmente importante foi a da mãe da menina Gabriela do Prado Ribeiro, morta no dia 25/03 em tiroteio na estação São Francisco Xavier do metrô, caso que teve grande repercussão na classe média e foi amplamente divulgado pela imprensa, ao contrário do caso do Borel. A mãe de Gabriela solidarizou-se e disse que sua dor era a mesma dor das mães do Borel.
Mesmo após a manifestação a grande imprensa continuou a esconder a realidade, pois quase nada foi noticiado no dia seguinte, mas a verdade acabou se impondo. A governadora e o secretário de segurança convocaram os familiares para uma reunião onde prometeram justiça e indenização, mas foram só promessas. Finalmente autoridades federais e estaduais tomaram conhecimento do sofrimento da comunidade e no dia 22/05, mais de um mês após a chacina, foram ao Borel reunir-se com familiares e moradores. Reconheceram aquilo que quem mora em favela sabe há muito tempo: policiais usam um “kit assassino” (armas e drogas que são plantadas) para encobertar seus massacres. O secretário nacional de Direitos Humanos prometeu construir com recursos federais um centro sócio-cultural com o nome das vítimas (mais uma promessa jamais cumprida) e o secretário estadual de Direitos Humanos e responsável pela Corregedoria Geral Unificada comprometeu-se a tomar os depoimentos de testemunhas e investigar os assassinos. Tais investigações e a perícia levaram, em junho de 2003, o delegado Orlando Zaccone (19a DP) a indiciar apenas cinco dos dezesseis policiais envolvidos por homicídio qualificado. Mas o que garantiu mesmo que os policiais tenham sido levados a julgamento foi a coragem de moradores que não se intimidaram e serviram de testemunhas.
A partir da promessa do secretário nacional, a comunidade do Borel continuou dando prova de organização e independência, pois não se conformou em entregar a responsabilidade de apresentar o projeto do centro cultural a alguma ONG. Ao invés de cumprir de qualquer maneira o prazo de 20 dias estipulado pelas autoridades, a comunidade iniciou um rico processo de discussão e consulta a todos, colhendo sugestões, desde a mais modesta até a mais elaborada, de modo que o projeto apresentado foi efetivamente construído e pensado pela comunidade, e não por um punhado de “especialistas” e “lideranças” fechados em gabinetes. Entretanto, o poder público desprezou todo esse esforço e até hoje o centro sócio-cultural não saiu do papel. Mas a decepção estava apenas começando.
A luta por justiça
No dia 27 de outubro de 2004, o 3o sargento da PM, Sidnei Pereira Barreto, foi julgado na 2a Vara Criminal, II Tribunal do Júri (Rio de Janeiro) e absolvido por júri popular. No dia 14 de fevereiro de 2005, o 2o tenente da PM, Rodrigo Lavandeira Pereira, que comandou a operação no Borel, também foi julgado e absolvido pelo júri popular. Tais absolvições, mesmo diante da repercussão inclusive internacional do caso, demonstram as conseqüências de inquéritos e processos viciados, e do preconceito cristalizado na sociedade (no caso, refletido na atitude dos jurados). Lembramos ainda que os policiais tiveram como principal defensor Clóvis Sahione, um dos mais caros e polêmicos advogados do Rio de Janeiro.
No dia 18/10/2006 foi julgado e condenado o cabo Marcos Duarte Ramalho, a 52 anos de prisão, pelos homicídios qualificados e tentativa de homicídio. O julgamento atravessou a noite. Durante todo o tempo, as mães das vítimas Thiago (Dalva) e Carlos Magno (Marta) estiveram presentes, assim como familiares de outros casos de violência policial.
Como previa na época o Código Penal, o policial teve direito a um novo júri porque sua pena ultrapassava 20 anos de prisão. O novo júri aconteceu em 27/11/2006 e confirmou a condenação, alterando a pena para 49 anos de prisão (45 por três homicídios e 4 por uma tentativa de homicídio).
A condenação de Ramalho parecia ser o início da justiça no caso, e assim acreditavam os familiares das vítimas, entretanto ainda mais sofrimento e decepção as aguardavam.
Apresentando recursos em todas as instâncias possíveis, inclusive em Brasília, os policiais que restam ser julgados, Washington Luís de Oliveira Avelino e Paulo Marco da Silva Emilio, ambos também defendidos pelo advogado Clóvis Sahione, bem como por Amaury Jorio, outro conhecido e caro advogado carioca, conseguiram adiar por várias vezes a realização do júri. É bem pouco provável que os honorários de Sahione e Jorio tenham sido pagos pelos magros salários dos policiais.
No dia 12/03/2009 a 5a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, contrariando o parecer da relatora, a desembargadora Maria Helena Salcedo, decidiu por maioria aceitar o recurso apresentado pela defesa do cabo Marcos Duarte Ramalho, que já estava cumprindo pena, e anulou o julgamento de 27/11/2006. Como conseqüência, Marcos Duarte foi libertado e o novo julgamento foi adiado várias vezes, até sua absolvição, numa decisão absurda do júri.
Os policiais dispararam com armas de grosso calibre (fuzis) a pouca distância, o que é uma técnica habitualmente utilizada nas execuções sumárias, pois desta maneira os projéteis atravessam os corpos e não ficam alojados como prova. Mesmo assim, os exames cadavéricos e os laudos balísticos executados pela perícia conseguiram recuperar pequenos fragmentos nos ossos das vítimas e provar que os tiros partiram das armas de alguns dos policiais. Uma das armas cujo exame balístico foi positivo foi usada no crime pelo PM Paulo Marco da Silva Emilio, que foi julgado no dia 29/11/2010. O julgamento aconteceu menos de uma semana depois do início das operações policiais em reação a assaltos e incêndios de automóveis na cidade, e dois dias após a ocupação militar e policial das favelas dos Complexos da Penha e do Alemão, no final de 2010.
Embora todas as provas e evidências apontassem para a condenação de Emilio, a defesa do policial usou e abusou do clima existente, e estimulado pela grande imprensa, de “guerra da polícia heróica pela pacificação do Rio”, não apresentou argumentos factuais, fez um verdadeiro teatro, explorando ao máximo os preconceitos e emoções superficiais dos jurados. O próprio Emílio compareceu ao júri trajando uniforme operacional e colete à prova de balas, como estivesse vindo diretamente do “campo de batalha” para o julgamento. Como resultado, o PM acabou sendo absolvido, embora não por unanimidade (4 jurados contra 3), e a manipulação foi tão absurda que os jurados que votaram pela absolvição responderam inclusive, num dos quesitos, contra a prova dos autos, que a arma de Emílio não havia atingido nenhuma das vítimas!
Apesar das decepções com as promessas governamentais e o processo criminal dos policiais, a mobilização do Borel marcou época na história da luta contra a violência do Estado no Rio e no Brasil. Diversas outras comunidades também se mobilizaram em 2003 e 2004 (Acari, Manguinhos e Caju, por exemplo), e em abril de 2004 uma grande passeata, lembrando um ano da chacina, reuniu centenas de familiares de vítimas e moradores de favelas em frente ao Palácio Guanabara, residência do governador. Desta manifestação nasceu a nossa Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que coordena há quase dez anos uma luta cotidiana pelo direito das comunidades à vida e à paz. Em 2003, ainda era muito raro policiais irem a julgamento por crimes cometidos contra moradores de favelas ou mesmo do asfalto, hoje é difícil haver um mês em que não haja alguma audiência ou julgamento de policiais militares ou civis, e isso é fruto da organização e luta por justiça que cresceu desde então.
É verdade que, como no próprio processo do Borel, as manobras, manipulações e o preconceito tornam muitas vezes difícil a condenação dos agentes do Estado, mesmo quando as provas são abundantes e consistentes. Nossa luta então ainda tem muito que avançar, inclusive para que os oficiais superiores dos policiais que cometem os assassinatos e outros crimes, como o cel. Murilo Leite no caso do Borel, também sejam responsabilizados e levados a julgamento.
Hoje: Borel “pacificado”?
Nesses últimos dez anos, também a abordagem da grande imprensa e do próprio Estado mudou um pouco, graças às lutas das comunidades. Hoje em dia é muito difícil deixar de falar em violência e abusos policiais, e omitir as palavras e versões dos moradores das favelas, como se fazia antes. O próprio Estado foi obrigado, após muitas tragédias e lutas, a mudar em parte seu discurso de confronto e “guerra ao tráfico”.
Se o discurso mudou, a realidade da violência estatal pode ter mudado um pouco de forma, mas continua oprimindo as comunidades. Uma prova é que, apesar de toda a propaganda sobre o suposto “sucesso” do programa das UPPs, o governo estadual anunciou em janeiro a compra de 8 novos blindados (caveirões), mais caros e mortíferos, de uma empresa sul-africana, o que vai aumentar a frota desses veículos de guerra de 20 para 28, a serviço das polícias militar e civil. Se a “pacificação” e o “policiamento comunitário” estão dando certo, como se anuncia triunfalmente todo dia, o que justifica esse reforço da política de guerra e confronto por parte do Estado?
Na verdade, como nós da Rede contra a Violência temos denunciado desde o início, as violações de direitos nas favelas ocupadas pelas UPPs têm sido grandes e freqüentes, incluindo execuções sumárias em várias comunidades, desde o assassinato de André de Lima Cardoso Ferreira no Pavão-Pavãozinho em junho de 2011. Passado um período inicial de expectativa, os moradores das favelas “pacificadas” começam a se mobilizar contra essas violações, e também nessa nova fase da luta o Borel foi pioneiro.
No dia 28/11/2012, os policiais da UPP da Borel que estavam no plantão da noite percorreram a comunidade impondo um completo “toque de recolher” a partir das 21h. De armas em punho, dirigindo-se aos moradores de forma truculenta e ofensiva, obrigaram o fechamento do comércio, expulsaram os moradores das ruas e disseram que sequer nas portas de suas casas podiam ficar.
Esse foi o último episódio de uma série de abusos cometidos pela UPP local, em particular o grupo de policiais que faz parte desse plantão noturno. A ocupação pela força policial, longe de “libertar” a comunidade do domínio armado de traficantes, como se apregoa, na verdade está substituindo um controle armado por outro, também arbitrário e violento. O espaço público não está sendo devolvido à comunidade, mas restringido pelo controle e violência policiais.
A rede de entidades do Borel vem se preocupando há muito tempo com a escalada dos abusos e, diante do “toque de recolher” ilegal e absurdo imposto à comunidade, decidiu iniciar uma mobilização para denunciar as violências. No dia 05/12/2012, mais uma vez a favela do Borel fez história. O movimento Ocupa Borel, inspirado nas mobilizações internacionais de ocupação de lugares públicos para protestar contra os poderes que agridem os direitos das pessoas, foi convocado via redes sociais e, principalmente, no “boca-a-boca”.
Inicialmente apreensivos com a mobilização, feita em menos de uma semana, bem como com a possível reação da polícia, os organizadores logo foram surpreendidos pela adesão maciça de moradores, principalmente dos jovens da comunidade. Após se concentrarem na Rua São Miguel, em frente ao CIEP Doutor Antoine Magarinos Torres Filho, com aparelhagem de som e a fundamental presença da bateria da Unidos da Tijuca, o protesto se transformou num verdadeiro baile na rua, o que também foi muito simbólico, já que os bailes funk estão proibidos na favela desde a implantação da UPP em junho de 2010.
Mas a Ocupa não ficou por aí, todos sentiam que era necessário entrar na favela mesmo, para sentir se o desafio ao toque de recolher estava sendo bem sucedido. Embalados pela bateria e por uma “comissão de frente” formada por jovens levando cartazes, a Ocupa subiu a Estrada da Independência, principal via do Borel, até o largo conhecido como Terreirão, tradicional ponto de eventos da comunidade.
Em todo o trajeto e no final, ficou evidente que o toque de recolher havia sido completamente desmoralizado. Os policiais limitaram-se a ficar observando toda a manifestação, visivelmente contrariados, mas não cometeram nenhuma atitude truculenta. Pelas rua e becos, bares abertos, as pessoas na rua, nas janelas e em frente às suas casas, dançando ou simplesmente observando e aplaudindo.
Embora a esmagadora maioria dos participantes fossem moradores da comunidade, foi muito importante a presença de apoiadores externos, como universitários, funkeiros de outras comunidades, movimentos sociais, imprensa alternativa, etc.
Mais uma vez os moradores do Borel mostraramm que é na rua e na mobilização direta que devemos desafiar a violência do Estado, em suas faces velhas e novas, e fazer valer os direitos e a dignidade do povo pobre e negro.
Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência


![[SP] 13.12 – Inauguração do Centro de Memória e Resistência da Favela do Moinho](https://passapalavra.info/wp-content/uploads/2020/03/MOVIMENTO_LUTA-1.png)