Para os companheiros do Espaço Cultural Mané Garrincha e, sobretudo, para meu grande amigo Carlos (o Carlão). Por Douglas Rodrigues Barros
Toda a série poderá ser lida clicando aqui.
No princípio era ação!
Ao começar a biografia de Teotônio, tal como me foi passada, sentia-me um tanto perplexo. Por um lado, em algum momento, na história da esquerda, a literatura parece ter se tornado “coisa” menor; “Para que ler ficção com tanta coisa importante à se fazer?”, perguntam algumas dezenas de vulgares. Por outro lado, há uma desconfiança geral que aponta que a única coisa que se formou no Brasil foi a literatura em toda plenitude. Desde, pelo menos, os tempos de Machado, o escritor, ou aquele que se julga assim, está imiscuído nas coisas de seu tempo. Por isso, decidi enfrentar a tarefa de escrever sem abandonar os problemas que permeiam nossa época. Ora, não quero aqui discutir uma tímida recepção da minha novela, pois não sou o crítico mais recomendado para tal tarefa. Quero discutir, sim, um problema que parece impregnar a recém esquerda; a suposta desvalorização do único lugar onde a nossa experiência cultural e intelectual parece ter se constituído plenamente, isto é, a literatura.
 Desde os primórdios do pensamento crítico literário brasileiro há uma séria dicotomia vista e revista entre o nacional e o estrangeiro, o interior e o exterior, a dependência e a independência cultural. A crítica literária recente procurara definir a autonomia da cultura brasileira. Mas que autonomia pretende ela? Não basta de modo algum investigar a quem supostamente se deveu ou se deverá a autonomia da literatura e arte nacional como um todo. Toda crítica deveria ter uma terceira coisa a fazer, a pergunta; de que espécie de autonomia se trata? Que condições estão fundadas no interior da emancipação cultural? Na questão aberta, apenas a crítica à própria ideia de emancipação cultural era a crítica final da questão de sua autonomia[1].
Desde os primórdios do pensamento crítico literário brasileiro há uma séria dicotomia vista e revista entre o nacional e o estrangeiro, o interior e o exterior, a dependência e a independência cultural. A crítica literária recente procurara definir a autonomia da cultura brasileira. Mas que autonomia pretende ela? Não basta de modo algum investigar a quem supostamente se deveu ou se deverá a autonomia da literatura e arte nacional como um todo. Toda crítica deveria ter uma terceira coisa a fazer, a pergunta; de que espécie de autonomia se trata? Que condições estão fundadas no interior da emancipação cultural? Na questão aberta, apenas a crítica à própria ideia de emancipação cultural era a crítica final da questão de sua autonomia[1].
Entender tais pressupostos não é se apegar em um de seus polos – interior e exterior, nacional ou estrangeiro –, mas, observar que sua problemática é para nós algo sério e que abre uma janela para a compreensão do papel da literatura em nossa formação espiritual. Ademais, esse problema poderia esclarecer como, nos assim chamados “outros âmbitos do espírito”, permanecemos dependentes e para alguns “ainda colonizados intelectualmente”. Tal preocupação, infelizmente, parece ter sido alijada de alguns flancos de parte da esquerda ou rebaixada pelas intransigências dos trabalhos – alienados – da tediosa militância[2]. No espaço desse posfácio não posso, contudo, responder a esses impasses, mas, deixá-los aí apontados já é algo significativo.
É preciso, antes de mais nada, e em atenção a esse problema, destrinçar, nisso, uma formação que encontra, fora das instituições, local adequado para florescer. Os negros, Lima Barreto e Machado de Assis, não parecem tipos que seriam aceitos nas respeitáveis instituições acadêmicas. Tudo isso nos leva à necessidade de estabelecer a este respeito algumas hipóteses cuidadosamente formadas; a literatura nacional se emancipa culturalmente nas mãos de oprimidos raciais. É desta última forma que tem sido mais ou menos julgado o edifício literário, numa ironia própria a estes trópicos, que conseguiu criar uma forma dinâmica e especialmente arraigada na nossa cultura.
 Em Literatura e Cultura de 1900 a 1945[3], o grande crítico, Antonio Candido, deixa assinalado à tensão existente entre a localidade regional e os modelos herdados da tradição europeia. Tensão que em outras manifestações intelectuais permanece a despeito dos avanços. Localidade regional e modelo tradicional europeu, segundo o crítico, caminham para uma integração progressiva da experiência literária e espiritual assinalando momentos de equilíbrios que estão reconhecidos na grande lavra de nossa literatura. Essa forte tensão inicial, entretanto, torna-se amena conforme os desenvolvimentos econômicos e espirituais, dessa velha colônia, vão, aos poucos, se processando. Assim sendo, há para o crítico dois momentos centrais “que mudam os rumos e vitaliza toda inteligência, o romantismo no século XIX e o ainda chamado modernismo”.
Em Literatura e Cultura de 1900 a 1945[3], o grande crítico, Antonio Candido, deixa assinalado à tensão existente entre a localidade regional e os modelos herdados da tradição europeia. Tensão que em outras manifestações intelectuais permanece a despeito dos avanços. Localidade regional e modelo tradicional europeu, segundo o crítico, caminham para uma integração progressiva da experiência literária e espiritual assinalando momentos de equilíbrios que estão reconhecidos na grande lavra de nossa literatura. Essa forte tensão inicial, entretanto, torna-se amena conforme os desenvolvimentos econômicos e espirituais, dessa velha colônia, vão, aos poucos, se processando. Assim sendo, há para o crítico dois momentos centrais “que mudam os rumos e vitaliza toda inteligência, o romantismo no século XIX e o ainda chamado modernismo”.
É necessário, sob este ponto, rejeitar qualquer esquema simplista e fazer um esforço objetivo, livre do fermento de combatividade e da voz panfletária que sempre ecoa em nós. Candido observa que essa diferença entre o velho mundo e o novo será uma constante. No modernismo engendrará sua atividade que, pelo caráter combativo deste, não dilui a dicotomia, mas, do contrário ressalta a premente tarefa a se cumprir. Há nisso naturalmente um pensamento ingênuo que está ligado ao desenvolvimento das forças produtivas no interior do país aliado ao caráter nacional. Tal tarefa na cultura e, sobretudo, na literatura, caracterizará as preocupações e produções de um dos maiores nomes do modernismo; Mario de Andrade. Mario logo entendeu que a emancipação da cultura nacional é a emancipação da dependência frente à cultura europeia. Não por acaso, sua tarefa assumida no auxílio de poetas consistia em se ater a uma língua que emergisse desse amplexo único e fulminante que se chama Brasil. Este grande escritor e intelectual sabia que a cultura nacional em sua forma peculiar só poderia emancipar-se dos chistes europeus na medida em que a cultura nacional se tornasse independente deles. Ou seja, na medida em que a cultura nacional, como cultura se assumisse e se confessasse enquanto tal por meio do desenvolvimento técnico e espiritual. Por isso dizia: “acho que nosso trabalho tem de ser principalmente por enquanto empregar desassombradamente todos os brasileirismos tanto sintáticos como vocabulares e de todo o Brasil e não da região a que pertencemos[4].”
Podemos observar, assim, que a questão nacional e sua emancipação em termos culturais são, simultaneamente, a dissolução do velho elitismo repousado nas estruturas arcaicas e conservadoras de uma “Cultura” alheia aos trabalhadores[5]. A revolução empreendida pelo modernismo é a revolução da criação da consciência nacional que desembocará no seu próprio autoconhecimento e, não nos esqueçamos, nos seus limites. Qual era o caráter então da velha cultura defendida pela elite pré-moderna[6]? O Servilismo infantil. A velha cultura tinha imediatamente um caráter de dependência cultural e desejo de ser outro, isto é, o europeu.
 Entretanto, a elaboração e construção do idealismo da consciência nacional foi, simultaneamente, o fim da transformação da sociedade brasileira como um todo; um ponto nevrálgico na consciência do desenvolvimentismo que fora interrompido nos idos de 1964. O balançar da transformação cultural foi, simultaneamente, o balançar das correntes econômicas, políticas e espirituais que desembocaram na instauração do terror ditatorial. A emancipação cultural foi, simultaneamente, a emancipação dos brasileiros relativamente à cultura, emancipação relativa à aparência de um conteúdo universal. E dessa forma, o caminho foi aberto para a indústria cultural que, se timidamente agiu nos anos getulistas, avança a largos passos com o apoio do governo ditatorial.
Entretanto, a elaboração e construção do idealismo da consciência nacional foi, simultaneamente, o fim da transformação da sociedade brasileira como um todo; um ponto nevrálgico na consciência do desenvolvimentismo que fora interrompido nos idos de 1964. O balançar da transformação cultural foi, simultaneamente, o balançar das correntes econômicas, políticas e espirituais que desembocaram na instauração do terror ditatorial. A emancipação cultural foi, simultaneamente, a emancipação dos brasileiros relativamente à cultura, emancipação relativa à aparência de um conteúdo universal. E dessa forma, o caminho foi aberto para a indústria cultural que, se timidamente agiu nos anos getulistas, avança a largos passos com o apoio do governo ditatorial.
Encarada deste modo, a nossa indústria cultural, com o financiamento do Estado ditatorial, inundou o recém grande mercado cultural de música, filme, literatura e teatro feitos por agências de publicidade. E assim, a esquerda perseguida, atormentada, desbancada e morta perdeu força e hegemonia, sendo substituída pela produção de massa. Resignação triste e permanentemente receosa até os dias atuais e, que não nos esqueçamos: cobra seu quinhão. Não se trata aqui, obviamente, de nostalgia, ou de crer ser os anos anteriores ao golpe perfeito. Pelo contrário, trata-se de reconhecer os problemas gerados pela ditadura que alijou parte da esquerda atual da participação nas manifestações culturais, ao mesmo tempo em que lançou um apego pela atividade obrerista e alienada no interior das seitas e partidos.
Felizmente, busca-se ainda em poucos lugares oxigenados no interior da esquerda uma interpretação teórica que, ao lançar luz sobre a obra literária e as artes no geral, lance também luz sobre o mundo circundante.Vale ressaltar também que nunca nossa excelente crítica, pré-golpe, se contentou com a história oficial e a essência da dita grande literatura. A honestidade intelectual mostra que isso é impossível num país racista em que obras de um negro – Machado de Assis – tenham ganhado dimensões universais. Assim jamais o nosso “cânone crítico” dispensou a forma, por ser ela tão essencial quanto à crítica quanto a crítica é essencial a si mesma. E para a esquerda fica a velha lição de que não se pode exprimir uma interpretação dessas obras como obra apenas, isto é, como pura manifestação artística. E se fui minimamente sério em minha novela, o mesmo poderá ser dito dela.
***
Por fim, agradeço sinceramente ao coletivo Passa Palavra pela paciência e disposição em lançar meu folhetim. Este site constitui, sem dúvida, um periscópio que nos faz, em meio a neblina extrema de dias tão confusos e enfadonhos, enxergar ao longe, nos faz enxergar “debaixo das pedras da calçada, a praia!” que sonhamos.
Notas
[1] Porque a crítica atual não eleva a questão a esse nível, cai em contradições. Coloca condições que não estão fundadas na essência da própria independência cultural. Levanta questões que o seu problema não contém e resolve problemas que deixam pendente sua questão.
[2] Desculpem-me a franqueza, mas só quando conheci Augusto Boal pude perceber como as “tarefas militantes” são tão alienadas como um trabalho numa ONG; obviamente não estou chamando de “tarefa militante” as ações empreendidas atualmente, por exemplo, pelos alunos secundaristas e por todos os seus apoiadores que tentam derrubar a reorganização Alckmista! Que fique claro!
[3] In: CANDIDO, A. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul. 2008.
[4] Carta II – 2. 7. 1925.
[5] Ver: Memórias Póstumas de Brás Cubas.
[6] Entendemos por velha cultura o total desligamento das características nacionais empreendidas pelo parnasianismo.


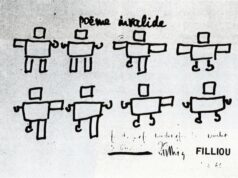




Não sei se o meu comentário não entrou o se já é recesso, então, aí vai novamente, em versão ligeiramente alterada.
Olá, Douglas,
Antes de mais nada, queria parabenizá-lo pela bonita novela que você escreveu. Acompanhei capítulo a capítulo com grande interesse.
Quanto ao posfácio, acho mais que oportunas as suas considerações sobre o papel essencial da literatura para a formação da cultura nacional, tendo em vista que em torno dela se reúne o melhor ensaísmo voltado à representação da realidade brasileira e que é imprescindível fazer com que ele supere os muros da academia. Dito isso, no que toca a algumas de suas interpretações a partir de Antonio Candido, embora não pressuponha que haja entre nós uma taxativa divergência, tenho a impressão de que a ênfase sobre alguns aspectos resultou em diferenças significativas e até, conclusões opostas. Acho que considerando alguns desdobramentos da crítica de Antonio Candido, a partir do discípulo Roberto Schwarz fica mais fácil explicar.
Em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que você afirma que não deve haver uma oposição radical entre os polos interior e exterior, nacional e estrangeiro, dependência e independência cultural, fala em “emancipação cultural” da literatura nacional e ainda em amenização da tensão entre esses dois polos, a partir dos desenvolvimentos econômicos e espirituais – na valorização desses desenvolvimentos, acho que já temos uma primeira desmedida. Com isso, contraditoriamente, você se apega ao polo nacional e mesmo a um certo ideal nacionalista. Na mesma linha de raciocínio, mais adiante você aprecia o fato de que “Mário de Andrade logo entendeu que a emancipação da cultura nacional é a emancipação da dependência frente à cultura europeia”. Na verdade, em que pesem todos os reconhecidos méritos de Mário de Andrade, nem por isso ele deixa de ser criticado pela ilusão com o nacionalismo. Acredito que para fazer juz à integração progressiva entre os dois polos de influência sobre a cultura, interno e externo, tese de Antonio Candido que explica, como você refere, o processo pelo qual se tornam possíveis autores universais como Machado de Assis, seria preciso considerar que a tensão entre os extremos não se “dissolve” pura e simplesmente, mas se resolve num outro patamar. A dependência em relação à cultura europeia é real e não poderia ser abstraída, ao contrário, ela é refletida a partir do ponto de vista da experiência intelectual local. Nessa dinâmica não sobrevive nenhum conteúdo especificamente nacionalista. Na verdade, do encontro da cultura local com a europeia, que não é o encontro da cultura de nações iguais e respeitadas, mas sim, da matriz do império com sua periferia miserável e dependente, não sobra sequer um conteúdo propriamente positivo de representação da realidade social. A crítica de Roberto Schwarz, que dá prosseguimento, mas também retifica, a análise de seu mestre, Antonio Candido, mostra que a universalidade dos romances machadianos não se expressa de maneira “afirmativa”. Ao contrário, ela consiste em expor o caráter ideológico dos próprios ideais iluministas, na medida em que traz à tona o uso arbitrário e grotesco que a classe dominante brasileira fazia — e faz – deles em seu próprio benefício. Na periferia do sistema, as ilusões de progresso e desenvolvimento, de inspiração iluminista, se esborracham porque a desigualdade social é muito maior e gritante, este fato se reflete na crua arbitrariedade e no cinismo das classes dominantes. É isso que desqualifica o ponto de vista universal, sem que, entretanto, a realidade local saia engrandecida por causa disso. Ressalve-se apenas que extraímos do episódio uma vantagem no sentido crítico, porque a bizarria que parecia concernir exclusivamente à singularidade do país, revela ser, na verdade, uma tendência, ainda oculta na época de Machado, da própria lógica do capital. De maneira que já aparecia por aqui o diagnóstico que ainda não podia ser conhecido na Europa. De resto, assim como a efetividade dos valores iluministas é desmentida em face de sua instrumentalização pela ordem dominante, percebe-se que a própria ideia de nação também não corresponde a qualquer realidade efetiva.
Tampouco me parece justo caracterizar o modernismo como combativo, sem mais. É verdade que ele foi de vanguarda, mas conservou um forte viés de classe dominante – o que não concerne a Mário de Andrade, que é um modernista peculiar, o padrão da estética dita antropofágica que marca o modernismo é a obra de Oswald de Andrade, considerada genial. Pode ser que Antonio Candido abstenha-se um pouco nesse ponto, ao passo que a crítica de Roberto Schwarz é contundente. O convívio com o arcaísmo, o atraso e a modernização, que os modernistas exibiram com verdadeira irrerência ante os valores europeus, de fato, configurou-se largamente como conservadorismo, um oportuno escamoteamento de contradições sociais na medida em que, por meio do sincretismo modernista, elas deixavam de incomodar e exigir soluções e, convertidas em “vantagem”, viam-se elevadas ao prestígio de categoria estética.
Por último, ainda uma objeção quanto à definição do perfil de Machado de Assis, porque me parece proveitoso fugir do clichê generalizante. Tachar o escritor como “negro”, sem circunstanciar a realidade em que ele se insere, leva a falsas presunções. A condição social de Machado, à sua época, está longe de ser-lhe propriamente desfavorável: a começar porque é filho de mãe branca e pai “pardo”, forro. Ambos sabem ler e escrever, o que é um privilégio em sua sociedade; e são “agregados” de uma família ilustre, condição que, naquele contexto, os aproxima bastante da classe dominante, em que pese o vínculo humilhante da dependência. Além disso, Machado foi afilhado da proprietária da chácara em que a família viveu e beneficiou-se dessa sólida proteção. Em conclusão, sua situação social não reflete a dos negros de sua época (ver o artigo de Roberto Schwarz, “Duas notas sobre Machado de Assis”, em “Que horas são?”), dos quais, antes, ele se distingue.
Olá Cristina
Só agora consegui tempo para dialogar com a importante crítica que me fez nesse reduzido espaço voltado aos comentários.
Primeiramente, quero dizer que fico contentíssimo em saber que tenho leitores afiados e críticos como você. Quando decidi publicar minha novela no Passa Palavra intuitivamente acreditava nisso e sua manifestação só me fez perceber o quanto eu estava certo. Obrigado pela crítica ao posfácio e obrigado por ter acompanhado minha novela até seu desfecho.
Agora, vamos matutar nas ideias expostas ali e, quem sabe, possamos ter um dedinho de prosa que acredito que pelo tom em que se iniciou irá contribuir para nosso amadurecimento crítico conjunto.
Peço então licença para utilizar suas palavras e tentar demonstrar que não temos divergências taxativas nem conclusões opostas, pelo contrário, sua crítica me foi bem-vinda e pode elucidar coisas que não pude esclarecer dado os limites de um posfácio que visa claramente a polêmica com a dita “esquerda”.
Sendo assim, com licença:
“Em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que você afirma que não deve haver uma oposição radical entre os polos interior e exterior, nacional e estrangeiro, dependência e independência cultural, fala em “emancipação cultural” da literatura nacional e ainda em amenização da tensão entre esses dois polos, a partir dos desenvolvimentos econômicos e espirituais – na valorização desses desenvolvimentos, acho que já temos uma primeira desmedida. Com isso, contraditoriamente, você se apega ao polo nacional e mesmo a um certo ideal nacionalista.”
Cristina tem razão! Mas não inteira, o que coloco em discussão a todo momento no meu posfácio é a própria noção de “emancipação cultural” como fica claro nesse trechinho: “Na questão aberta, apenas a crítica à própria ideia de emancipação cultural era a crítica final da questão de sua autonomia”. A todo momento levanto a hipótese – implícita é verdade – de que é sob o véu de maia de um certo ideal nacionalista que desembocamos nos anos de ditadura.
Talvez, um trecho complicado de meu posfácio seja esse: “Ademais, esse problema poderia esclarecer como, nos assim chamados “outros âmbitos do espírito”, permanecemos dependentes e para alguns “ainda colonizados intelectualmente”.
A questão aí não é um problema meu, nem que advogo, porque se trata na verdade de um outro quid pro quo, qual seja: uma preocupação com a nacionalização do saber, a preocupação nacional de um pensamento nacional – algo infantil. A questão é: Por que a filosofia não se desenvolveu por aqui? O que por ser uma falsa questão, esclarece muitas questões reais.
Então você está absolutamente certa – quer dizer, pode não estar, mas concordo contigo – quando diz o seguinte:
“Mais adiante você aprecia o fato de que “Mário de Andrade logo entendeu que a emancipação da cultura nacional é a emancipação da dependência frente à cultura europeia”. Na verdade, em que pesem todos os reconhecidos méritos de Mário de Andrade, nem por isso ele deixa de ser criticado pela ilusão com o nacionalismo. Acredito que para fazer juz à integração progressiva entre os dois polos de influência sobre a cultura, interno e externo, tese de Antonio Candido que explica, como você refere, o processo pelo qual se tornam possíveis autores universais como Machado de Assis, seria preciso considerar que a tensão entre os extremos não se “dissolve” pura e simplesmente, mas se resolve num outro patamar. A dependência em relação à cultura europeia é real e não poderia ser abstraída, ao contrário, ela é refletida a partir do ponto de vista da experiência intelectual local.”
Nesse caso, só deixaria um adendo que: não é a síntese do dado externo e interno que possibilitam autores como Machado de Assis, não defendo isso e acredito que nem Candido. Numa análise mais criteriosa as coisas seriam muito mais complexas e dinâmicas que tal afirmação, e creio que eu… não a faço.
Que a tensão não se dissolve, mas se resolve em outro patamar, eis aí nosso total acordo o que nos faz chegar a conclusão seguinte em que tu dizes que a dependência em relação à cultura europeia é real e não pode ser abstraída. De acordo!
No desdobramento de seu comentário estamos juntos e acredito que ele foi gerado justamente pelo tom nacionalista mal resolvido do meu posfácio, o que faz com que sua crítica seja pontual e quem sabe ajude a elucidá-lo, uma vez que os caminhos do desenvolvimentismo nacionalista deram em alamedas tortuosas que levaram ao golpe de 1964 e, é mais ou menos por aí que vou.
Também concordo quanto a crítica ao modernismo e, sempre estive mais próximo de Mario do que dos outros precursores, fecho contigo – novamente – quando dizes que: “O convívio com o arcaísmo, o atraso e a modernização, que os modernistas exibiram com verdadeira irrerência ante os valores europeus, de fato, configurou-se largamente como conservadorismo, um oportuno escamoteamento de contradições sociais na medida em que, por meio do sincretismo modernista, elas deixavam de incomodar e exigir soluções e, convertidas em “vantagem”, viam-se elevadas ao prestígio de categoria estética.”
Quanto a Machado ser negro, não quis tachar, mas, por outro lado, deixar de lembrar desse aspecto formativo – em que pesem todos os benefícios que você elenca ao final – é ignorar que tal aspecto foi e, enquanto vivermos sob a tutela do capital, será fundamental para o entendimento de nossa literatura, sociedade e, no caso de Machado de sua obra. É esse “detalhe” que configura toda a nossa sociedade e estrutura todo o funcionamento do capital por aqui, mas, que até aqui foi aceito, mesmo por grandes críticos, como detalhe. (Não que fosse seu objetivo). Ao falar do “detalhe”, não falei do detalhe sem mais…
Por fim…
Agradeço pela recomendação do genial Schwarz prometo ler novamente com cuidado os dois ensaios e quem sabe possamos levar essa conversa para mais longe!
No mais,
Agradeço pelo ótimo comentário crítico!
Olá, Douglas!
Desculpe a demora em responder-lhe, é que no momento estou muito pressionada pela falta de tempo. Antes de mais nada, muito obrigada por seus comentários tão gentis e generosos. Como imaginava, há antes de tudo convergência em nosso ponto de vista. Se mesmo assim não desisti da observação, como mencionei, foi tentando contribuir para iluminar um pouco mais a perspectiva importante da qual partiu o seu prefácio: a centralidade da literatura na formação de uma cultura capaz de representar a realidade brasileira, inserindo-a na totalidade maior das relações sociais que a concernem, o que, por fim, nos levou ainda, enquanto país da periferia do capitalismo, a descortinar um ponto de vista privilegiado a partir do qual se opor à ordem existente. Tomara que essas ideias saiam da academia e comecem a fazer parte dos diagnósticos de época e das análises de conjuntura, como o seu texto começa a fazer!
Em todo caso, não vá imaginar que li muita coisa, o mínimo indispensável – por falta de fôlego, não de interesse – por exigências burocráticas.
Então, no mais, haveria ainda um esclarecimento e uma rusguinha. Não sei se entendi bem a sua restrição à maneira como tentei descrever o processo de integração entre os polos da cultura de influência local e externa. Síntese? Não sei. Será que você está pensando esse conceito num sentido muito específico? De qualquer forma acho que o nosso desentendimento não passa por aí. O que eu quis dizer é que quando a análise de Roberto Schwarz troca em miúdos a natureza da contribuição universal da obra machadiana, ela desvia do rumo a que, de outra maneira, levaria a análise de Antonio Candido. Esta última faz supor que através de um processo histórico de acúmulo e contribuições forja-se na periferia do sistema autores que concorrem positivamente para a literatura universal. Num segundo momento, Roberto considera que, se é fato que produzimos autores de alcance universal, por outro lado, não é verdade que países, como o nosso, colonizados, condenados ao subdesenvolvimento e à exploração pelos países centrais possam concorrer em igualdade de condições para o desenvolvimento da chamada “cultura universal”. A partir daí, o que ele verifica é que a contribuição que especifica a grandeza da obra machadiana é precisamente o desmentimento dessa cultura e de suas promessas. Há aqui uma negatividade que não está na análise pioneira de Antonio Candido.
Já quanto à nossa rusga, duvido que haja conciliação: destacar o fato de Machado ser negro, quando toda a opressão que dá significado a essa informação não a acompanha, é tirar a segregação racial, a que se quer aludir, do contexto social. Que sentido faz dizer que o autor era negro se isso não interferiu significativamente na sua carreira, que foi, antes, favorecida? Dissociando a “característica racial” do contexto que a torna significativa, é como se quiséssemos que a característica valesse por si mesma, isto é, como se a “raça” carregasse em si mesma a opressão social. Machado não sofreu o que sofreram a maioria dos negros de sua época, inclusive porque a discriminação racial não tem fundamento, de maneira que, suficientemente fora do cerceamento político e econômico em que ela se exerce, um homem, como Machado de Assis, pode desenvolver o seu talento com razoável liberdade, porque a “raça” por si só não o condena ao estigma. Vincular a opressão ao negro incondicionalmente é um grave equívoco do nosso tempo que tira do horizonte as causas socioeconômicas e confere aos oprimidos características intrínsecas, misfiticadoras, no fim das contas, convergentes com o status quo.
Cristina,
Não vá achar que me esqueci de nossa conversa. Estou infelizmente muito ocupado e gostaria de responder suas últimas provocações com um artigo, por isso, demorei. Ainda não fiz o artigo, mas agora clareou meu horizonte e posso retomar meu ócio criativo. Abaixo segue um esboço pequeno de algumas conclusões negativas e abertas que acabei chegando nos últimos dias:
Se olharmos retrospectivamente e nos dermos conta de que o processo de estruturação do valor que ergue e engendra o mundo social do capitalismo foi construído historicamente, formatando as categorias do esclarecimento (Aufklärung) e a construção da sociedade civil burguesa, notaremos, contudo que negros, mulheres e homossexuais foram alijados e considerados como párias ideologicamente. Desse modo, o negro não só tem seu status de sujeito longe dos ideais do esclarecimento, como a distorção (ou tentativa de enquadramento deste) nessa noção, guia a manutenção de produção e reprodução do capital. Adorno e Horkheimer desvendaram isso com muito sucesso há 68 anos atrás e até agora ainda patinamos nas mesmas questões.
Por isso, pode-se afirmar que por aqui o racismo é estrutural, visto que, não apenas, “legitima” o ilegitimável e constitui um estado de exceção no qual grande parte de sua população é considerada de categoria inferior, como tal quesito é aquilo que estruturou e mantém as relações sociais no interior desse sistema. Isso é efetivado para salvaguardar a manutenção do sistema imperante de capital dependente. Assim, contrariamente ao que dizia o nosso grande Caio Prado: o desenvolvimento do capital não foi capaz de absorver e evanescer a questão racial/sexual.
Com isso exposto não é difícil chegar à conclusão de que o negro (mas, não só ele) no capital não é considerado um sujeito. É preciso salientar que diante dessas conclusões teóricas abre-se um oceano de questionamentos que infelizmente não foram levadas adiante porque a maioria dos teóricos que se debruçam sobre o tema se perderam nas infinitas categorizações pós-modernas. Ou ainda, na simples afirmação identitária que ao invés de guiar para uma emancipação efetiva frente ao sistema imperante, levou – e leva – à uma aceitação do sistema e sua modernização. Isso se deu em grande medida porque a relação racial compreendida como relação de cisão não foi considerada sistematicamente. Muito raramente os teóricos do problema racial fazem referências ao sistema que projeta as relações sociais. Muitos desses teóricos deixaram de lado uma análise que se debruce sobre o fundamento do fetichismo e da cisão racial/sexual.
Nesse sentido, Cristina meu ócio criativo atualmente se desenvolve em como compreender isso no nível digamos, espiritual – e espero que os marxistas de plantão não vejam no espírito algo idealista e abstrato como foi moda durante todo o período de tradição engendrado pela URSS – pois o marxismo tradicional deixou de lado a abstração real que promove a cisão acreditando num materialismo empírico e positivado chamado, no laboratório stalinista, de marxismo-leninismo. Estes até hoje alcunham o pensamento hegeliano de idealismo abstrato porque uma moda desgraçada quis jogar o pensamento hegeliano na lata de lixo da história e tratá-lo como cachorro morto. Felizmente anos depois do desmonte do chamado “socialismo realmente existente”, novamente se oxigena alguns poucos espaços preocupados em reavaliar os problemas atuais e sair da dogmatização que nos levou ao mangue.
Com tudo isso dito, fica evidente que o fundamento racial se estrutura no próprio desenvolvimento do Capital, fora dele não existe “raças”, por isso é somente na superação dele que o problema das “raças” desaparecerá. Assim, discordo de você no que diz respeito ao termo raça, pois realmente ela carrega em-si a opressão social. Pois ela, (a questão racial indissociável do escravismo) como uma das maiores contribuidoras embrionárias para o desenvolvimento do capital também se estruturou como uma abstração real e, nesse caso, fetichista e mistificadora. Misticismo que fecundamente legifera no sentido da opressão capitalista e organiza as relações sociais e as discrepâncias que salvaguardam o sistema.
Por enquanto minhas pesquisas se encontram nesse pé, pretendo avançar e produzir um artigo aqui para o PP em que possamos discutir isso com maior rigor, pois sabemos que o espaço dos comentários não é o mais condizente para se debater nessa questão que por si só é, com o perdão do termo, fodasticamente foda!
Abração
Cris para Douglas
Oi, Douglas,
Obrigada pelo interesse na discussão, a recíproca é verdadeira. Desde que você não tenha esquecido, como já mencionei, que escrevo de um ponto de vista bem limitado. Primeiro, vamos aos seus contra-argumentos.
Vou ser sintética prá não encher a paciência dos leitores desta página com uma discussão teórica talvez muito específica. O face seria uma opção, por exemplo. Fica o convite para quem também quiser dar um pitaco.
Prá variar, toda promessa de conciliação na nossa sociedade é adiada: discordo profundamente da sua posição, infelizmente. Começo observando que você considera muito unilateralmente a determinação das categorias da Aufklärung — Ilustração — : é verdade que o pensamento dependeu do apanágio do poder dominante para se desenvolver no interior da sociedade já primitivamente constituída sob a égide da troca, que está na base de tudo o que o capitalismo veio a ser — segundo Adorno e Horkheimer –; portanto, é fato que suas categorias, que constituíram a Aufklärung, nasceram a serviço do capital. Por outro lado, tampouco o poder dominante podia dispensar os serviços do pensamento para se desenvolver ou ainda controlá-lo a seu bel-prazer (“Dialética do Esclarecimento). Disso decorre que nenhuma categoria da Aufklärung é unívoca. Todas são ambíguas. Não são as categorias que estão inscritas estruturalmente no capitalismo, mas a dinâmica por meio da qual elas se formam; em uma palavra: o que é estrutural é a contradição (O próprio Marx diagnostica a contradição no âmago da sociedade burguesa). Consequentemente, não é a segregação da raça x e do gênero y que é indispensável ao capitalismo, em que pese que o seu desenvolvimento tenha se apoiado numa segregação específica ao longo da história, mas o preconceito é que é inerente ao capital. Não vou me alongar mais porque este não é o espaço para isso, pelo menos até agora ninguém se manifestou. Direi apenas que não vejo como seu raciocínio não há de levar água para o moinho dos santuários da pós-modernidade.
Concluo completando o que disse de início, meu ponto de partida é uma bibliografia específica e limitadíssima. Conheço Marx e Hegel de segunda mão e me falta aquele que é provavelmente o mais fundamental dos conhecimentos: história. Como nada é linear na nossa sociedade, assim como nem mesmo a erudição é sinônimo de pensamento enfático, quero acreditar que o aculturamento, por si só, limite mas não impeça a reflexão crítica. No interior desses limites pode ser que a nossa conversa seja produtiva, é questão de ver.
Grande abraço.