Assistimos hoje não a uma crise do capitalismo mas a uma deslocação da hegemonia no interior do capitalismo, e os problemas foram precipitados pela contradição entre o âmbito transnacional das instituições financeiras e o âmbito nacional dos órgãos fiscalizadores oficiais. Por João Bernardo
Há algum tempo publiquei num site o artigo intitulado Sete reflexões sobre a actual crise, depois reproduzido noutros lugares, sendo fácil encontrá-lo na internet. Uma versão ampliada foi publicada no Brasil pela Revista Textos de Economia (vol. 11, nº 2, 2008), editada pelo Departamento de Ciências Económicas da Universidade Federal de Santa Catarina, também disponível em suporte electrónico. Perante a evolução dos acontecimentos, parece-me que vale a pena retomar certos aspectos da análise e desenvolvê-los. Não pretendo abordar a possível, ou pelo menos desejada, resposta dos trabalhadores, que será tema de um artigo posterior. Limito-me agora às perspectivas do capitalismo, porque antes de considerarmos as lutas é indispensável saber contra quê se combate. (Devo prevenir os leitores de que, consoante o uso português, chamo mil milhões ao que os brasileiros chamam bilhão, ou seja, 109, e bilião ao que no Brasil se chama trilhão, um milhão de milhões, ou seja, 1012).
1
 Alguns comentadores marxistas de assuntos económicos atribuem a crise aos limites do poder de compra da maioria da população. E assim, talvez sem o saber, situam-se na tradição de Keynes, que propôs a superação da grande crise da década de 1930 mediante o aumento do consumo das camadas mais pobres, aquelas que gastam nas necessidades elementares uma maior proporção dos seus rendimentos. A disseminação destas concepções na esquerda é um indício da fusão − ou antes, da confusão − entre o marxismo vulgar e os temas jornalísticos correntes, e é estranho que tais ideias encontrem defensores hoje, quando foi precisamente o excesso do consumo das famílias norte-americanas, com o seu consequente endividamento, que levou à derrocada das duas instituições vocacionadas para o crédito hipotecário e, por aí, à crise do restante sistema financeiro. Nos Estados Unidos, entre 1950 e 1985 os consumidores pouparam em média 9% dos seus rendimentos líquidos, mas nos últimos vinte anos esta taxa declinou até chegar praticamente a zero no início de 2008. Ao mesmo tempo, as dívidas resultantes do consumo e das hipotecas, que em 1990 representavam 77% dos rendimentos líquidos, chegaram a 127% em 2008.
Alguns comentadores marxistas de assuntos económicos atribuem a crise aos limites do poder de compra da maioria da população. E assim, talvez sem o saber, situam-se na tradição de Keynes, que propôs a superação da grande crise da década de 1930 mediante o aumento do consumo das camadas mais pobres, aquelas que gastam nas necessidades elementares uma maior proporção dos seus rendimentos. A disseminação destas concepções na esquerda é um indício da fusão − ou antes, da confusão − entre o marxismo vulgar e os temas jornalísticos correntes, e é estranho que tais ideias encontrem defensores hoje, quando foi precisamente o excesso do consumo das famílias norte-americanas, com o seu consequente endividamento, que levou à derrocada das duas instituições vocacionadas para o crédito hipotecário e, por aí, à crise do restante sistema financeiro. Nos Estados Unidos, entre 1950 e 1985 os consumidores pouparam em média 9% dos seus rendimentos líquidos, mas nos últimos vinte anos esta taxa declinou até chegar praticamente a zero no início de 2008. Ao mesmo tempo, as dívidas resultantes do consumo e das hipotecas, que em 1990 representavam 77% dos rendimentos líquidos, chegaram a 127% em 2008.
Porém, nos nossos dias os principais consumidores são as empresas, que adquirem um volume crescente de meios de produção, e os Estados, que promovem infra-estruturas e compram material bélico. É certo que, quanto mais activo for o mercado de consumo particular, tanto mais pressionará as empresas e os governos a investir em meios de produção e infra-estruturas, mas em muitos casos a relação é indirecta e ocorre sempre um desfasamento [uma defasagem], de amplitude variável, entre o consumo pessoal e os investimentos nos vários ramos de produção. A reactivação da economia somente através da promoção do consumo individual é tanto mais difícil quanto mais aumenta o volume dos bens destinados a ser directamente consumidos pelas empresas e pelo Estado e quanto maior é a variedade destes bens e mais se multiplicam os ramos que os produzem. Por isso a administração norte-americana e a Reserva Federal, que cumpre nos Estados Unidos as funções desempenhadas noutros países pelos bancos centrais, além de preverem a concessão de incentivos ao consumo das famílias, estão a esforçar-se por reanimar a actividade económica através de empréstimos e incentivos fiscais concedidos às empresas. Algo de equivalente se passa na China, onde o conjunto de medidas anunciado pelo Conselho de Estado em Novembro de 2008 prevê não só o estímulo ao consumo das camadas mais pobres, mas igualmente alterações fiscais destinadas a diminuir em 120 milhares de milhões de yuans os impostos pagos pelas empresas, o que corresponde a 4% dos lucros industriais de 2007.
Outros comentadores marxistas explicam as dificuldades do capitalismo não pela situação do consumo mas pela estrutura da actividade produtiva e invocam os conceitos de Marx para analisar as variações na composição do capital e a taxa de lucro. Mas também entre eles não são poucas as confusões. Partindo do princípio de que só o esforço humano cria valor, Marx mostrou que, se a concorrência entre os capitalistas e a concentração económica leva a aumentar a parte dos investimentos destinada às matérias-primas, à maquinaria e às instalações em comparação com a parte destinada ao assalariamento da força de trabalho, então há uma tendência a que, no capital total, diminua relativamente a parte geradora de valor e, portanto, diminua a taxa de lucro. Infelizmente, na maior parte dos casos os discípulos de Marx têm-se preocupado apenas com quantidades materiais, quer dizer, o número de assalariados e o volume dos meios de produção, esquecendo que a análise deve ser prosseguida no plano dos valores, ou seja, que ela diz respeito ao tempo de trabalho gasto na produção de bens, incluindo as matérias-primas, as máquinas e as instalações necessárias à obtenção dos bens finais. A grande remodelação intelectual operada por Marx, que consistiu em mostrar que as coisas mais não são do que a materialização de relações sociais, é esquecida por muitos discípulos precisamente quando mais convinha que se lembrassem dela. E assim o problema da baixa da taxa de lucro, que Marx formulou como uma lei tendencial, fica convertido numa baixa real, dando lugar a uma concepção catastrofista da crise iminente do capitalismo.
Para contrariarem a tendência à baixa da taxa de lucro os capitalistas aumentam a produtividade, e é este facto que não devemos perder de vista. Por um lado, o acréscimo em volume das matérias-primas, das máquinas e das instalações é muitíssimo maior do que o seu aumento em valor, porque elas são extraídas, fabricadas ou construídas de maneira cada vez mais produtiva. Por outro lado, cada hora de trabalho passa a valer mais, não só porque os engenheiros de produção estudam as maneiras de intensificar o esforço humano mas igualmente porque são aumentadas as qualificações dos trabalhadores. Para empregar os conceitos de Marx, uma hora de trabalho complexo, isto é, mais intensivo e mais qualificado, vale várias horas de trabalho simples, residindo aqui o motor de toda a produtividade. Aliás, há uma estreita relação entre estes dois factores, porque o progresso da produtividade requer o aumento das qualificações dos trabalhadores. A automatização e em geral a inovação tecnológica levam à multiplicação dos ramos de actividade e por isso, contrariamente a uma opinião comum, não substituem trabalhadores por máquinas; substituem trabalhadores menos qualificados por outros mais qualificados. Existe ainda um terceiro aspecto. Aumentando a produtividade com que são fabricados os bens de consumo corrente, os salários permitem adquirir uma maior quantidade de produtos, mas estes produtos representam menos em termos de valor, porque são fabricados num tempo menor e incorporam menos matérias-primas. O trabalhador dispõe de maior quantidade de bens, mas, como eles representam menos em termos de valor, a taxa de exploração é agravada; e mais ainda se agrava porque, mesmo que o horário de trabalho diminua, o esforço dispendido numa hora de trabalho complexo representa mais em termos de valor do que o esforço numa hora de trabalho simples. Este triplo processo decorrente do aumento da produtividade tem como resultado a diminuição do tempo de trabalho incorporado nos meios de produção e o aumento do tempo de trabalho possível de extorquir aos assalariados. Assim, enquanto o desenvolvimento da produtividade leva o acréscimo material dos meios de produção a ser cada vez maior do que o seu acréscimo em valor, leva também os lucros da exploração a aumentarem muito. É deste modo que os capitalistas contrariam a baixa da taxa de lucro. Trata-se de uma lei tendencial, ou seja, uma lei que pressiona os capitalistas a seguirem exclusivamente o caminho do incessante aumento da produtividade.
Sendo tendencial, esta lei não tem um efeito unívoco; ela limita-se a determinar o sentido em que se orientam as inovações tecnológicas. Julgando que as relações de valor se manifestam directamente na quantidade de matérias-primas e de máquinas e na extensão das instalações, os arautos do apocalipse esquecem os resultados do aumento da produtividade e imaginam que a taxa de lucro não tem outro caminho senão a descida. Na opinião destes catastróficos optimistas, à falta de um vasto movimento social que derrube o capitalismo, os mecanismos económicos fariam com que o capitalismo caísse por si mesmo, o que seria de uma grande comodidade. A extrema-esquerda revela nestas ocasiões a sua fragilidade, sem ter ainda conseguido decidir se o capital se há-de autodestruir ou se hão-de ser os trabalhadores a acabar com ele.
É nesta perspectiva que devemos avaliar a capacidade do capitalismo para ultrapassar as dificuldades actuais. O declínio do sistema de produção fordista, encetado na sequência da crise económica de 1974 e completado hoje, abriu uma nova era, assente na exploração crescente da componente intelectual do trabalho. Trata-se de uma fonte de acumulação de que ainda não conhecemos os limites. E como entretanto se expandiram a subcontratação e a terceirização, instaurou-se uma nova maneira de articular a exploração dos mais qualificados com a dos menos qualificados, conferindo ao capitalismo uma enorme plasticidade.
Assim, se colocarmos em primeiro plano as relações sociais de trabalho e se as considerarmos como motor do crescimento da produtividade e da acumulação do capital, podemos integrar numa visão conjunta os mecanismos directamente económicos e as lutas sociais e políticas. A actual crise deflagrou numa época em que estão muito longe de se esgotar as capacidades de exploração decorrentes dos sistemas vigentes de organização do trabalho, por isso parece-me possível que o crescimento da actividade produtiva seja retomado antes de se precipitar uma crise social.
2
 Assistimos hoje menos a uma crise do capitalismo do que a uma crise no capitalismo. Quero com isto dizer que não é a globalidade do sistema que se encontra ameaçada e que se trata de uma deslocação dos centros de poder no interior do sistema.
Assistimos hoje menos a uma crise do capitalismo do que a uma crise no capitalismo. Quero com isto dizer que não é a globalidade do sistema que se encontra ameaçada e que se trata de uma deslocação dos centros de poder no interior do sistema.
O facto de a crise se ter iniciado nos Estados Unidos não decorreu apenas dos desequilíbrios resultantes do excessivo consumo particular e deveu-se fundamentalmente ao declínio a longo prazo daquele país enquanto potência económica. Sem espaço aqui para proceder a uma análise detalhada, vou cingir-me às infra-estruturas, que ocupam o lugar central no sistema produtivo, e é esclarecedor que, em percentagem do Produto Interno Bruto, os investimentos norte-americanos em infra-estruturas de comunicação e transporte representem hoje menos de metade (2,4%) dos verificados na União Europeia (5%) e menos de um terço dos verificados na China (9%). Em 2005 a Sociedade Americana de Engenharia Civil considerou que, mesmo sem levar em conta as necessidades futuras, seria necessário gastar 1,6 biliões de dólares durante cinco anos só para reparar a infra-estrutura existente, e em Janeiro de 2008 uma comissão convocada especialmente para estudar o problema dos transportes nos Estados Unidos recomendou que o governo investisse neste âmbito pelo menos 225 milhares de milhões de dólares por ano durante as próximas cinco décadas, o que exigiria uma grande alteração nas prioridades, porque hoje é gasto menos de 40% desse montante. A nova administração parece estar consciente das necessidades, e em 6 de Dezembro de 2008, antes ainda de tomar posse, Barack Obama anunciou que dedicaria às infra-estruturas o maior investimento desde a criação da rede federal de auto-estradas nos meados da década de 1950.
Se passarmos da infra-estrutura material para a infra-estrutura intelectual o panorama não é menos sombrio. A Academia Nacional de Engenharia publicou em 2007 um relatório onde afirma que «a segurança económica e estratégica» dos Estados Unidos está em perigo por falta de investimentos no ensino da matemática e das ciências e na investigação científica. Idênticas preocupações foram expressas num relatório de Novembro de 2008 pelo Council on Competitiveness, um influente grupo de pressão que reúne chefes de empresa, dirigentes sindicais e reitores de universidades. Também o presidente (chairman) da Intel, Craig Barrett, tem ultimamente dito o mesmo, e num discurso proferido em Novembro de 2008, Eric Schmidt, chief executive da Google, afirmou que os subsídios governamentais concedidos aos laboratórios de pesquisa universitários eram «o cerne da competitividade americana» e que se não houver um aumento drástico do investimento nesta pesquisa, bem como no ensino da matemática e das ciências, os Estados Unidos correm o risco de se tornarem «consumidores cativos» à mercê das potências asiáticas emergentes. Ainda aqui Barack Obama, enquanto presidente eleito, prometeu remediar a situação e disse que duplicaria as verbas dedicadas no próximo decénio à pesquisa científica fundamental.
Este declínio das potencialidades económicas explica o recurso à força das armas. Avaliadas em dólares, aos preços de 2005, as despesas militares dos Estados Unidos declinaram de mais de 400 milhares de milhões em 1992 para pouco mais de 300 milhares de milhões em 1999, e subiram desde então, atingindo cerca de 550 milhares de milhões em 2007. Em comparação, as despesas militares russas, que seguiram a mesma evolução e inverteram a tendência na mesma data, não chegaram em 2007 a 50 milhares de milhões de dólares. Ora, contrariamente ao sucedido nos grandes impérios da Antiguidade, no capitalismo a base da expansão são os mercados, e quando os generais avançam antes dos chefes de empresa é sinal de que a economia está com sérios problemas. Uma das mais elucidativas e menos aproveitadas lições da guerra no Iraque é o facto de uma administração norte-americana inteiramente obediente aos interesses das grandes companhias petrolíferas, em vez de obter o controlo da produção iraquiana através do mercado e das exportações de capital, ter pretendido dominá-la por meios bélicos, o que levou à destruição de uma grande parte da capacidade extractiva e transportadora. Em Julho de 1990, antes da primeira guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, este país produzia 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. As medidas de retaliação e o severo embargo económico que se seguiu fizeram baixar aquela produção, que entre 1999 e 2001 se manteve na média de 2,5 milhões de barris por dia, sendo de 2,6 milhões antes da invasão norte-americana de 2003. Teria sido por cobiçarem aquela riqueza que os Bush pai e filho lançaram as suas tropas em campanha? Nos primeiros meses de 2008 as autoridades militares norte-americanas contabilizavam em cerca de 600 milhares de milhões de dólares o custo da guerra no Iraque, enquanto os especialistas da Agência Orçamental do Congresso situavam os custos a longo prazo entre 1 e 2 biliões de dólares e o economista Joseph Stiglitz, agraciado com o prémio Nobel em 2001, calculava que estes custos seriam superiores a 4 biliões de dólares. Apesar de tudo isto, só no segundo trimestre de 2008 a produção petrolífera iraquiana atingiu uma média superior a 2,4 milhões de barris por dia, a mais alta desde a invasão do país. Com custos incomparavelmente mais elevados, para não falar sequer nas perdas humanas, o capitalismo norte-americano lucra hoje menos com o petróleo iraquiano do que lucraria se não tivesse atacado, invadido e destruído o Iraque.
Compare-se este paradoxo com a actuação dos capitalistas chineses, tanto privados como de Estado, que nos últimos anos têm conseguido uma tão grande quanto discreta penetração em África apenas pelo uso das armas económicas. Em 2007 a China era já o terceiro maior parceiro comercial naquele continente, depois dos Estados Unidos e da França. «As importações», comentou um diplomata chinês, «é esta a verdadeira diplomacia, porque significa que somos atractivos para os outros. Significa que os outros países precisam de nós, e não que nós precisamos deles».
3
 Assim como o declínio do poderio económico dos Estados Unidos é um dos aspectos mais significativos da crise actual, outro aspecto consiste na importância assumida pelas economias emergentes. Em Abril de 2003 o Fundo Monetário Internacional previu que o crescimento económico mundial nos três anos seguintes ficaria, em média, abaixo dos 4% por ano. Na realidade, porém, entre 2003 e 2007 a taxa foi de 4,5% anualmente, devendo-se a diferença aos países emergentes, que cresceram a uma taxa média anual de 7,3%. Na segunda metade de 2007 e em 2008 estes países foram responsáveis por cerca de 3/4 do crescimento económico mundial, sendo a China responsável por 1/3 deste crescimento no primeiro semestre de 2008. Aliás, desde 2000 a contribuição da China para o aumento do Produto Interno Bruto mundial tem sido superior à dos Estados Unidos. Se a actual crise económica mostrou, mesmo a quem não queria ver, a decadência norte-americana, ela confirmou também a hegemonia da China, que se tornou a terceira maior economia e possui as principais reservas de divisas estrangeiras. Como disse recentemente o vice-primeiro-ministro chinês, aludindo aos representantes dos Estados Unidos com quem entabulava negociações, «os professores estão agora com alguns problemas». Não deixa de ser irónico que um país até há poucos meses denunciado como a principal ameaça ao capitalismo ocidental seja hoje enaltecido como a grande esperança de salvação deste capitalismo.
Assim como o declínio do poderio económico dos Estados Unidos é um dos aspectos mais significativos da crise actual, outro aspecto consiste na importância assumida pelas economias emergentes. Em Abril de 2003 o Fundo Monetário Internacional previu que o crescimento económico mundial nos três anos seguintes ficaria, em média, abaixo dos 4% por ano. Na realidade, porém, entre 2003 e 2007 a taxa foi de 4,5% anualmente, devendo-se a diferença aos países emergentes, que cresceram a uma taxa média anual de 7,3%. Na segunda metade de 2007 e em 2008 estes países foram responsáveis por cerca de 3/4 do crescimento económico mundial, sendo a China responsável por 1/3 deste crescimento no primeiro semestre de 2008. Aliás, desde 2000 a contribuição da China para o aumento do Produto Interno Bruto mundial tem sido superior à dos Estados Unidos. Se a actual crise económica mostrou, mesmo a quem não queria ver, a decadência norte-americana, ela confirmou também a hegemonia da China, que se tornou a terceira maior economia e possui as principais reservas de divisas estrangeiras. Como disse recentemente o vice-primeiro-ministro chinês, aludindo aos representantes dos Estados Unidos com quem entabulava negociações, «os professores estão agora com alguns problemas». Não deixa de ser irónico que um país até há poucos meses denunciado como a principal ameaça ao capitalismo ocidental seja hoje enaltecido como a grande esperança de salvação deste capitalismo.
Para compreendermos o reequilíbrio das potências devemos ter uma noção, ainda que sumária, do fluxo dos investimentos externos directos, definidos como os que asseguram ao investidor, geralmente uma empresa, o controlo ou, pelo menos, uma influência decisiva na empresa onde o capital é aplicado. Na prática são os investimentos característicos das firmas transnacionais. Entre 2/3 e 4/5 dos investimentos externos directos circulam entre três pólos: o conjunto formado pelos Estados Unidos e o Canadá, a Europa ocidental e o Japão. Na primeira metade da década de 1980 os países em desenvolvimento receberam 25% dos investimentos externos directos, baixando a proporção para 17% na segunda metade dessa década. Nos anos seguintes assinalou-se um aumento, pois em 1991 os países em desenvolvimento receberam 26% dos investimentos externos directos e 35% em 1992, mas isto deveu-se ao facto de três dezenas desses países, entre eles a China e a Índia, que até então eram hostis ao capital estrangeiro, lhe terem aberto as fronteiras. Ao mesmo tempo, o surto de privatizações de empresas públicas nos países em desenvolvimento ampliou as oportunidades oferecidas aos investidores. Em 1995 este grupo de países acolhia ainda 32% dos investimentos externos directos, mas em 1999 a proporção tinha já descido para 25%. Nas vésperas da crise, em 2005, enquanto os investimentos externos directos totais subiram 29%, aumentaram 38% em direcção aos países desenvolvidos e apenas 13% em direcção aos países em desenvolvimento.
O facto de as companhias transnacionais investirem mais nos países ricos do que nos pobres explica-se porque, ao contrário do que muitas vezes se supõe, não é com a miséria mas com a produtividade que os capitalistas obtêm lucros. Só para as operações que exigem menor preparação tecnológica é que as companhias transnacionais estabelecem filiais em países menos desenvolvidos, onde a mão-de-obra pouco qualificada corresponde ao que lhe é exigido. Mas como essas companhias se caracterizam pela sofisticação dos produtos finais, nas restantes fases da cadeia produtiva é-lhes indispensável uma força de trabalho qualificada, capaz de laborar com maquinaria complexa, e por isso a maior parte dos seus investimentos materiais e salariais dirige-se para os países desenvolvidos. As grandes empresas não exploram preferencialmente mão-de-obra barata e sim mão-de-obra qualificada, a mais produtiva. Até as firmas transnacionais originárias de países em desenvolvimento, ao atingirem uma certa dimensão começam a estabelecer filiais em países desenvolvidos ou mesmo a adquirir companhias baseadas nestes países. É certo que se a força de trabalho em dois países tiver níveis de qualificação equivalentes e se, em termos de dólares, uma for mais mal paga do que a outra, os investidores transnacionais preferi-la-ão. Mas mesmo neste caso eles devem ponderar as condições materiais do país ou da região, e as vantagens decorrentes dos menores custos salariais podem não compensar a insuficiência das infra-estruturas.
A busca da produtividade explica que os investimentos externos directos que se orientam para os países em desenvolvimento escolham sobretudo aqueles onde existe com abundância uma força de trabalho qualificada, a China, a Índia e o Brasil. Estes países chegam a ser apresentados como lugares onde se podem testar novos métodos de aumento da produtividade, aplicáveis depois nos países desenvolvidos. Podemos assim compreender o papel desempenhado pela China, onde, ao invés da opinião corrente, o crescimento económico dos últimos anos se tem devido na maior parte à modernização tecnológica. De 1996 até 2006 a ampliação da força de trabalho contribuiu em média para apenas 10% do aumento do Produto Interno Bruto chinês, o que mostra que a expansão económica do país não assenta na mão-de-obra barata mas no avanço da produtividade. Na indústria chinesa a produtividade do trabalho progrediu muito mais rapidamente do que o montante dos salários, a tal ponto que, segundo cálculos de The Economist, embora os salários tivessem duplicado entre 2000 e 2006, os custos laborais unitários reduziram-se quase para metade. Foi assim que a China conquistou uma posição sólida, e é este crescimento da produtividade que procuram aproveitar as firmas estrangeiras interessadas em estabelecer ali filiais. Isto explica que no final de 2008, ao mesmo tempo que ocorriam na China despedimentos maciços de trabalhadores não qualificados, a procura dos qualificados excedesse a oferta e os salários destes continuassem a aumentar, estando previsto que, apesar da crise, tais aumentos fossem em 2009 praticamente idênticos aos verificados no ano anterior. O mesmo fenómeno registou-se, aliás, na Índia.
Mas em que medida conseguirá a economia chinesa resistir às dificuldades mundiais? O declínio do dólar teve como consequência imediata beneficiar as exportações dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, pressionar à diminuição das suas importações em termos reais, agravada ainda pela retracção do consumo interno. Estes efeitos acumulados prometem sérias dificuldades à expansão económica da China, arrastada até uma data recente pelo crescimento das exportações. Apesar de tudo, as exportações chinesas têm resistido melhor do que se imaginara, e avaliadas em dólares aumentaram 21% nos primeiros dez meses de 2008, uma descida pouco pronunciada relativamente aos 26% de crescimento anual verificados em média no período de 2000 a 2007. Aliás, o acentuado declínio das importações chinesas − que caíram 18% em Novembro de 2008 relativamente à mesma data do ano anterior, enquanto as exportações caíram só 2,2% − reflecte o declínio das exportações, já que mais de metade das importações se destina ao fabrico de bens exportados. Ora, se por um lado o comércio externo da China continua ameaçado − as últimas estatísticas indicam uma descida mais nítida das exportações no quarto trimestre de 2008 − por outro lado o consumo interno tem-se mantido. Em Outubro de 2008 as vendas a retalho [varejo] haviam subido 22% relativamente ao mesmo mês do ano anterior, e embora esta taxa representasse uma ligeira descida por comparação com os 23,2% entre Setembro de 2008 e Setembro de 2007, ela indica uma procura interna muito activa, situação que se prolonga, pois em Dezembro de 2008 o comércio a retalho era ainda 18% superior ao que fora um ano antes. Assim, é possível admitir que a economia chinesa conserve uma base suficientemente dinâmica para contrariar influências externas nocivas, e aliás uma firma de pesquisa económica sediada em Pequim, Dragonomics, calculou que o consumo interno, que contribuíra para 44% do crescimento do Produto Interno Bruto em 2007, contribuiu para 2/3 desse crescimento no primeiro semestre de 2008. No entanto, esta situação é contrária à política governamental, que pretende promover as exportações mais do que o mercado interno. Com este objectivo as importações de matérias-primas industriais são encorajadas desde que se destinem à produção de bens de exportação e a taxa aduaneira que as onera é em grande parte reembolsada ao serem exportados os artigos cujo fabrico incorporou aquelas importações. Aliás, nas zonas económicas reservadas à produção para exportação as empresas gozam de um estatuto fiscal ainda mais favorável. A contradição agora verificada entre as pressões do mercado e a orientação do governo tem levado muitos industriais a exportar para Hong Kong, onde firmas especializadas encaminham os bens para o mercado interno chinês, mas trata-se de uma solução onerosa. Conseguirá a China superar este dilema e corresponder às previsões formuladas no final de 2008 pelo Fundo Monetário Internacional, que indicavam que em 2009 a economia do país seria responsável por quase metade do crescimento da produção mundial?
Em Novembro de 2008 o Conselho de Estado chinês anunciou um conjunto de medidas de reactivação da economia no montante de 4 biliões de yuans, equivalente a 586 milhares de milhões de dólares e correspondente a 14% do Produto Interno Bruto calculado para 2008. Esta quantia destina-se a ser gasta em 2009 e 2010 em infra-estruturas e construções, na agricultura e na promoção do bem-estar social. Além disso, foram anunciadas reduções de impostos para as empresas e transferências de rendimentos em benefício da população mais pobre e nomeadamente dos camponeses. Mesmo que estas medidas não correspondessem ao montante anunciado porque algumas delas já estivessem previstas anteriormente, trata-se talvez da maior intervenção realizada até hoje por qualquer governo num período de dois anos. Igualmente significativo é o facto de em Janeiro de 2009 o governo ter anunciado despesas suplementares de 850 milhares de milhões de yuans num período de três anos, destinadas a melhorar o sistema de saúde, e ter decretado descontos de 13% na compra de electrodomésticos pela população rural, o que indica a disposição de incentivar o mercado de consumo particular.
O facto de todo o mundo estar dependente do êxito deste conjunto de decisões revela um duplo fenómeno, a globalização da economia e a reorganização dos centros de poder no interior da economia globalizada. Nenhum país está imune à crise, mas enquanto ela afecta alguns só negativamente, contribui a prazo para reforçar outros.
4
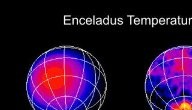 O quadro torna-se mais complexo porque nas últimas décadas os países deixaram de constituir verdadeiras unidades económicas e, portanto, os Estados e os respectivos governos perderam a primazia.
O quadro torna-se mais complexo porque nas últimas décadas os países deixaram de constituir verdadeiras unidades económicas e, portanto, os Estados e os respectivos governos perderam a primazia.
Através dos investimentos externos directos, as companhias transnacionais ultrapassaram todas e quaisquer barreiras alfandegárias, privando os governos de uma das suas principais armas. Na primeira metade da década de 1980, quando a administração Reagan decidiu proteger a indústria automobilística norte-americana da concorrência nipónica e decretou um considerável aumento das tarifas aduaneiras, as firmas japonesas passaram a investir nos Estados Unidos e começaram a fabricar lá os seus veículos, apressando o declínio das congéneres norte-americanas. Aliás, bastou que as grandes companhias japonesas receassem um aumento das taxas alfandegárias para se anteciparem e começarem a produzir nos Estados Unidos, como sucedeu na indústria de máquinas-ferramentas. E o mesmo se passou na segunda metade da década de 1980 com o fabrico de computadores. Em consequência destes investimentos o próprio conceito de comércio externo ficou em boa medida desprovido de significado. Segundo Dennis Encarnation, professor na Harvard Business School, no começo da década de 1990 as vendas nos Estados Unidos por parte de fábricas, unidades montadoras e armazéns existentes naquele país, mas de propriedade japonesa, correspondiam ao dobro do valor total das exportações do Japão para os Estados Unidos. O mesmo, aliás, ocorria em sentido contrário, pois já nos meados da década de 1980 eram muito numerosas as firmas ocidentais que, para evitar as barreiras proteccionistas nipónicas, estabeleciam fábricas no Japão em vez de exportarem para lá os seus produtos. Esta prática generalizou-se rapidamente em todo o mundo e é hoje a norma comum. Além de evitar os efeitos das taxas aduaneiras, ultimamente o capital transnacional tem conseguido também ultrapassar as medidas de controlo de capitais instauradas por alguns governos. Como o crescimento do comércio requer o desenvolvimento do suporte financeiro, a expansão dos fluxos comerciais torna mais fácil iludir as restrições ao movimento de capitais, frustrando uma vez mais o proteccionismo.
Assim, as vendas efectuadas pelas empresas nos países estrangeiros, que antes assumiam a forma de exportação, passaram com as companhias transnacionais a poder incluir-se no comércio interno daqueles países. Mas a transformação operada nos fluxos comerciais tem implicações ainda mais decisivas, porque a maior parte do que as estatísticas continuam a considerar como transacções entre economias nacionais ocorre no interior das firmas transnacionais. Segundo um estudo da economista e gestora DeAnne Julius, no final da década de 1980 o comércio entre sociedades e as suas filiais no estrangeiro foi responsável por mais de metade do comércio total entre os países da OCDE. Na mesma data, 1/3 das exportações norte-americanas dirigiu-se para empresas situadas no estrangeiro que eram propriedade de firmas sediadas nos Estados Unidos e outro 1/3 foi constituído por bens que empresas estrangeiras com filiais nos Estados Unidos enviaram para os países onde tinham a sede. Em sentido inverso, em 1986 cerca de 1/5 das importações dos Estados Unidos proveio de companhias de propriedade norte-americana localizadas no estrangeiro e cerca de 1/3 compôs-se de bens que companhias de propriedade estrangeira situadas nos Estados Unidos adquiriam aos países onde tinham a sede. Num livro publicado em 1992, Dennis Encarnation afirma que o comércio no interior das companhias transnacionais era responsável por mais de 2/5 das importações totais dos Estados Unidos e por mais de 1/3 das suas exportações totais. Segundo o mesmo autor, mais de 2/3 das importações norte-americanas provenientes do Japão ocorreram no interior de companhias, e este tipo de transacções contribuiu para praticamente metade das exportações dos Estados Unidos em direcção ao Japão. Aliás, as filiais japonesas instaladas nos Estados Unidos eram os maiores exportadores deste país para o Japão. Se adoptarmos uma visão global, os cálculos de DeAnne Julius estabelecem que no final da década de 1980 as vendas totais efectuadas pelas sociedades de propriedade norte-americana, tanto sedes como filiais, às sociedades de propriedade estrangeira teriam sido cinco vezes superiores ao valor convencionalmente atribuído às exportações dos Estados Unidos; ao mesmo tempo, as aquisições por sociedades estrangeiras teriam sido três vezes superiores às importações realizadas pelos Estados Unidos. E naquela data, dos doze principais países da OCDE, onze teriam vendido mais nos Estados Unidos através das filiais norte-americanas de transnacionais sediadas nesses países do que através de exportações.
Estas características acentuaram-se nas duas últimas décadas, e embora as estatísticas divulgadas pelos grandes órgãos de comunicação alimentem uma anacrónica visão nacionalista da economia, os números indicados mostram que devemos hoje reflectir mais em termos do fluxo de bens entre companhias transnacionais e no seu interior do que em termos das relações comerciais entre países. A transformação da China numa grande potência económica confirma esta perspectiva. Tanto pela relação entre o comércio externo e o Produto Interno Bruto como pela quantidade de investimentos que recebe do exterior a economia chinesa é uma das mais abertas, e em 2000 as empresas resultantes de investimentos estrangeiros foram responsáveis por 56,8% do crescimento das exportações, uma taxa que aumentou para 63,3% em 2004. A participação das companhias transnacionais no desenvovimento económico da China é tanto maior quanto mais sofisticados são os ramos de actividade, e a análise das exportações chinesas de produtos de alta tecnologia no período de Janeiro a Agosto de 2003 mostra que 84,6% provieram de empresas de propriedade estrangeira. Referindo-se aos lucros originados por este tipo de exportações, a prof ª. Fang Xin, da Academia das Ciências da China, avaliou em 2006 que mais de 60% cabiam a firmas estrangeiras. Em todos estes casos, o que a opinião vulgar considera como exportações da China são na realidade vendas de companhias transnacionais.
É um novo mapa que se desenha, diluindo as antigas fronteiras. No final de 2005 as quarenta maiores companhias transnacionais empregavam em média 55% da sua força de trabalho e obtinham 59% dos seus lucros fora do país onde possuíam a sede. Neste contexto deixam de ter significado as noções de nacional e de estrangeiro. E quando uma crise atinge alguns dos países onde essas companhias estão estabelecidas, elas podem compensar os prejuízos graças às empresas que possuem noutros países menos afectados. A velha relação entre a prosperidade de um país e a prosperidade das suas empresas deixou de funcionar, em ambos os sentidos. Um estudo realizado em 2007 por Eswar Prasad, Raghu Rajan e Arvind Subramanian mostrou que os países pobres que se basearam na poupança interna para financiar o investimento conseguiram uma taxa de crescimento superior à dos que recorreram sobretudo a capitais estrangeiros.
Esta cisão chegou a um ponto tal que diversos governos transnacionalizaram a sua actividade económica, rompendo ainda mais profundamente a relação entre a riqueza empresarial e a riqueza nacional. Nos últimos anos os fundos de investimento possuídos pelos governos de vários países em desenvolvimento atingiram enormes dimensões. Só na Ásia, no final de 2007 eles montavam a 4,6 biliões de dólares. Estes fundos soberanos operam por todo o mundo e adquirem participações em firmas tanto noutros países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos. Num artigo publicado em 2007, Larry Summers, da Universidade de Harvard, que foi secretário do Tesouro na administração Clinton e que Barack Obama pôs à frente do Conselho Económico Nacional, chamou a atenção para um facto que considera paradoxal, o de nas últimas décadas os governos terem privatizado a maior parte das empresas nacionais que detinham e estarem agora, através dos fundos soberanos, a adquirir participações em empresas estrangeiras. A aparente contradição resulta da conversão de economias de base nacional em economias transnacionais. Referindo-se à actuação dos fundos soberanos, Laura Tyson, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que na administração Clinton presidiu ao Conselho dos Assessores Económicos e foi depois directora do Conselho Económico Nacional, declarou em 2008 que «a dicotomia simples entre privado e estatal deixou de ser significativa». A acção do capital transnacional estatal reforçou a acção do capital transnacional privado na diluição das fronteiras políticas.
A nova geopolítica foi sistematizada por Sam Palmisano, presidente (chairman e president) e chief executive officer da IBM, numa conferência proferida em 2006 no INSEAD, um reputado instituto francês de administração de empresas. Numa primeira fase, no século XIX, disse Palmisano, as firmas de vocação internacional tinham a sede no país de origem e vendiam os seus produtos através de agências estabelecidas noutros países. A segunda fase, que prevaleceu até uma época recente, caracterizou-se por companhias multinacionais cujas filiais no estrangeiro reproduziam em escala reduzida o modelo da empresa matriz. A terceira fase, concluiu Palmisano, singulariza-se pela «empresa integrada globalmente». Em vez de se basearem numa relação entre sede e filiais, este tipo de companhias constitui uma única entidade, integrada horizontalmente. Algumas firmas, por exemplo a Lenovo, que no final de 2004 comprou à IBM a divisão de computadores portáteis e de secretária e cujo maior accionista é o governo chinês, dispensam até a noção de sede e os principais administradores reunem-se rotativamente nas várias bases implantadas pelo mundo. Já o World Investment Report 1993, publicado pelo Programme on Transnational Corporations da ONU, calculara que em 1989 cerca de 1/4 ou mais dos bens produtivos dos Estados Unidos e do Japão, cerca de 1/3 da produção no caso norte-americano e cerca de 1/4 das vendas no caso nipónico faziam potencialmente parte de uma estratégia transnacional de integração das actividades produtivas entre matriz e filiais. Segundo este relatório, cerca de 1/3 da produção mundial estava potencialmente sujeita àquele tipo de integração.
Desde então a tendência integradora não parou de se desenvolver e a nova geografia determinada pela evolução das companhias transnacionais está por sua vez a reordenar as relações entre os países. Por exemplo, a maior parte do comércio realizado no âmbito da Associação das Nações do Sudeste Asiático, onde as exportações representam quase 70% do Produto Interno Bruto, não consiste em produtos acabados mas em partes e componentes e em tarefas relativas a fases das cadeias produtivas, numa vasta rede fabril e de serviços que se estende também à China, à Coreia do Sul e ao Japão. Deste modo, é a própria região que funciona como um conjunto produtivo integrado. Parece-me ser este o perfil de um comércio aparentemente internacional e que na realidade é intratransnacional.
5
 Uma economia em que as nações e os respectivos governos perderam a primazia e em que as companhias transnacionais tendem a assumir a forma de uma rede de pólos interligados e com perfil mutável não pode depender de moedas nacionais. Em 1970, enquanto as instituições oficiais norte-americanas dispunham no estrangeiro de cerca de 24 milhares de milhões de dólares, os particulares dispunham já de aproximadamente 22 milhares de milhões. À força de emitir a moeda mundial, a administração norte-americana deixara de controlá-la. Foi este facto que ditou o desmantelamento dos acordos de Bretton Woods, reconhecido pelo Smithsonian Agreement no final de 1971, a data inaugural do longo processo de reorganização financeira que continua ainda hoje por completar. O desequilíbrio entre a emissão nacional de moeda e a sua utilização internacional agravou-se desde então, e nos nossos dias não se trata só de uma questão de dólares e da comparação entre os depósitos oficiais e os particulares. Com o actual volume das transacções financeiras, é impossível um banco central sustentar a sua moeda se houver movimentos sistemáticos contra essa moeda. Explícitos ou tácitos, são necessários acordos com as companhias transnacionais.
Uma economia em que as nações e os respectivos governos perderam a primazia e em que as companhias transnacionais tendem a assumir a forma de uma rede de pólos interligados e com perfil mutável não pode depender de moedas nacionais. Em 1970, enquanto as instituições oficiais norte-americanas dispunham no estrangeiro de cerca de 24 milhares de milhões de dólares, os particulares dispunham já de aproximadamente 22 milhares de milhões. À força de emitir a moeda mundial, a administração norte-americana deixara de controlá-la. Foi este facto que ditou o desmantelamento dos acordos de Bretton Woods, reconhecido pelo Smithsonian Agreement no final de 1971, a data inaugural do longo processo de reorganização financeira que continua ainda hoje por completar. O desequilíbrio entre a emissão nacional de moeda e a sua utilização internacional agravou-se desde então, e nos nossos dias não se trata só de uma questão de dólares e da comparação entre os depósitos oficiais e os particulares. Com o actual volume das transacções financeiras, é impossível um banco central sustentar a sua moeda se houver movimentos sistemáticos contra essa moeda. Explícitos ou tácitos, são necessários acordos com as companhias transnacionais.
Um segundo aspecto contribuiu para remodelar as operações financeiras. Como os administradores das grandes companhias transnacionais planificam a longo prazo e é imperioso articular entre si estes vários planos e articulá-los também com as actividades económicas prosseguidas a curto prazo, tornou-se indispensável criar instrumentos financeiros que antecipem transacções futuras. Estes instrumentos existiam nos Estados Unidos desde os meados do século XIX para os cereais, permitindo aos agricultores precaverem-se contra a baixa dos preços das colheitas, mas só em 1972, em Chicago, o sistema se aplicou pela primeira vez ao mercado internacional de divisas, desenvolvendo-se e expandindo-se desde então até chegar aos complexos derivativos dos nossos dias.
Finalmente, um terceiro aspecto explica a imaginação fértil de que os gestores das instituições financeiras deram mostras para multiplicar o dinheiro bancário e ampliar o crédito. A partir do começo da década de 1980 a política moderadamente inflacionista, que constituíra um dos instrumentos do keynesianismo, foi substituída pela estabilização dos preços e pelo controlo mais estrito da emissão de moeda, que tem sido um dos instrumentos do neoliberalismo. Esta nova política destinou-se a acompanhar a reorganização do mercado de trabalho e as mudanças na relação entre o emprego e o desemprego. Parece-me muito discutível que a baixa da taxa de inflação se devesse à nova orientação seguida pelos bancos centrais, porque entretanto chegaram ao mercado de trabalho globalizado muitos milhões de profissionais qualificados e produtivos, mas com salários, em termos de dólares, bastante inferiores aos praticados nos países desenvolvidos, o que contribuiu para uma redução mundial dos preços de numerosos bens. Seja como for, o certo é que as autoridades monetárias adoptaram uma política restritiva. Ora, já há meio século, em 1958, Nicholas Kaldor havia prevenido, num memorando apresentado ao Comité Radcliffe, que se as autoridades monetárias reduzissem a emissão de dinheiro abaixo do nível requerido pela expansão da actividade económica, as instituições bancárias privadas recorreriam a um conjunto de medidas que deixaria sem efeito as pretensões governamentais, nomeadamente acelerando a velocidade da circulação monetária e aumentando a criação de crédito, tanto às empresas como aos consumidores particulares. É curioso considerar que foi precisamente a este resultado que conduziram as teorias de Milton Friedman, o inspirador do monetarismo neoliberal, porque ao mesmo tempo que ele defendia uma política monetária restritiva e anti-inflacionista defendia também a redução do papel dos governos e a liberdade de actuação das empresas. Numa situação em que a economia crescia, em que a emissão monetária central não acompanhava esse crescimento e em que as empresas dispunham de grande liberdade de actuação, era inevitável que o dinheiro bancário e o crédito atingissem níveis sem precedentes.
É nesta perspectiva que devemos compreender a remodelação dos mecanismos de crédito e dos instrumentos financeiros ocorrida nos últimos anos. Fala-se muito de «capital especulativo», mas não existem capitais úteis e capitais inúteis, pois a função do crédito é agilizar a produção. Em vez de ter inaugurado uma «economia de casino», a banca adaptou-se às necessidades do sistema produtivo actual. É certo que existem especuladores nos meios financeiros, mas eles existem sempre, tal como há falsificadores na indústria e carteiristas nos centros comerciais. Não é por aí que podemos compreender o funcionamento da economia.
A actual crise mostrou que até instituições não bancárias foram levadas a usar os mesmos instrumentos financeiros empregues pelos bancos mais ousados. Deste modo, um banco de investimentos que se limitava a ser uma unidade secundária do American International Group, AIG, uma das maiores seguradoras mundiais, contribuiu a certa altura para mais de 1/4 dos lucros da companhia, acabando finalmente por precipitá-la na crise. E embora esta seguradora não fosse uma instituição bancária, se ela falisse, arrastaria na voragem todo o sistema financeiro, a tal ponto que a Reserva Federal norte-americana, apesar de ter abandonado à sua sorte o banco Lehman Brothers, se viu obrigada em Setembro e Outubro de 2008 a tomar várias iniciativas que, somadas, resultaram no adiantamento de 153 milhares de milhões de dólares ao AIG a troco de uma participação de 79,9% nas suas acções.
Ainda mais revelador da interpenetração da actividade bancária e dos restantes ramos económicos é o sucedido com a General Motors, o maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos e até ao final de 2007 o maior fabricante mundial, uma posição que ocupara durante setenta e sete anos. As dificuldades da General Motors datam de há muito e resultam fundamentalmente de não ter sido capaz de se adaptar aos novos sistemas produtivos desenvolvidos pelas firmas japonesas, que ditaram o fim do fordismo. Mas se esta companhia sentiu tão velozmente a crise, isto deve-se talvez ao facto de só o seu departamento de crédito ao consumidor ter sido verdadeiramente rentável. Foi em 1919 que a General Motors começou a oferecer financiamento para a compra dos seus automóveis, e nos meados da década de 1980 os departamentos de crédito ao consumidor da General Motors, da Ford e da Chrysler financiavam mais de 1/3 dos carros vendidos por estes três fabricantes, obtendo tal volume de lucros que adquiriram outras firmas, expandiram a actividade financeira e começaram a proceder a hipotecas. Em 1985, se o departamento de crédito ao consumidor da General Motors estivesse registado como banco, seria o quinto maior dos Estados Unidos. Nos primeiros anos da década de 1990, quando a General Motors sofria um prejuízo de cerca de 1.500 dólares por cada veículo vendido nos Estados Unidos e no Canadá, o departamento financeiro era um dos poucos rentáveis e contribuía para assegurar a sobrevivência da companhia. Esta situação continuava a verificar-se em 2002, sendo todo o rendimento líquido proveniente do ramo financeiro. Tecnicamente, a General Motors já não era um fabricante de automóveis, mas uma instituição bancária que fabricava automóveis para proceder a operações de crédito. Nos dois anos seguintes a produção de veículos voltou a ser rentável, mas sem que por isso os lucros da companhia deixassem de depender sobretudo do departamento financeiro. Ora, em 2008, quando entrou em crise o consumo das famílias norte-americanas e as dívidas começaram a não ser pagas, o departamento financeiro da General Motors sentiu as mesmas dificuldades das instituições hipotecárias, ficando a companhia sem a muleta habitual. Embora pertença à «economia real» que tantos comentadores gostam de mencionar, a indústria automobilística nem por isso deixou de ser atingida como uma instituição financeira.
Uma curiosa miopia levou boa parte da esquerda a protestar contra a intervenção dos governos e dos bancos centrais para salvar instituições financeiras cuja falência colocaria a globalidade da economia em perigo, juntando-se assim aos que na direita liberal invocaram a liberdade de mercado e consideraram que seria preferível deixar os bancos falirem. Ora, mesmo tendo em conta a expansão da subcontratação na produção de bens materiais e não materiais, a interdependência das firmas é ainda maior no sector financeiro, onde a queda brusca de um banco, em vez de representar um aumento da clientela dos concorrentes, é considerada como uma ameaça para todos eles. E como o crédito é indispensável às restantes actividades, o agravamento da crise financeira teria precipitado toda a economia na catástrofe, com custos muitíssimo superiores aos que resultaram das intervenções governamentais. O plano apresentado em Setembro de 2008 pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Hank Paulson, e pelo presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, previa originariamente o emprego de 700 milhares de milhões de dólares para socorrer o sistema financeiro do país, uma quantia que representa cerca de 6% do Produto Interno Bruto; mas é preciso recordar que, segundo um estudo realizado por dois economistas do Fundo Monetário Internacional, Luc Laeven e Fabian Valencian, as crises bancárias têm em média implicado um custo equivalente a 16% do Produto Interno Bruto. Como qualquer aluno do primeiro ano de Economia sabe que os bancos centrais foram criados precisamente para impedir os pânicos financeiros e os colapsos bancários, e também não ignora com que consequências catastróficas a Reserva Federal norte-americana deixou que falissem centenas de bancos no começo da grande depressão da década de 1930, admito que os políticos que tomaram aquela atitude, tanto os que se reclamam do marxismo como os adeptos do livre mercado, o fizessem não por incompetência mas por demagogia. Se em vez de estarem na oposição estivessem no governo o seu discurso seria outro, mas isto dificilmente os qualifica para delinearem os termos da nova regulamentação requerida pela actividade bancária.
6
 Existem hoje os meios económicos, existem os instrumentos financeiros, mas falta-lhes a coordenação. Os mecanismos reguladores mostram-se inadequados às necessidades.
Existem hoje os meios económicos, existem os instrumentos financeiros, mas falta-lhes a coordenação. Os mecanismos reguladores mostram-se inadequados às necessidades.
A criação dos novos tipos de crédito e de dinheiro bancário ocorreu inevitavelmente no mesmo âmbito transnacional da actividade produtiva. E se bem que a desregula- mentação a que se procedeu gradualmente desde o Smithsonian Agreement de 1971 tivesse representado a superação dos limites nacionais, como não se foram ao mesmo tempo estabelecendo no plano supranacional instituições supervisoras oficiais, os órgãos nacionais remanescentes não cumpriram cabalmente a sua função. Ao contrário do que é comum afirmar, não creio que a actual crise tivesse sido precipitada pelo carácter demasiado ousado dos instrumentos financeiros mas, em vez disso, pelo carácter demasiado arcaico a que se têm circunscrito as instituições oficiais. Ficou patente a inadequação dos organismos de base nacional perante uma actividade económica transnacional. Igualmente grave é o facto de as Agências de Avaliação do Crédito de escopo supranacional, como a Moody’s e a Standard & Poor’s, serem empresas privadas estreitamente ligadas às administrações dos bancos e terem tanto mais lucros quanto maior é a prosperidade do sistema bancário.
Desde há vários anos que o Banco de Pagamentos Internacionais, estabelecido em Basileia em 1930 para funcionar como banco dos bancos centrais, tem insistido na necessidade de os governantes levarem em consideração os indicadores económicos globais e não apenas nacionais e de a supervisão bancária se preocupar com o conjunto do sistema financeiro e não só com firmas isoladas. No entanto, a regulamentação da actividade bancária proposta em 2004 no âmbito deste Banco e comummente denominada Basileia 2 ilustra mal estas preocupações, em primeiro lugar porque a sua implementação, embora visasse o sistema financeiro transnacional, foi confiada às leis de cada país e em segundo lugar porque atribuiu aos próprios administradores dos bancos o encargo de avaliarem os riscos. Mais recentemente, Andrew Gracie, um especialista britânico de regulamentação bancária, declarou que a principal deficiência consistiu no facto de os órgãos fiscalizadores terem considerado que, se cada instituição bancária parecesse segura, o sistema estaria livre de risco. Ora, argumentou Gracie, como todos os bancos tendem a deter o mesmo tipo de activos, a crise de um banco pode arrastar a dos demais, sendo portanto necessário instaurar uma regulamentação que leve em conta, além da posição de cada banco, as vulnerabilidades da globalidade do sistema. Análises deste tipo têm implicações profundas, porque a admissão de que a macroeconomia não consiste numa mera soma de microeconomias constitui uma renúncia a um dos postulados fundamentais do neoliberalismo.
Gerir nas fronteiras nacionais uma economia transnacionalizada teria como resultado a adopção de medidas proteccionistas que, se hoje se generalizassem, provocariam uma profunda depressão económica. A crise só pode ser superada numa escala global, e o impasse agravar-se-á se a recente intervenção dos governos destinada a impedir a falência das instituições financeiras acentuar as clivagens entre países em vez de criar órgãos de regulamentação supranacionais. Nestas circunstâncias, o que sucederá se o crédito bancário não obedecer aos estímulos governamentais e, tendo recebido fundos colossais, persistir em usá-los exclusivamente na solução dos seus próprios problemas de liquidez a curto prazo? Assumirão os Estados uma posição neste sector? Se o fizerem, não agravarão a discrepância entre os limites nacionais e a transnacionalização da economia? Nos Estados Unidos a Reserva Federal encarregou-se agora pela primeira vez de proceder directamente ao crédito a consumidores individuais, ainda que estes possam não saber a quem na realidade estão a pagar os juros das hipotecas. E a dimensão atingida pelas participações governamentais nas instituições financeiras intervencionadas impedirá que, debelada a crise, os Estados possam colocar rapidamente no mercado esse enorme volume de acções sem as depreciar. Na perspectiva de um prolongamento desta modalidade de capitalismo de Estado, fala-se agora em reforçar a acção reguladora dos governos, e até a Reserva Federal norte-americana aumentou discretamente a sua capacidade de intervenção. Mas é necessário não esquecer que se a actual crise pôde deflagrar devido à insuficiência dos órgãos nacionais para fiscalizar um sistema financeiro que os ultrapassava, a atribuição de maiores poderes a esses órgãos não resolve o problema dos seus limites nacionais.
Para o capitalismo a questão é ainda mais grave porque, estando as nações caducas enquanto quadro económico e, portanto, estando secundarizados os governos nacionais, fica posta em causa a base das instituições interestatais. Algumas delas subsistem tal como foram delineadas nos acordos de Bretton Woods, outras sofreram adaptações que não lhes alteraram a substância, enquanto o grande capital as ultrapassou todas no seu desenvolvimento. Na verdade, as companhias transnacionais pretenderam aproveitar o melhor de dois mundos, assumindo na prática um papel de instituições públicas mas continuando nos termos da lei a apresentar-se como privadas. Em 1992 o Banco Mundial adoptou as Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment, um documento aceite pelas administrações do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional após consultas com os governos interessados, outras organizações internacionais, grupos de homens de negócios e associações jurídicas internacionais. Mas além de se tratar de um conjunto de recomendações de base meramente voluntária, visava regular apenas a actividade dos governos e não a das firmas transnacionais. Nessa ocasião o Banco Mundial esclareceu que as Guidelines constituem «princípios gerais propostos para orientar o comportamento dos governos relativamente aos investidores estrangeiros; não incluem regras de boa conduta por parte dos investidores estrangeiros». Este segundo aspecto vinha então a ser negociado desde há década e meia no quadro do United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations, mas depois de contactos informais em Julho de 1992 as delegações concluíram que era impossível chegar a um consenso e cancelaram todo o esforço negocial. Ficou assim criado deliberamente o vazio jurídico em torno das companhias transnacionais, e esta situação permitiu que a actual crise assumisse grandes proporções.
Afigura-se-me que para o capitalismo o caminho mais viável consiste numa articulação entre as maiores firmas transnacionais e novos órgãos supranacionais saídos das instituições internacionais actualmente existentes. Os bancos centrais podem aqui servir de modelo, porque nasceram da necessidade de conjugar de uma maneira discreta a acção dos Ministérios das Finanças com a acção dos bancos privados. Aliás, a independência dos bancos centrais relativamente aos respectivos governos continua a ser um requisito desse objectivo, e é possível conceber que alguma coisa semelhante venha a surgir numa escala supranacional. De certo modo, tratar-se-ia de fazer o que a China faz já no âmbito da sua economia, juntando o capitalismo de Estado e as empresas privadas num único mecanismo de tomada de decisões, consagrado pela admissão dos capitalistas privados como membros de um Partido que continua, evidentemente, a chamar-se Comunista. Também aqui parece que é o capitalismo chinês a indicar o rumo.
O certo é que os governantes, se por um lado adoptaram nos respectivos quadros nacionais medidas para debelar a crise, por outro lado reconheceram também a necessidade de tomar iniciativas no plano supranacional. É significativo que em 29 de Setembro de 2008 o Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra e o Banco do Japão tivessem ajudado a Reserva Federal norte-americana a ampliar a sua intervenção nos mercados monetários. E pouco depois, a 8 de Outubro, numa semana em que o sistema financeiro mundial quase deixou de funcionar, as principais instituições bancárias centrais, incluindo a dos Estados Unidos, as da União Europeia e a da China, coordenaram a baixa das suas taxas de juro. Mas as decisões a meu ver mais importantes referem-se ao plano directamente supranacional, não apenas internacional, e neste sentido é notável que a 15 de Novembro de 2008, em Washington, a reunião dos governantes das vinte maiores economias, representando em conjunto quase 90% do Produto Interno Bruto mundial, tivesse emitido um comunicado final que, nas palavras de The Economist, constituiu «um reconhecimento pragmático da tensão existente entre um mercado de capitais globalizante e uma regulação nacional». Com efeito, decidiu-se criar conselhos de supervisores destinados a inspeccionar as maiores instituições financeiras transnacionais, e para facilitar a tarefa decidiu-se instaurar um padrão de contabilidade único em todo o mundo. Igualmente marcante foi a decisão de ampliar o escopo dos participantes do Fórum de Estabilidade Financeira, um organismo criado em 1999 no quadro do Banco de Pagamentos Internacionais, que reúne as principais autoridades financeiras de uma dúzia de países bem como várias organizações económicas internacionais e se encarrega de aspectos técnicos da supervisão financeira. Com a mesma inspiração aquela reunião anunciou a necessidade de reorganizar o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.
Já antes se falava em aumentar as verbas de que dispõe o Fundo Monetário Internacional, preparando-o para enfrentar os mercados globais, e também é verdade que na presente crise o Fundo se tem mostrado mais flexível e menos exigente do que foi no passado. Mas os problemas aqui não decorrem só da escassez de verbas, e sobretudo da estrutura interna do Fundo, que a hegemonia norte-americana impede de ser verdadeiramente internacional e muito menos supranacional. Nas circunstâncias actuais é impossível ampliar as somas à disposição do Fundo sem recorrer à China. Ora, a reorganização operada no Fundo em Abril de 2008 aumentou o poder de voto da China para apenas 3,81%, um estatuto ridículo quando comparado com a importância económica do país, e as autoridades chinesas pronunciaram-se discretamente quanto à necessidade de pôr cobro ao controlo de facto exercido por Washington sobre aquela instituição. Mas depois da reunião dos vinte países em 15 de Novembro de 2008 a administração norte-americana continuou a mostrar-se avessa a qualquer remodelação do Fundo Monetário Internacional.
Tudo somado, talvez esta não seja já a época das grandes reformas sistemáticas do capitalismo, ao estilo do New Deal implementado nos Estados Unidos durante a administração do presidente Franklin Delano Roosevelt ou do Welfare State instaurado em alguns países europeus após a segunda guerra mundial, quando prevalecia a autoridade dos governos nacionais. É possível que agora o capitalismo resolva os seus problemas através de medidas que, embora pontuais e dispersas, visem aspectos decisivos e sejam tomadas de maneira discreta, em resultado de acordos entre os administradores das maiores empresas e os tecnocratas dos Ministérios das Finanças e da Economia, dos bancos centrais e do Banco de Pagamentos Internacionais, longe dos olhos do público. Se assim for, então nós, cidadãos comuns, teremos de aprender a ver através das paredes se não quisermos padecer de cegueira.







Um texto que, pese embora a sua extensão e erudição, se lê num sopro e se galga da primeira à última linha, a sorver, a aprender mais qualquer coisa, para quem como eu, sendo da área da História, isto é sempre uma apetecível novidade. Não tenho argumentos, apenas leio e aprecio e como não uso de dialéctica crítica – por insuficiência minha neste tema –, deixo somente o meu apreço por palavras sinceras. Conheço alguma coisa do autor e sei do seu notável trajecto político e filosófico. Foi com assumido prazer que li este texto, cheio de variáveis fundamentais.
Texto muito interessante e que nao perdeu muito de sua cor mesmo após um ano de escrito (ao contrário de tantos outros sobre a crise).
“Não pretendo abordar a possível, ou pelo menos desejada, resposta dos trabalhadores, que será tema de um artigo posterior”
Esse artigo foi realizado?
Zé António,
Acerca da crise económica de 2008-2009 escrevi em 2010, e publiquei no Passa Palavra, uma série em oito partes sob o título genérico «Ainda acerca da crise económica». Nenhuma dessas partes trata d’«a possível, ou pelo menos desejada, resposta dos trabalhadores». A razão é simples. Não houve, e continua a não haver, resposta dos trabalhadores. Há lutas, evidentemente, há-as sempre. A extracção de mais-valia pressupõe a existência de conflitos sociais. Mas esses conflitos têm sido dispersos, fragmentados e, pior ainda, em numerosos casos têm consistido na agudização da concorrência no mercado de trabalho. Esta é precisamente uma das bases sociais do populismo. Por todo o mundo, não só na Europa e nos Estados Unidos, mas também em países africanos e na Ásia, aumentaram as lutas dos trabalhadores nacionais contra os imigrantes, por vezes atingindo formas de grande violência. O Passa Palavra analisou o caso africano no artigo «Racismo negro antinegro na África».
Assim, o capitalismo recupera tanto mais facilmente estes conflitos quanto eles nem sequer se destinam a pô-lo em causa, e a insatisfação serve para reforçar a ordem dominante e para acelerar os mecanismos da produtividade.
Como é possível, neste contexto, que prevaleça na esquerda a opinião de que o capitalismo esteja numa crise global ou tenha mesmo atingido uma crise terminal? Isto serve para classificar a esquerda existente. Já não se trata de uma esquerda da luta de classes, que considere que só os trabalhadores podem derrotar o capitalismo. É uma esquerda da desistência e da demissão, que aliena no capitalismo a tarefa de ele se derrotar a si mesmo.