Por Júlio Delmanto [*]
Este texto nasce a partir de uma série de debates realizados a respeito do Estado no interior do Coletivo Desentorpecendo a Razão (DAR) [1]. Apesar de se alimentar da discussão coletiva, a idéia aqui não é fazer uma síntese do pensamento presente no DAR, uma vez que este é bastante amplo e diverso, mas sim expor nossos debates atuais tanto para ajudar na compreensão do antiproibicionismo por parte de outros setores da esquerda como para, quem sabe, fomentar uma troca de formulações e experiências a respeito da prática política autônoma e suas relações com o Estado.
 Forjada a partir de interesses econômicos, políticos e morais de determinados setores estadunidenses, e depois implementada globalmente a partir da sinergia destes paradigmas com necessidades locais de controle social, a proibição das drogas finalmente passa por um momento de questionamento cada vez mais amplo. Da Rede Globo ao PSTU, passando por intelectuais, cientistas, artistas e políticos, diversos novos atores juntam-se a, ou ao menos apóiam, um movimento que antes era formado praticamente apenas por usuários de maconha. Até entre aqueles que não têm nas liberdades individuais e no direito ao próprio corpo uma preocupação central cresce o entendimento de quantas mortes, prisões e arbítrios estão no pacote proibicionista de suposta defesa da saúde pública.
Forjada a partir de interesses econômicos, políticos e morais de determinados setores estadunidenses, e depois implementada globalmente a partir da sinergia destes paradigmas com necessidades locais de controle social, a proibição das drogas finalmente passa por um momento de questionamento cada vez mais amplo. Da Rede Globo ao PSTU, passando por intelectuais, cientistas, artistas e políticos, diversos novos atores juntam-se a, ou ao menos apóiam, um movimento que antes era formado praticamente apenas por usuários de maconha. Até entre aqueles que não têm nas liberdades individuais e no direito ao próprio corpo uma preocupação central cresce o entendimento de quantas mortes, prisões e arbítrios estão no pacote proibicionista de suposta defesa da saúde pública.
Mesmo com o também crescente poder político do pensamento conservador e religioso no Brasil, a entrada de novos atores neste debate e um contexto internacional de abertura de alternativas [2] levam a que não seja exagero coadunar com a afirmação do estadunidense Ethan Nadelmann, que após ver a proposta de legalização da maconha derrotada por pequena margem em plebiscito na Califórnia, em 2010, declarou que a dúvida não é mais em relação a se um dia legalizaremos as drogas, mas quando. Acrescentemos o que talvez seja, se não mais, no mínimo igualmente importante: e como.
Articulado na negativa da proibição, como o próprio nome bem diz, o antiproibicionismo congrega na prática uma ampla gama de proposições, atuações e enfoques, com diversos graus de convergência e diálogo. Desde os defensores da legalização para o livre mercado [3] aos influenciados pelo pensamento anarquista, defensores da “deslegalização”, passando pelos estatizantes ou defensores apenas do uso científico ou medicinal, há grande diversidade neste campo. Deixando de lado, por enquanto, a alternativa de legalização sob livre mercado, ou legalização liberal, avaliemos aqui duas propostas relevantes com enfoque de esquerda, como as do professor de História e trotskista Henrique Carneiro – um dos precursores do antiproibicionismo no Brasil – e a do pesquisador de relações internacionais e anarquista Thiago Rodrigues.
Legalização ou desregulamentação?
No artigo Legalização e controle estatal de todas as drogas para a constituição de um fundo social para a saúde pública, Henrique Carneiro parte inicialmente da caracterização das drogas em “três circuitos de circulação” na sociedade contemporânea: “o das substâncias ilícitas, o das lícitas de uso recreacional e o das lícitas de uso terapêutico”. Sua proposta é de que os três “devem ser objeto de um tipo de empreendimento que não permita a intensificação do estímulo contínuo ao consumo e, consequentemente, lucros sempre crescentes, inerentes ao interesse privado”, com a criação de um “fundo social”, “constituído com o faturamento de um mercado legalizado e estatizado de produção de drogas psicoativas em geral, tanto as ilícitas como as legais”.
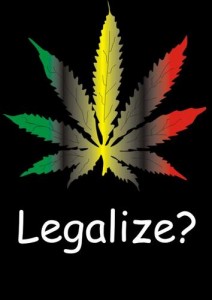 Já Thiago Rodrigues, membro do Núcleo de Sociabilidade Libertária (Nu-Sol), grupo identificado com a tradição do anarquismo individualista, critica tanto a postura proibicionista – incluída aí a descriminalização apenas do consumo, qualificada de “proibicionismo renovado” por manter o tráfico criminalizado – quanto as alternativas de legalização, sejam liberais ou estatizantes. No artigo Drogas e liberação: enunciadores insuportáveis, por exemplo, aponta: “Em todos os casos mencionados — proibicionismo com enfoque na demanda, políticas de redução de danos, descriminalização, legalização estatizante ou liberal— percebe-se um ímpeto que contesta em graus variados o proibicionismo. No entanto, nenhuma das propostas foge à mesma lógica em que repousa a Proibição; todos estão no campo da normatização”.
Já Thiago Rodrigues, membro do Núcleo de Sociabilidade Libertária (Nu-Sol), grupo identificado com a tradição do anarquismo individualista, critica tanto a postura proibicionista – incluída aí a descriminalização apenas do consumo, qualificada de “proibicionismo renovado” por manter o tráfico criminalizado – quanto as alternativas de legalização, sejam liberais ou estatizantes. No artigo Drogas e liberação: enunciadores insuportáveis, por exemplo, aponta: “Em todos os casos mencionados — proibicionismo com enfoque na demanda, políticas de redução de danos, descriminalização, legalização estatizante ou liberal— percebe-se um ímpeto que contesta em graus variados o proibicionismo. No entanto, nenhuma das propostas foge à mesma lógica em que repousa a Proibição; todos estão no campo da normatização”.
Rodrigues prossegue: “O inconteste avanço com relação à Proibição esbarra na vontade de produzir outras estruturas e padrões que não se pode perceber como necessariamente favoráveis ao consumo de drogas”. “Nas medidas de redução de danos, o fatalismo referente ao uso de drogas norteia as ações [4]; nas reformas de descriminalização, o usuário é enredado por redes mais sutis que as grades do sistema prisional, mas não deixa de sê-lo; na defesa da legalização pela via do monopólio estatal, há a possibilidade de um controle potencializado dos usuários e na legalização liberal, uma redução do uso de psicoativos em termos utilitários e individualistas. O direito, terreno onde se cristalizam as demandas morais, segue sendo o agenciador a mediar a relação entre os indivíduos e as drogas psicoativas; razão pela qual se pode pressupor o porquê da grande difusão destas visões alternativas como legítimos vetores críticos ao proibicionismo”.
Para o autor, a legalização “não levantaria as guardas deste Estado provedor de vida, mas, em sentido oposto, tornaria mais sofisticada a normalização dos corpos ao produzir novos lugares, circuitos e identidades”. Sua proposta segue a linha de Thomas Szasz: “Nem proibir, tampouco permitir; simplesmente desregulamentar”.
Nota-se, portanto, que, querendo ou não, de uma forma ou de outra, deparamos inevitavelmente com o debate a respeito do Estado, sendo a compreensão deste um elemento importante em relação a uma tomada de posição a respeito de qual o melhor caminho “pós proibicionista” a ser defendido e almejado.
Estado? Que Estado?
Inicialmente, as proposições de Thiago Rodrigues parecem mais próximas às concepções anticapitalistas com as quais dialoga o DAR e sua trajetória. “O Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer seus interesses”, sintetizaram Marx e Engels em A ideologia alemã, que definiram também o Estado como “garantia de propriedade e interesses burgueses”.
Entendendo o Estado como necessariamente, e não apenas ocasional ou atualmente, a serviço da dominação e da exploração, Rodrigues formula sua alternativa em diálogo com a visão de John Holloway, para quem “o Estado está limitado e condicionado por existir somente como parte de uma rede de relações sociais. Essa rede se centra, de maneira crucial, na forma como o trabalho está organizado. O fato do trabalho estar organizado sobre a forma capitalista significa que o que o Estado faz ou pode fazer está limitado e condicionado pela necessidade de manter o sistema de organização capitalista do qual é parte” [5].
O diálogo é implícito mas facilmente identificável, uma vez que tanto Rodrigues como Holloway são tributários da concepção foucaultiana do Estado como prática, como conjunto de relações congeladas, mas não como lócus único do poder. Poder que não se detém, se exerce, segundo o filósofo francês, estando assim presente no Estado, sim, mas também disseminado pela sociedade em diferentes formas e intensidades. Como aponta Holloway, diante da constatação da multiplicidade das relações de poder deve corresponder uma multiplicidade de resistências, que visem não a tomada do poder estatal mas a diluição mesma do poder.
 Em sua prática, o Coletivo DAR tem caminhado próximo a estas concepções no sentido de entender essa funcionalidade estrutural do Estado e, talvez sobretudo, essa “universalidade do normativo” que Foucault aponta em Vigiar e punir, lembrando a “onipresença dos dispositivos de disciplina” em uma sociedade em que “há juízes da normalidade em toda parte”: “Estamos na sociedade do professor-juiz, do médico-juiz, do educador-juiz, do assistente-social-juiz; todos fazem reinar a universalidade do normativo; e cada um no ponto em que se encontra aí submete o corpo, os gestos, os comportamentos, as condutas, as aptidões, os desempenhos”.
Em sua prática, o Coletivo DAR tem caminhado próximo a estas concepções no sentido de entender essa funcionalidade estrutural do Estado e, talvez sobretudo, essa “universalidade do normativo” que Foucault aponta em Vigiar e punir, lembrando a “onipresença dos dispositivos de disciplina” em uma sociedade em que “há juízes da normalidade em toda parte”: “Estamos na sociedade do professor-juiz, do médico-juiz, do educador-juiz, do assistente-social-juiz; todos fazem reinar a universalidade do normativo; e cada um no ponto em que se encontra aí submete o corpo, os gestos, os comportamentos, as condutas, as aptidões, os desempenhos”.
Elegemos assim como elemento central no planejamento de nossas ações e prioridades a busca por uma mudança de mentalidade, pela disseminação do entendimento de liberdade para além do enfoque nas instituições como meios de transformação, implicitamente corroborando a definição que Holloway dá ao papel que elas cumprem, o de canalizar a revolta.
Diante da universalidade do normativo nos parece apropriada a busca por alternativas que retirem do Estado a legitimidade para controlar corpos e vontades, mesmo que em um ambiente não proibitivo. No entanto, a proposição de Rodrigues parece esquecer de um “pequeno” detalhe: o capitalismo. Se é em seus marcos que estamos discutindo as possibilidades de transformação das políticas de drogas, não nos parece prudente olvidar o mercado nesta discussão.
Não à toa, no texto acima citado, Rodrigues fia-se diversas vezes em escritos do psiquiatra estadunidense Thomas Szasz, representante da tradição ultraliberal daquele país, defensor do mercado como única entidade regulamentadora legítima da atividade humana [6]. Uma “deslegalização” não significaria na prática uma legalização liberal, com o mercado provendo todas as substâncias para os consumidores, mas da forma que o horizonte do lucro considerar mais adequada? O exemplo da indústria tabagista, e das inúmeras substâncias tóxicas adicionadas ao tabaco na busca pelo máximo lucro, é bem ilustrativo de como a liberdade apregoada pelo mercado pode significar imposição de condutas aos consumidores.
Henrique Carneiro provavelmente afirmaria que não diverge da descrição do Estado feita por Marx e Engels, e que sabe bem a que interesses ele serve, mas que não é capaz de fazer como Rodrigues e alinhar-se, mesmo que involuntariamente, aos interesses do mercado. Sua defesa da legalização com forte controle estatal inclusive podia parecer a mais improvável até que o presidente uruguaio a apresentasse ao Congresso do país neste ano, defendendo que o Estado deste pequeno país passe a ter o monopólio da distribuição e da venda de maconha legal a seus cidadãos [7].
Mas de que Estado fala Henrique Carneiro quando defende controle estatal? Do mesmo Estado brasileiro que é o terceiro que mais encarcera pessoas no mundo e certamente um dos que mais assassina? Não estaria aqui o professor incorrendo no que Holloway classifica como “noção instrumental do Estado”?
Para o pensador irlandês radicado no México, os movimentos revolucionários marxistas “sempre foram conscientes da natureza capitalista do Estado”, mas têm uma visão “instrumental” acerca dessa natureza: instrumento da classe capitalista. Para ele, a noção de instrumento implicaria que a relação entre Estado e capitalistas seria externa, isolando o Estado de seu contexto, fetichizando-o, abstraindo-o da rede de relações de poder onde está imerso. “O erro dos movimentos marxistas revolucionários não foi negar a natureza capitalista do Estado, e sim compreender de maneira equivocada o grau de integração do Estado na rede de relações sociais capitalistas”, aponta Holloway.
Assim, diante da proposta de Henrique surgem algumas dúvidas. A primeira dela foi comentada acima, ou seja, é possível que o Estado, por sua própria natureza, exerça um tipo de controle que não esteja marcado por sua “integração na rede de relações sociais capitalistas”? Pode o Estado servir como contraponto ao arbítrio do mercado sendo ele mesmo parte dessa história?
E mais: é desejável que o Estado cumpra essa função? Se estamos com Marx, e entendemos o Estado como parte desta separação entre auto-atividade humana e produção da vida material, como garantidor da divisão social do trabalho e da propriedade privada, como fiador da falsa dicotomia entre político e econômico, por que o elegeríamos como o mecanismo de controle social do mercado das drogas hoje ilícitas? Por que fortaleceríamos um mecanismo que na prática joga todo o tempo contra nós?
Avaliando o que classifica como “novas governabilidades” na América Latina, resultado da potência dos movimentos sociais e também da intenção das elites em reconstituírem a crise do modelo de dominação, Raul Zibechi descreve no artigo A arte de governar os movimentos sociais [8] um cenário em que novas formas de controle buscam não mais tentar impedir, através da força, o crescimento dos movimentos populares, mas sim colocar em jogo outros elementos a fim de que o fenômeno que eles representam se anule em si mesmo. Neste contexto, o autor mostra a importância para o Estado das estratégias de diálogo e construção de políticas públicas junto aos movimentos sociais. Este “compartilhamento de espaço-tempos” geraria um duplo reconhecimento: por um lado está o Estado reconhecendo a importância e o peso dos movimentos, mas por outro, e não menos importante, estão os movimentos reconhecendo e legitimando as novas governabilidades estatais.
Investindo no Estado o poder de legislar sobre nossas condutas privadas, o poder de legislar sobre nossos corpos, não estamos agindo de forma análoga a este duplo reconhecimento? Reconhece o Estado nosso direito a ingerir o que bem entendermos, mas nós reconhecemos também o direito deste Estado a proceder desta forma, a dizer o que podemos ou não fazer, e como.
Além disso, se a proposta de Rodrigues parece ter se “esquecido” do mercado, a de Carneiro tampouco lida com o papel simbólico de zelar pelo “interesse público” que o Estado diz exercer. Por que o Estado investiria na produção de substâncias alteradoras de consciência se não dá conta nem de prover educação e saúde para a população? Como justificar isso? Uma resposta poderia ser: “sim, também defendo a estatização da saúde, da educação, do transporte, etc.” Seria essa nossa alternativa de combate ao domínio do mercado, o fortalecimento de um super-Estado? Onde fica a emancipação humana nessa história, ela pode conviver com o Estado?
Por fim, última objeção: se deixamos ao Estado a prerrogativa de legislar sobre esse mercado, deixamos a ele também o direito de reprimir os que fujam das regras estabelecidas? Não deixamos aberto assim um flanco para a criminalização seletiva de setores sociais, uma vez que qualquer criminalização é sempre seletiva? Por que acreditar que um Estado penal que encarcera seletiva e arbitrariamente os setores indesejados de sua população procederia de maneira justa e parcimoniosa apenas no âmbito da regulamentação das drogas? E ainda que o fizesse, optaríamos por fortalecê-lo mesmo sabendo como são seus procedimentos com todo o restante da aplicação da Justiça?
Inconclusões
Bom, ok, a proposta de Thiago Rodrigues parece interessante ao retirar a legitimidade estatal, mas problemática ao lidar com o mercado; a de Henrique Carneiro parece interessante ao retirar a legitimidade do mercado, mas problemática ao fortalecer o Estado. O que fazer então?
Uma espécie de “terceira via” pode ser representada pelo modelo das cooperativas, muito fortes na Espanha, por exemplo. Como a lei do país já permite um número mínimo de pés de maconha para cultivo e consumo pessoal, diversos usuários se juntam em cooperativas sem fins lucrativos nas quais cada um utiliza-se desse limite pessoal de forma coletiva. Por não funcionar como uma empresa, a cooperativa não incentiva o consumo nem o propagandeia. Além disso, garante a qualidade do produto e o envolvimento do usuário no processo de produção. Por não ser uma iniciativa estatal, é passível de menos controle e nem conta com investimento “público”.
O modelo é interessante, poderia até apontar para concepções autogestionárias, no entanto parece improvável que possa dar conta de uma produção em larga escala, necessária diante de tamanha demanda global. Além disso, quanto mais fechada uma alternativa mais margem ela abre para o surgimento de mercados ilegais, invariavelmente regidos pela violência. Onde ficam os consumidores de drogas que simplesmente não querem ter uma ligação “não alienada” com o processo de produção de sua substância preferida? São obrigados a se engajarem no processo de produção e se não o quê? Havendo essa demanda não haverá oferta ilegal? Não se pode almejar aqui a saída holandesa de regulamentação da compra e do consumo em determinados locais, mas em paralelo à incoerente manutenção da criminalização da produção. Além disso, como ficam as substâncias cuja produção é sintética, que não envolvem essa tradição de cultivo e essa relação com as plantas que coca e cannabis representam?
Obviamente que qualquer das alternativas apresentadas representa um enorme avanço em relação à atual conjuntura proibicionista, sendo portanto a luta pelo fim da guerra às drogas o foco principal do movimento. Antiproibicionismo, articulado na negativa da proibição. Parece evidente também que, diante da atual conjuntura, não haverá alternativa que consiga “fugir” seja do Estado seja do mercado, a não ser que esperássemos sentadinhos o fim do capitalismo para aí pensar como queremos que se dêem produção, distribuição e consumo das substâncias psicoativas.
Analisar essa realidade não significa necessariamente aceitá-la, e muito menos colaborar com ela. Não é porque identificamos uma inevitabilidade do mercado e do Estado no presente momento que temos de trabalhar com estratégias que os fortaleçam. Lidar com isso certamente é um dos principais desafios do movimento antiproibicionista, e ainda há pouco debate e pensamento a respeito dessas questões em seu interior. Cogitamos que, para além do antiproibicionismo, talvez nos esteja colocada a demanda da construção de um antiproibicionismo anticapitalista.
No texto já citado, Raul Zibechi esboça alguns pontos que parecem interessantes de serem aplicados aqui. Podem ser um bom ponto de partida para que um debate mais estratégico seja feito pelo movimento, ampliando também o diálogo com outros setores da esquerda. Zibechi propõe: 1) compreender as novas governabilidades em toda a sua complexidade. Como resultado de nossas lutas mas também como uma tentativa de nos destruir. 2) Proteger nossos espaços e territórios da atuação estatal. 3) Não nos somarmos à agenda do poder, criar nossa própria agenda. 4) Delimitar campos, a fim de deixar bem claro até que ponto iniciativas com outros setores podem ser benéficas. 5) Não tomar a unidade como horizonte fundamental, pensando nas resistências múltiplas como positivas e no risco da unidade surgir como imposição, como freio aos movimentos de abajo.
 Como apontou um texto do DAR do começo deste ano, vivemos um momento dúbio em relação ao debate de drogas, em que por um lado cresce o movimento, mas por outro fortalecem-se também os velhos ideais conservadores que formaram e sustentam nosso país. Nossa importante vitória frente às absurdas proibições e nosso fortalecimento convivem com a militarização crescente, que se agrava na onda dos megaeventos, com o imenso peso político de grupos religiosos praticamente fundamentalistas e com o caráter repressivo de alternativas supostamente médicas, como a internação compulsória de usuários de crack, ganhando cada vez mais espaço nas políticas públicas. Se queremos uma mudança de fato, e não apenas uma “revolução passiva” na qual os de cima absorvam os desejos de mudança provenientes de setores populares e movimentos sociais, a fim não de implementá-los em sua totalidade mas de contê-los, ao aceitá-los parcialmente, em sua lógica, certamente devemos avançar na compreensão não só do chão que estamos pisando mas do horizonte que norteia nossa caminhada.
Como apontou um texto do DAR do começo deste ano, vivemos um momento dúbio em relação ao debate de drogas, em que por um lado cresce o movimento, mas por outro fortalecem-se também os velhos ideais conservadores que formaram e sustentam nosso país. Nossa importante vitória frente às absurdas proibições e nosso fortalecimento convivem com a militarização crescente, que se agrava na onda dos megaeventos, com o imenso peso político de grupos religiosos praticamente fundamentalistas e com o caráter repressivo de alternativas supostamente médicas, como a internação compulsória de usuários de crack, ganhando cada vez mais espaço nas políticas públicas. Se queremos uma mudança de fato, e não apenas uma “revolução passiva” na qual os de cima absorvam os desejos de mudança provenientes de setores populares e movimentos sociais, a fim não de implementá-los em sua totalidade mas de contê-los, ao aceitá-los parcialmente, em sua lógica, certamente devemos avançar na compreensão não só do chão que estamos pisando mas do horizonte que norteia nossa caminhada.
Notas
[*] Jornalista, mestrando em História Social. Membro do Coletivo DAR e da Marcha da Maconha São Paulo.
[1] Nascido em 2009 através da articulação de ativistas de diferentes trajetórias políticas e acadêmicas, o Coletivo DAR é uma organização do chamado movimento antiproibicionista, conjunto de entidades, indivíduos, redes e articulações que questionam a proibição das substâncias psicoativas tornadas ilícitas há cerca de um século. Um dos organizadores da Marcha da Maconha de São Paulo, o grupo busca em sua atuação cotidiana ampliar o enfoque presente na defesa apenas da legalização da maconha, feita pela Marcha, tentando não só debater o proibicionismo em relação a todas as substâncias mas também conectar a busca por sua transformação às formulações e agendas de outros movimentos sociais. Com o tempo consolidou-se em nossas formulações e em nossa prática a compreensão de que não basta um trato justo às drogas em um mundo injusto, cabendo a nós também nos preocuparmos com lutas que visem transformações sistêmicas, levando-nos portanto à definição do DAR como um coletivo antiproibicionista e também anticapitalista.
[2] Ver, por exemplo, os casos de Chile, Colômbia, Uruguai, Estados Unidos. O tema ganhou atenção também na Cúpula das Américas, realizada em abril de 2012.
[3] O caso mais emblemático talvez seja o de George Soros, financiador de longa data de diversas campanhas e iniciativas contra a guerra às drogas.
[4] Neste ponto, o autor mostra desconhecimento em relação à amplitude do que se costuma classificar como “redução de danos”, partindo do equivocado pressuposto de que as técnicas de redução de danos primam pela busca da abstinência, quando em verdade partem da premissa de que há e sempre haverá consumo de drogas, cabendo às ações públicas ou privadas primarem pela informação e pela busca de um uso o mais seguro e consciente possível. A mentalidade da redução de danos, por partir de uma concepção das drogas como definidas por seu uso, e não a priori negativa, faz com que esse tipo de pensamento seja completamente oposto à abordagem proibicionista tradicional.
[5] Baseamo-nos aqui na versão em espanhol de Mudar o mundo sem tomar o poder, obra publicada em português pela Editora Boitempo. A tradução é livre e provavelmente pouco exata. A previsão é de que seja lançado neste ano no Brasil o novo livro de Holloway, Crack capitalism, pela editora Publisher, obra na qual ele busca avançar na proposição de transformação não ancorada na tomada do Estado, formulando a defesa da criação de “fendas” como forma de minar o sistema a partir de focos múltiplos de resistência e autonomia.
[6] No livro Nuestro derecho a las drogas, por exemplo, Szasz critica a guerra às drogas por permitir que produtores tenham suas terras expropriadas quando constatada produção de substâncias ilícitas. Assim, para Szasz, a guerra às drogas chega a ser “literalmente uma guerra contra a propriedade”.
[7] Interessante, e importante, notar aqui que a proposta de Carneiro é menos estatista do que a do presidente Pepe Mujica, uma vez que enquanto este defende o monopólio estatal, num primeiro momento sem previsão sequer de legalidade para a produção própria para consumo pessoal, o professor defende apenas o “controle estatal do grande atacado e produção”, dando espaço em sua proposta a “um campo imenso de iniciativas individuais, familiares, comunitárias e microempresarias que poderiam ser não só mantidas, mas estimuladas no campo do cultivo e da produção dessas substâncias. Tanto bebidas como vinhos, cervejas ou aguardentes, como cultivadores de fumos de qualidade, ou de “canabicultores”, deveriam ser estimulados com apoio creditício e fiscal”.
[8] Em espanhol El arte de gobernar los movimientos sociales, tradução livre. O artigo está no livro Los movimientos sociales y el poder; la otra campaña y la coyuntura política mexicana, publicado em 2007.







Muito bom o texto Julio, parabéns!
Destaco apenas um ponto. Me incomoda a ideia de apostar nas cooperativas as minhas expectativas sobre alternativas a esse cenário multifacetado tão complexo que você retratou. Penso que podemos aprender muito com os pensadores que se dedicaram a tecer críticas ao modelo cooperativista da Economia Solidária aqui no Brasil.
Lamento não ser capaz de argumentar tão bem, mas parto da ideia de que os limites reais para qualquer iniciativa de cooperativa, pautada nos conceitos e marcos próximos aos da Economia Solidária, são de fato os limites do capitalismo. Essa iniciativa só duraria até o momento em que ela ferisse os limites desse capitalismo (como por exemplo, colocando alguma grande corporação em risco economico/financeiro). Desse modo, como vejo, estas iniciativas ficam restritas ao escopo das lacunas de interesse deixadas pelo capitalismo, nunca sendo realmente capazes de ocupar o espaço desse sistema, reduzí-lo.
Sei lá… acho que podemos avançar nossa compreensão tecendo paralelos entre estes dois contextos.
O que mais me chama a atenção para o modelo de cooperativas é que ele permite a organização autônoma, se previsto como na Espanha, para que também seja um espaço onde seja possível novas relações de trabalho surgirem.
Para saber mais sobre cooperativas http://www.fac.cc
dica: a inspiração é Basca
Apenas um breve comentário de ordem quase estético: qual o motivo das fotos ilustrativas do texto serem todas com imagens de maconha, se o texto trata das drogas como um todo? Isso tem a ver com o fato de o texto estar etiquetado como tema “Lazeres”?
Acho que qualquer um que quer debater esse assunto seriamente de maneira política sabe que, de forma muito análoga à comida em geral, por mais que as drogas estejam associadas ao prazer, os verdadeiros efeitos relevantes de seu consumo, mobilizadores de um pensamento político a seu respeito, devem ser focalizados sob a ótica da Saúde!
Olá Júlio! Primeiro, parabéns pelo artigo. Integrei ao NEIP ano passado, estou escrevendo minha dissertação (História) sobre a Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes (criada em 1936 e atuou até o início dos anos 70). Sua proposição certamente é uma alternativa interessante e pode sim ser viável, evidentemente a Espanha tem problemas com esse modelo, mas ainda assim é melhor que os outros. Tenho,contudo, uma tendência a acreditar que precisamos investir em um modelo a partir da nossa realidade, mesmo que tenhamos outros como referência, mas será necessário pensar formatos que respondam nossas particularidades. Obviamente essa não é uma tarefa fácil, mas não vejo como deixarmos o “Estado” fora disso, entretanto ele ( o Estado) não deve ser o “condutor” de tal política, seria importante um projeto que seja paritário. Parabéns também ao DAR!
Abraços
Me parece que a propósito de discutir um tema específico, o texto entra em temáticas fundamentais a respeito de construção do socialismo. Se somos contra o Estado e o Mercado, como pensar em uma bandeira de luta contra a proibição das drogas?
Acho que raciocinio parecido poderia ser aplicado em uma série de outras questões, e a resposta sempre teria que ser uma proposta que contribuísse para a construção de auto-organização popular.
Normalmente esse tipo de proposta nunca é generalizável e não pode ter a pretensão de resolver a questão de uma maneira geral, como o autor bem comenta para o caso das drogas, a demanda toda não seria atendida. O mesmo poderia ser dito para a construção de habitação por mutirão por exemplo, pode construir organização popular, mas nunca seria uma resposta para toda a demanda de moradia.
Acho que isso é normal, afinal é impossível resolver só a questão das drogas de forma não capitalista enquanto todo o resto da sociedade é capitalista.
Nesse sentido penso que o modelo das cooperativas para produção de maconha, pelo menos até onde eu entendi a proposta, não teria os mesmos problemas que as cooperativas da economia solidária. Isso simplesmente porque elas não seriam formadas com o objetivo de atuar em um mercado concorrencial, trata-se de produção para o auto-consumo. Inclusive, no caso, o capital estaria interditado de participar no negócio.
Caberia então aos militantes desse modo de produzir e consumir drogas manter a restrição de pé, frente a pressão das empresas em participar de um negócio lucrativo, e para isso, teriam que se relacionar e pressionar o Estado…
Vejo pelos comentários e no texto a ideia de que as cooperativas de produtores seriam uma ‘terceira via’, mas creio que elas não poderiam compor um ‘modelo’ de produção. No próprio texto, no parágrafo seguinte já há vários limites da fórmula (produção em escala e de substâncias sintéticas, principalmente). Mas, mais importante, ela se apresenta como sistema residual em qualquer uma das propostas analisadas: para a anarquista seria uma das formas possíveis não-tocadas pelo Estado, incorrendo na mesma sinuca entre deixá-la ao mercado ou à proteção da lei (como então prevenir que no capitalismo ela fosse mercantilizada? no que seria diferente da ‘legalização liberal’?); enquanto para a proposta trotskista, como está na nota [7], poderia muito bem conviver com a estatização enquanto estivesse salvaguardada (pelo Estado) do capital. Ninguém propõe, imagino, uma fórmula que obrigue a pessoa a diretamente plantar “e se não o quê?”
Não vejo esta como a saída para o problema (nem acho que o autor vê), e saúdo com entusiasmo a iniciativa do debate. Precisamos formular, numa unidade nos termos colocados, as propostas.
E como provocação saudável, opinaria que o texto falha em ver a proposta estatizante como uma medida progressista, que em nenhum momento deixa de entender o papel do Estado (seja marxista ou foucaultianamente), no marco de um proposta transitória, ampliando a possibilidade de mobilização em torno à questão.
Oi Júlio,
Primeiro queria parabenizá-loe pelo artigo, acho que conseguiu aprensatar uma perspectiva séria do ponto de vista anticapitalista apontando para as contradições presentes nos diferentes projetos.
Acho que tem algumas questões que precisam ser debatidas:
Concordo com vocês do DAR que o uso de substâncias que visam a alteração da consciência acontece em todas as sociedades, e que isto não é necessariamente um problema. Porém acho que falta em nossos debates uma reflexão de porque as pessoas são incentivadas, ou empurradas para a utilização de drogas. Sejam elas legalizadas(remédios, cigarro ou alcool) ou ilegais. Isto se complica ainda mais quanto falamos de substâncias que tem um maior grau de dependência, com é possível utilizá-las de uma maneira que não cause uma grande degradação no usuário?
Por fim como lidar com o consumo destas substâncias dentro de atividades dos movimentos sociais?
Legume,
creio que a própria formulação da pergunta já merece um olhar mais crítico: Por que as pessoas seriam “empurradas” ao uso de drogas, mas não formulamos a mesma pergunta para outros hábitos que igualmente podem ter efeitos profundos no ser humano, como o de praticar esportes, utilizar a internet e as comunicações em geral, apostar, fazer sexo, consumir merdadorias em geral. A resposta para a questão das drogas pesadas está tanto nas práticas de políticas de atenção primária de saúde, quanto na parte educacional, pautada na redução de danos que pensa no fortalecimento de uma noção de saúde que é popular e vinculada à participação dos usuários, e não de uma junta de médicos.
Com relação ao consumo dentro dos movimentos, me parece uma discussão frutífera, mas não tenho visto como um problema que os movimentos brasileiros tem enfrentado, a única vez que ouvi falar que foi debatido foi no Ocupa Sampa.
Que as pessoas sao levadas a diversos hábitos de consumo na sociedade capitalista me parece evidente, mas como o artigo não fala de sexo, ou televisão, perguntei sobre drogas.
e o que eu quis dizer é que buscar uma explicação baseada numa natureza fisio-bio-química das substâncias é uma má pergunta. No nivel individual, creio que são muitas as histórias que levam cada indivíduo ao uso desta ou daquela droga, dos que são “empurrados” eu nada sei. Aguardemos o comentário do autor.
Salve, gente, agradeço muito os comentários, espero que venham mais, de preferência nesse nível bacana.
Theo, repare que eu apontei como “progressista” a legalização estatizante em comparação com o atual proibicionismo. Por mais que haja problema em qualquer dos modelos propostos, certamente vejo todos eles como infinitamente melhores do que o presente, inclusive uma legalização liberal, de livre mercado. Pelo menos não teríamos encarceramento em massa com a desculpa do combate às drogas, e nem tantas mortes e outros problemas, já seria um avanço em minha opinião. Mas, como eu disse no texto, eu pessoalmente não gostaria de uma alternativa que fortalecesse nem Estado nem Mercado.
Legume, interessante sua colocação. Acho que devemos por um lado diferenciar uso de uso problemático. Qualquer pesquisa séria mostra que o uso problemático é minoritário entre qualquer substância, seja lícita ou ilícita. Assim, em relação aos usos não problemáticos, não creio que devamos olhá-los com grande atenção, é da esfera individual das pessoas, assim como o consumo de alimentos.
Lembro também que dependência e uso problemático nem sempre são sinônimos. O caso do tabaco, por exemplo, é exemplar, é uma substância com índice de dependência alto, e nem por isso todos usos são vistos como problemáticos. A heroína, que tem índice de dependência ainda mais alto, não traz problemas à saúde quando usada na dosagem certa, pode ser usada por 40 anos sem grandes perigos, com os problemas sendo decorrentes tanto da qualidade desconhecida da substância quanto do desespero decorrente da falta de oferta.
Em relação aos usos problemáticos, dentro e fora de movimentos sociais, creio que a chave está no que o Gordon aponta, a estratégia da redução de danos me parece a mais adeuqada. A partir de um entendimento que respeite a individualidade do usuário e não pregue abstinência a priori (mas podendo, claro, ajudar o usuário a se manter abstinente caso ele assim o deseje), a redução de danos busca, através de estratégias de informação e cuidado, trazer a reflexão sobre as distintas formas de uso, as diferentes culturas de uso, buscando dar ferramentas para que pensemos um uso que não seja prejudicial.
Penso que isso pode ser encarado tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, ou seja, neste último caso, buscarmos reduzir os danos que usos problemáticos de drogas podem causar a uma organização política. Gosto desse texto do Edward MacRae sobre a RD:
http://www.neip.info/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=671
ele mostra um aspecto que considero relevante, que é a existência de uma série de tipos de controles em relação ao uso de drogas, não só o estatal. Um exemplo banal é o cara que encheu a cara e tá causando num churrasco de amigos, não é porque não seja proibido beber que não vá haver algum tipo de controle, se ele exagerar os próprios amigos vão dar um toque, se ele se puser violento pode ser expulso da festa, enfim. Me parece interessante agregar esse entendimento ao da redução de danos, tendo em mente sempre a busca pela solução dialogada dos problemas, caso a caso.
Nos tempos do Ocupa Sampa, que ainda era Acampa Sampa, houve esse debate por lá, não sei se você acompanhou Legume, eu fui completamente contra a proibição do consumo de álcool, publiquei este texto sobre isso, veja o que acha:
http://coletivodar.org/2011/10/culpar-as-substancias-o-proibicionismo-dentro-do-movimento-social/
Enfim, sigamos o papo,
aquele abraço!
Para tentar ajudar no debate:
– o modelo cooperativo entendo como viável tanto em relação a escala como em relação à substâncias sintéticas. Não há limitação tecnológica que impeça a produção em escala mesmo em cooperativas pequenas (obvio que é impossível haver certas cooperativas na urbe) ou de psicoativos sintéticos.
– o modelo de cooperativa funciona ao meu ver também como um modelo didático, de prevenção e de “desalienação” da relação individuo/psicoativos. Eu tendo a achar que ao aproximar-se do conhecimento acerca da produção, criamos novas visões sobre esta relação.
CONTRA A “LEGALIZAÇÃO”
Hakim Bey
Como escritor, eu fico angustiado e deprimido pela suspeita de que a “mídia divergente” se tornou, em termos, uma contradição – uma impossibilidade. Não por causa de algum triunfo da censura, no entanto, mas o oposto. Não há censura real em nossa sociedade, como Chomsky ressalta. A supressão da divergência é atingida, paradoxalmente, permitindo à mídia absorver (“ou cooptar”) toda divergência como Imagem.
Uma vez processada como mercadoria, toda rebelião é reduzida à imagem de rebelião, primeiro como espetáculo, e depois como simulação (veja Debord, Baudrillard, etc). Quanto mais poderosa a dissidência como arte (ou “discurso”), mais impotente se tornará como mercadoria. No mundo de Capital Global, onde todos os meios de comunicação funcionam coletivamente como um espelho perfeito do Capital, podemos reconhecer uma imagem global ou um imaginário universal, mediada universalmente, sem qualquer periferia. Toda Imagem foi submetida a um cerco e, como resultado, parece que toda arte torna-se impotente na esfera do social. Na verdade, já não podemos sequer supor a existência de qualquer “esfera do social”. Todas as relações humanas podem ser – e são – expressas como relações de mercado.
Nesta situação, ao que parece, “reforma” também se tornou uma impossibilidade, uma vez que toda melhora parcial da sociedade será transformada (pelo mesmo paradoxo que determina a Imagem global) numa forma de sustento e desenvolvimento do poder do mercado. Por exemplo, “reforma” e “democracia” já se tornaram um código para a forçosa imposição de relações mercantis sobre os antigos Segundo e Terceiro Mundos. “Liberdade” significa liberdade de corporações e não de sociedades humanas.
Desse ponto de vista, tenho sérias ressalvas sobre os programas de reforma dos Guerreiros anti-drogas e Legalizacionistas. Indo mais longe, eu diria que sou “contra a legalização”.
Não é preciso dizer que eu considero a guerra às drogas uma abominação, e que eu exigiria anistia incondicional imediata para todos os “prisioneiros de consciência”, supondo que eu tivesse algum poder para fazer exigências! Mas em um mundo onde todas as reformas podem ser instantaneamente transformadas em novos meios de controle, de acordo com o “paradoxo” esboçado nos parágrafos anteriores, não faz sentido continuar exigindo a legalização simplesmente porque parece racional e humano.
Por exemplo, consideremos o que poderia resultar da legalização da “maconha medicinal” – clara vontade do povo em pelo menos seis estados. A erva cairia instantaneamente sob os drásticos novos regulamentos de “Cima” (a AMA, os tribunais, seguradoras etc). A Monsanto provavelmente adquiriria as patentes de DNA e “propriedade intelectual” da estrutura genética da planta. Provavelmente leis seriam apertadas contra a maconha ilegal de “uso recreativo”. Fumantes seriam definidos (por lei) como “doentes”. Como mercado, a Cannabis logo seria desnaturada, como outros psicotrópicos legais, tais como café, chocolate ou tabaco.
Terence McKenna uma vez destacou que praticamente todas as pesquisas úteis sobre psicotrópicos são realizadas de forma ilegal e, muitas vezes, financiadas clandestinamente. Legalização possibilitaria um controle muito mais acirrado de cima sobre toda a pesquisa de drogas. As valiosas contribuições marginais enteogenicas provavelmente diminuiriam ou cessariam completamente. Terence sugeriu pararmos de desperdiçar tempo e energia pedindo permissão às autoridades para fazer o que estamos fazendo e simplesmente seguir em frente.
Sim, a guerra às drogas é má e irracional. Não esqueçamos, contudo, que como atividade econômica, a guerra faz bastante sentido. Não vou nem mencionar a crescente “indústria das correções”, os orçamentos inchados da polícia e da inteligência ou os interesses de cartéis farmacêuticos. Economistas estimam que cerca de dez por cento do capital circulante é “dinheiro cinza” derivado de atividades ilegais (em grande parte de drogas e venda de armas). Essa zona cinzenta é na verdade uma espécie de fronteira flutuante para o Capital Global em si, uma pequena onda que precede a grande onda e lhe oferece “senso de direção” (por exemplo, dinheiro cinza ou capital “costeiro” é sempre o primeiro a migrar dos mercados deprimidos para os mercados prósperos). “A guerra é a saúde do Estado”, como Randolph Bourne disse uma vez, mas a guerra já não é tão rentável como nos velhos tempos de pilhagem, tributos e escravidão. Cada vez mais a guerra econômica toma o seu lugar, e a guerra às drogas é quase uma forma “pura” de guerra econômica. E já que o Estado Neoliberal concedeu tanto poder para corporações e “mercados” desde 1989, pode-se dizer justamente que a Guerra às Drogas constitui a “saúde” do próprio Capital.
A partir dessa perspectiva, a reforma e a legalização seriam claramente condenadas ao fracasso por profundas razões de “infraestrutura” e, portanto, todo movimento para a reforma constituiria um esforço desperdiçado, uma tragédia do idealismo mal dirigido. O Capital Global não pode ser “reformado” porque qualquer reforma é deformada quando a forma em si é distorcida em sua própria essência. Movimentos para a reforma são autorizados para uma imagem de liberdade de expressão e a divergência permitida pode ser mantida, mas a reforma em si nunca é permitida Os anarquistas e marxistas estavam certos ao afirmar que a estrutura em si deve ser mudada, não apenas suas características secundárias. Infelizmente, os “movimentos sociais” em si parecem ter falhado e, agora, até mesmo suas estruturas primordiais devem ser, agora, “reinventadas” quase do zero. A guerra contra as drogas vai continuar. Talvez devêssemos considerar um modo de agir como guerreiros, em vez de reformistas. Nietzsche diz em algum lugar que ele não tem interesse em derrubar a estupidez da lei, uma vez que tal reforma não deixaria nada para o “espírito livre” realizar – nada a “superar”. Eu não iria tão longe a ponto de recomendar uma posição existencialista tão “imoral” e rígida. Mas eu acho que nos faria bem uma dose de determinação.
Além (ou à parte) de considerações de ordem econômica, a proibição de (alguns) psicotrópicos também pode ser considerada a partir de uma perspectiva “xamânica”. O Capital Global e a Imagem universal parecem ser capazes de absorver quase toda “periferia” e transformá-la em área de mercantilização e controle. Mas, de alguma forma, por alguma estranha razão, o Capital parece incapaz ou relutante em absorver a dimensão enteogenica. Ele persiste em guerrear ao que altera a mente ou substâncias de transformação, ao invés de tentar “cooptar” e hegemonizar seu poder.
Em outras palavras, parece que algum tipo de poder autêntico está em questão aqui. O Capital Global reage a este poder com a mesma estratégia básica que a Inquisição, tentando suprimi-lo de fora, ao invés de controla-lo por dentro (o “Projeto MKULTRA” foi a tentativa secreta do governo a penetrar no interior oculto do psicotropismo – e parece ter falhado miseravelmente). Em um mundo que aboliu a Periferia pelo triunfo da Imagem, parece que um “exterior”, no entanto, persiste. O poder pode lidar com esse exterior apenas como uma forma do inconsciente, ou seja, pela supressão em vez da realização. Mas isso deixa aberta a possibilidade de aqueles que conseguem atingir a “consciência direta” desse poder poderem efetivamente ser capazes de brandi-lo e implementá-lo. Se o “neoxamanismo enteogenico” (ou como você quiser nomeá-lo) não pode ser traído e absorvido pela estrutura de poder da Imagem, então podemos supor que ele representa um Oposto genuíno, uma alternativa viável a “um mundo” do Capital triunfante. Ele é (ou poderia ser) a nossa fonte de poder.
A “Magia do Estado” (como M. Taussig denomina), que também é a magia do Capital em si, consiste em controle social através da manipulação de símbolos. Isso é alcançado através de mediação, incluindo o meio final, o dinheiro como texto hieroglífico, o dinheiro como Imaginação pura, como “ficção social” ou alucinação em massa. Essa ilusão real tem tomado o lugar da religião e da ideologia como fonte ilusória de poder social. Esse poder, portanto, possui (ou é possuído por) um objetivo secreto, que todas as relações humanas sejam definidas de acordo com essa mediação hieroglífica, esta “Mágica”. Mas o neoxamanismo propõe com toda a seriedade que uma outra magia pode existir, um modo eficaz de consciência que não pode ser enfeitiçada pelo signo da mercadoria. Assim sendo, facilitaria a explicação de porque a Imagem parece não poder ou não querer lidar “racionalmente” com a “questão das drogas”. De fato, uma análise mágica do poder pode surgir do fato mencionado dessa incompatibilidade radical entre Imaginário Global e consciência xamânica.
Neste caso, de que consistiria nosso poder real em termos empíricos reais? Estou longe de propor que “ganhar” a Guerra às Drogas de alguma forma constituiria A Revolução – ou mesmo que o “poder xamânico” poderia contestar a magia do Estado de qualquer maneira estratégica. Claramente, no entanto, a própria existência da enteogenia como uma diferença real – em um mundo onde a verdadeira diferença é negada – marca a validade histórica de um Oposto, uma verdadeira Periferia. No caso (improvável) da legalização, esta Periferia seria violada, penetrada, colonizada, traída e se transformaria em pura simulação. Uma fonte principal de iniciação, ainda acessível em um mundo aparentemente desprovido de mistério e de desejo, seria dissolvida em uma representação vazia, um pseudo rito de passagem dentro cerco atemporal e ilimitado da Imagem. Em suma, teríamos sacrificado o nosso poder potencial por uma cópia mal feita da reforma da legalização, e não ganharíamos nada além de um simulacro de tolerância às custas do triunfo do Controle.
Mais uma vez: eu não tenho nenhuma ideia de qual deverá ser nossa estratégia. Acredito, porém, que chegou a hora de admitir que uma tática de mera contingência não pode mais nos sustentar. “Divergência consentida” tornou-se uma categoria vazia e a reforma uma mera máscara para a recuperação. Quanto mais lutarmos em “seus” termos, mais perderemos. O movimento de legalização das drogas nunca ganhou uma única batalha. Não na América, de qualquer maneira – e a América é a grande “superpotência” do Capital Global. Nos orgulhamos de nosso estado fora da lei como estranhos e marginais, como guerrilheiros ontológicos, por que então nós continuamente imploramos por autenticidade e validação (seja como “recompensa” ou “punição”) das autoridades? Que bem faria se nos fosse concedido esse status, essa “legalidade”?
O movimento de Reforma manteve verdadeira racionalidade e tem defendido reais valores humanos. Honra onde a honra é devida. Dado o grande fracasso do movimento, no entanto, não seria conveniente dizer algumas palavras a favor do irracional, da vastidão irredutível do xamanismo, e até mesmo uma singela palavra para os valores do guerreiro? “Paz não, mas uma espada!”.
Manualito de autocultivo básico pero completo
No al narcotráfico, Sí al autocultivo
Semilla:
1) un puñado de semilla (más o menos 30 semillas) en maceta (de preferencia con abono natural o tierra de buena calidad)
2) Las semillas se plantan en primavera, dependiendo del país en los meses marzo y abril o septiembre y octubre
Tip: plantar cerca a otras plantas para que ellas se acompañen.
Tip: plantar en tierra es lo mejor, pero también se pude en macetas (aunque crece más en tierra)
Plantar:
1) las semillas en 1 semana brotan y van a empezar a crecer todas juntas
2) es importante dejar crecer para distinguir semilla macho y semilla hembra
* Todo el proceso depende de la separación y eliminación de la semilla/planta macho porque esta va a polinizar la planta
hembra y esta es la que dará la flor y la flor es nuestro principal objetivo, así que el proceso de aquí a adelante será de
identificar la planta macho para separarla de las otras y dejarlas que den flor
Distinción de las semillas:
1) el macho crece más rápido que la hembra, así que la observación visual tiene que estar atenta a ella,
la planta que crece más rápido hay que sacarla porque posiblemente es macho.
2) diferencias entre las hojas: cuanto más grande es la diferencia entre las hojas, más posibilidad que sea macho.
3) la hembra florece y el macho no
4) confiar en tu intuición
* Normalmente se saca la planta macho con más o menos 30 centímetros
Nota: hay plantas que son hermafroditas (casi la mitad). Es cuando se vuelve dificil separar macho y hembra.
Para saber si son hermafroditas, observen que sacan tanto flor como bola. ¿Qué hacer?
Lo recomendable es sacar esta planta. Por otro lado la hermafrodita es la planta/flor más rica. Si deseas arriesgarte con una planta
así, hay que tener en cuenta que si esta hermafrodita tiene tendencia macho va a dañar/chingar a todas las demás cuando crezca.
Así que que el riesgo te pueda dar lo más rico o te puede dañar todas las plantas.
Ojo: tener atención a que cuando florece 1 planta y las otras no, hay que sacar las que no florecieron porque quizás
alguna sea macho y ya dañó a todas las que no florezcan.
Flor/Capullo:
El capullo va a crecer pegado al tronco, en la rama. Son unos pelitos blancos (pequeños hilos delgados blancos)
que la ciencia hegemónica llama ´´tricona´´. Cuando los capullos se pongan entre dorados/tostados/marrones
en su 50% o 60% se da la cosecha.
Cosecha:
Continuará…
Sabedoría copyleft: ´´Sudacas de Xochimilco´´
Gostaria apenas de congratular o frutífero debate. O texto traz a tona questões fundamentais, tal como colocou Felipe, não apenas acerca da questão da utilização de entorpecentes, mas a respeito da própria construção do socialismo.
No seio de muitas lutas sociais pouco se coloca a questão da alteração da percepção da realidade com o uso de substâncias psicoativas em questão. O tema é muitas vezes tratado como “delicado” e por isso parece ser visto como preferível não colocá-lo em pauta, quando não se incorpora, irrefletidamente, o proibicionismo para evitar atritos.
Mas o mais frutífero do debate está nas apreciações, ou apontamentos, feitos acerca do poder nas relações sociais, no debate da questão do Estado. A inconclusões demonstram, ao meu, ver os contrastes presente na esquerda sobre a relação com o poder e com o Estado. Isso não quer dizer ausência de perspectivas ou horizontes. Na questão da proibição, tal como aponta o texto, o lace é seguir na negativa e lembrando do que dizia um velho pensador… “o Estado é como um enorme matadouro e um vasto cemitério, onde sob a sombra e o pretexto desta abstração (…) todas as melhores aspirações, todas as forças vivas da humanidade são hipocritamente imoladas e sepultadas.”
_\|/_
Proibir não mais!!!