Ao alertarmos para o perigo de um capitalismo de Estado, em vez de um sinal vermelho acendemos um farol. Por Passa Palavra
Leia a 1ª parte deste artigo.
O Passa Palavra tem alertado para os perigos de capitalismo de Estado decorrentes de um abandono do euro. Que ingenuidade a nossa! Julgávamos que erguíamos um sinal vermelho e tudo o que conseguimos foi acender um farol. Julgávamos que ao apresentar o capitalismo de Estado como horizonte previsível estaríamos a afastar alguma gente de esquerda deste cenário quando, pelo contrário, lhes tornámos esse futuro muito atractivo.
1.
 Numa economia moderna, assente no crédito, o sistema financeiro faz sentir, directa ou indirectamente, a sua influência sobre todo o aparelho produtivo, por isso bastaria o controlo exercido sobre a banca para garantir ao Estado, independentemente de qualquer outra medida, o exercício do controlo sobre o resto da economia. Informal ou formalmente, teríamos assim o quadro de um capitalismo de Estado.
Numa economia moderna, assente no crédito, o sistema financeiro faz sentir, directa ou indirectamente, a sua influência sobre todo o aparelho produtivo, por isso bastaria o controlo exercido sobre a banca para garantir ao Estado, independentemente de qualquer outra medida, o exercício do controlo sobre o resto da economia. Informal ou formalmente, teríamos assim o quadro de um capitalismo de Estado.
É importante considerar nesse contexto o programa da organização política que mais consistentemente tem defendido o capitalismo de Estado, o Partido Comunista Português (PCP). Para este Partido a estatização da economia deveria assumir uma forma directa nos bancos e nas grandes empresas, mas as pequenas e médias empresas seriam mantidas como propriedade individual e controladas indirectamente mediante a banca estatizada. No Projecto de Alterações ao seu Programa, aprovado pelo Comité Central em Setembro de 2012 e destinado ao XIX Congresso (veja aqui), o PCP defende a instauração de «uma organização económica mista», formada por 1) «um Sector Empresarial do Estado», «abrangendo designadamente a banca e seguros e outros sectores básicos e estratégicos da economia», 2) «um sector privado» e 3) «um sector cooperativo». Este sector privado seria «constituído por empresas de variada dimensão (na indústria, na agricultura, na pesca, no comércio, nos serviços), destacando-se as pequenas e médias empresas pela sua flexibilidade e pelo seu peso na produção e no emprego, e as pequenas e médias explorações agrícolas, nomeadamente as familiares, pelo seu papel na produção agrícola e pecuária e na preservação do mundo rural».
Esta importância concedida às pequenas e médias empresas não decorre de motivos económicos, porque, contrariamente ao que se passa em alguns países avançados, em Portugal as empresas de pequena e média dimensão são muito pouco produtivas. Segundo o economista Eugénio Rosa (veja aqui), que para este fim é insuspeito porque se situa na área do PCP, «a produtividade média por empregado nas 500 maiores empresas é mais do dobro da verificada a nível nacional». Este cálculo data de Outubro de 2007, e em cinco anos a diferença agravou-se, porque nas suas provas de doutoramento, em Julho de 2012 (veja aqui), Eugénio Rosa considerou que nas 500 maiores empresas «a produtividade é, em média, 3,5 vezes superior às outras».
Assim, se obedecesse a razões económicas o PCP não protegeria empresas que se revelam pouco produtivas e que, precisamente por isso, pagam salários inferiores aos pagos pelas grandes empresas. Com efeito, segundo o Instituto Nacional de Estatística (veja aqui), em 2008 os custos anuais com o pessoal, per capita, foram de 21,4 mil euros nas grandes empresas, tendo sido de 14,5 mil euros nas pequenas e médias empresas. É por razões estritamente políticas, para não diminuir a base eleitoral, que o PCP defende a relativa independência dos pequenos e médios patrões, na continuação da velha tese que durante o fascismo preconizou a aliança com os «portugueses honrados», mesmo que isto signifique que os «honrados» paguem remunerações mais miseráveis do que os outros.
Ora, na conjuntura resultante do abandono do euro, com a situação de crise que evocámos na primeira parte deste artigo, nomeadamente com o encarecimento das importações de meios de produção, as grandes empresas perderiam muito do papel motor da economia. Entretanto, as pequenas e médias empresas não conseguiriam assumir um papel dinamizador nem no plano da produtividade nem no dos salários praticados.
Num estudo publicado em 2007 («Adjustment within the euro. The difficult case of Portugal», Portuguese Economic Journal, vol. 6, nº1, 2007), Olivier Blanchard, na altura prof. de Economia no Massachusetts Institute of Technology e agora economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, tocou o alvo da questão ao recordar que «Portugal não dispõe de nenhuma vantagem comparativa óbvia na alta tecnologia: tanto o nível educacional como o dos gastos em Pesquisa & Desenvolvimento são baixos relativamente aos dos outros membros da União Europeia». E adiante, citando análises de ramos de actividade como a construção e o turismo, Blanchard considerou que a informalidade e a existência de firmas pequenas e ineficazes eram os principais factores institucionais que se opunham ao aumento da produtividade.
 O Passa Palavra chamou várias vezes a atenção para uma grave anomalia. Fazêmo-lo de novo, citando uma pesquisa diferente das anteriores, mas com conclusões similares (veja aqui). Enquanto em média na União Europeia, em 2009, eram praticamente idênticas as percentagens de patrões e de empregados com licenciatura universitária — 27,6% dos primeiros e 28,6% dos últimos — em Portugal o desfasamento era muito considerável, pois só 10,8% dos patrões tinham curso universitário, para 18,1% de empregados licenciados. Como as grandes empresas dispõem em princípio de administradores qualificados, aquela diferença de nível de instrução diz obviamente respeito às pequenas e médias empresas, o que contribui para explicar o seu atraso tecnológico e a sua falta de produtividade. Se nos próximos anos houver alguma igualação das duas taxas, ela operar-se-á pela baixa, porque nas actuais circunstâncias mundiais são os licenciados quem terá menor dificuldade em encontrar emprego no estrangeiro e, por conseguinte, é de esperar que entre eles se verifique uma maior tendência à emigração.
O Passa Palavra chamou várias vezes a atenção para uma grave anomalia. Fazêmo-lo de novo, citando uma pesquisa diferente das anteriores, mas com conclusões similares (veja aqui). Enquanto em média na União Europeia, em 2009, eram praticamente idênticas as percentagens de patrões e de empregados com licenciatura universitária — 27,6% dos primeiros e 28,6% dos últimos — em Portugal o desfasamento era muito considerável, pois só 10,8% dos patrões tinham curso universitário, para 18,1% de empregados licenciados. Como as grandes empresas dispõem em princípio de administradores qualificados, aquela diferença de nível de instrução diz obviamente respeito às pequenas e médias empresas, o que contribui para explicar o seu atraso tecnológico e a sua falta de produtividade. Se nos próximos anos houver alguma igualação das duas taxas, ela operar-se-á pela baixa, porque nas actuais circunstâncias mundiais são os licenciados quem terá menor dificuldade em encontrar emprego no estrangeiro e, por conseguinte, é de esperar que entre eles se verifique uma maior tendência à emigração.
Um país onde os trabalhadores são, em média, mais qualificados do que os patrões explica muito dos limites que se erguem ao desenvolvimento económico. Ora, a promoção das pequenas e médias empresas pelo PCP, numa conjuntura de deterioração da produtividade agravada pelo abandono do euro, só contribuiria para piorar a situação económica.
É esclarecedora a evolução comparada do crescimento dos salários nominais e da produtividade.
Taxas de crescimento dos salários nominais (A) e da produtividade (B), em percentagem
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,7 | 9,0 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 6,9 | 5,2 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,6 |
| B | 5,8 | 3,6 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | -0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
Fonte: Olivier Blanchard, «Adjustment within the euro. The difficult case of Portugal», Portuguese Economic Journal, vol. 6, nº1, 2007
Nos doze anos considerados, a taxa de aumento dos salários diminuiu 61%, mas a taxa de aumento da produtividade baixou mais ainda: 97%. Assim, o importante na comparação destas duas séries é o facto de a diferença se ter agravado. Em 1995 a taxa de crescimento dos salários nominais foi 1,16 vezes superior à taxa de crescimento da produtividade e 2,5 vezes em 1996, mas os valores equivalentes foram 16,5 em 2005 e 13,0 em 2006. Ora, numa economia funcionando plenamente de acordo com os mecanismos capitalistas, os empresários compensam os aumentos salariais com o crescimento da produtividade. Aliás, é este mesmo o motor da mais-valia relativa, ou seja, o factor que imprime ao capitalismo uma dinâmica de progresso. Os empresários portugueses revelaram-se incapazes de passar neste teste decisivo, confirmando o seu arcaísmo e a sua incompetência. É isto que os comunistas deveriam dizer e que nos seus estudos sérios os economistas do PCP sabem muito bem, mas por razões estritamente eleitorais aquele Partido prefere silenciar o problema.
Em vez de se denunciarem as classes capitalistas como um todo, mostrando a sua responsabilidade global na crise que Portugal atravessa, concentram-se os ataques no capital financeiro e no governo. Quanto ao primeiro, já falámos na parte anterior deste artigo. Convém agora observar rapidamente, quanto ao segundo, que, contrariamente ao que sucedeu na Grécia, onde no final de 2009 um pouco mais de metade da dívida externa era da responsabilidade do governo, em Portugal o governo era então responsável apenas por cerca de 1/4 da dívida externa, cabendo 55% às companhias financeiras. Não foi um problema de crédito governamental, mas de crédito aos particulares e às empresas, que quebrou a economia portuguesa, e a concentração dos ataques no governo serve para fazer esquecer este facto crucial. Sob este ponto de vista, a aliança entre os trabalhadores e os pequenos e médios patrões, que o Passa Palavra tem denunciado como o mais iminente perigo de fascização da política portuguesa (veja aqui e aqui), não é um risco a prazo e num horizonte futuro, é algo existente desde já, quando se ataca só o governo para poupar a esmagadora maioria dos patrões.
Demasiado ignorantes para adoptarem tecnologias e formas de gestão modernas que compensem o aumento dos salários pelo aumento da produtividade e, de qualquer modo, sem conseguirem fazer face ao encarecimento das importações de meios de produção que resultaria da adopção de uma moeda nacional depreciada, a esmagadora maioria dos patrões portugueses tem apenas um programa — a redução dos salários. Para manter ou aumentar os lucros ou se acelera a produtividade ou se baixam os salários, e esta última solução é a que está no horizonte do empresariado português.
2.
Tudo somado, isto significa que os trabalhadores, a quem o abandono do euro fora apresentado como uma panaceia ou, pelo menos, como o menor dos males, instituído o escudo hão-de deparar com uma degradação ainda maior das suas condições de vida. Naquela conjuntura, se a pressão à baixa dos salários é o que se oferece aos trabalhadores no cenário interno e o aumento do preço dos bens de consumo importados é o que se lhes oferece no cenário externo, agravada esta situação pelo aumento do desemprego resultante da recessão económica, então os resultados são previsíveis e sempre os mesmos. O aumento e a generalização da insatisfação hão-de acirrar os conflitos nos locais de trabalho, desde o absentismo e o simples esmorecimento até às greves. Adoptado o escudo, sem margem para proceder a concessões, já que o agravamento da crise se repercutirá numa baixa dos lucros, restará aos patrões a via autoritária, institucionalizando-se o círculo vicioso do aumento das lutas laborais e do aumento da repressão.
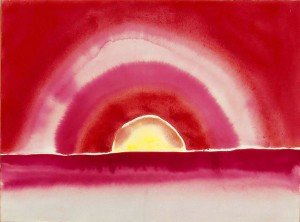 Haverá então uma corrida entre, por um lado, os trabalhadores, que procurarão improvisar organizações de base nas empresas, e, por outro lado, o único instrumento disponível de enquadramento laboral obedecendo à política de alianças com os pequenos e médios patrões, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), com a sua força hegemónica, o PCP.
Haverá então uma corrida entre, por um lado, os trabalhadores, que procurarão improvisar organizações de base nas empresas, e, por outro lado, o único instrumento disponível de enquadramento laboral obedecendo à política de alianças com os pequenos e médios patrões, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), com a sua força hegemónica, o PCP.
Actualmente a CGTP é uma estrutura assimétrica, com uma cúpula bem preenchida e uma base em boa medida esvaziada. Mas será suficiente proceder a uma alteração legislativa inspirada pela antiga União Soviética para resolver o problema, e esta alteração será fácil de implementar numa economia em crise. Com a pressão à baixa dos salários e a elevação do custo de vida, bastará determinar que uma parte das remunerações seja paga em géneros e serviços e atribuir aos sindicatos a sua distribuição entre os filiados. Segundo Michael Taylor («Non-wage labour costs in the USSR and the role of trade unions», em Guy Standing (org.), In Search of Flexibility. The New Soviet Labour Market, Genebra: International, Labour Office, 1991, pág. 244), na União Soviética a parte da remuneração recebida na forma de serviços, que fora de 25,8% em 1970, subira para 29,9% em 1987. Eram os dirigentes sindicais de cada empresa quem definia o acesso a esses serviços e estabelecia as listas de prioridades. Adoptando um sistema deste tipo, a filiação nos sindicatos tornar-se-á na prática obrigatória.
Ora, só a CGTP está em condições de desempenhar este papel, e não o fará sem o aparelho do PCP. Contrariamente ao que muitas vezes se pensa, mesmo no período áureo dos Partidos Comunistas na Itália e em França durante as décadas seguintes à segunda guerra mundial, o aparelho sindical era na prática mais decisivo do que o aparelho partidário. Em Portugal sucede o mesmo, e a influência política de que o PCP dispõe não lhe vem tanto da sua militância envelhecida como sobretudo da hegemonia que detém sobre a central sindical.
Num comentário colocado no Passa Palavra em 13 de Novembro, um leitor que assinou «JT» escreveu: «O Passa Palavra está a esquecer um ingrediente fundamental sobre o fascismo: os únicos avanços que o fascismo consegue são aqueles que os poderes instituídos lhe concedem. Sem o apoio da polícia, do exército, dos grandes capitalistas, não há fascismo, ou melhor, o fascismo não passa do estado larvar, de um grupelho entre os grupelhos». JT tem razão, e se não o esquecemos, talvez não o tenhamos tornado suficientemente claro. Fá-lo-emos agora.
Por mais úteis que sejam aos pequenos e médios patrões, o PCP e a CGTP não conseguirão hegemonizar o governo, instituindo um capitalismo de Estado equivalente a um fascismo à esquerda, se não tiverem o apoio das forças armadas. Ora, os militares estão a assumir um papel cada vez mais visível na campanha pelo abandono do euro. Numa recente entrevista (veja aqui), o tenente-coronel Vasco Lourenço, antigo membro da Comissão Política do Movimento das Forças Armadas e do Conselho da Revolução e actualmente presidente da Associação 25 de Abril, defendeu, além de outras coisas inverosímeis, que Portugal abandonasse o euro e saísse da União Europeia. Por mais expressiva que seja, não foi uma voz isolada. Em 10 de Novembro, cerca de dez mil militares, convocados pela Associação de Oficiais das Forças Armadas, pela Associação Nacional de Sargentos e pela Associação de Praças, marcharam silenciosamente em Lisboa em defesa da «soberania nacional» e contra a visita da chanceler Merkel (veja aqui). No final cantaram a Grândola, e tal como o flautista de Hamelin levarão os incautos.
Para os militares o capitalismo de Estado seria óptimo, porque não fazem rigorosamente nada a não ser talvez ginástica e, apesar disto, apoderam-se de uma fatia considerável do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o Banco Mundial (veja aqui), 1,96% do PIB português destinou-se às forças armadas em 2011, que já foi mais (2,44% em 1989), mas já foi menos também (1,88% em 2000). Para termos uma noção do que isto significa, convém saber que, segundo a mesma fonte, a Alemanha, em 2011, destinou às suas forças armadas 1,31% do PIB, e a vizinha Espanha 1,02%, também em 2011. Já a Grécia gastou 2,72% do PIB com as suas forças armadas em 2011, uma subida relativamente ao ano anterior, quando gastara 2,38%. Com os militares gregos, os militares portugueses estão em boa companhia.
 O capitalismo de Estado corresponde à forma como as forças armadas se organizam internamente, qualquer que seja o regime económico circundante. Mas mais fundamentalmente, as forças armadas constituem um aparelho burocrático alternativo, que em qualquer momento pode substituir-se ao aparelho civil ou suprir-lhe as deficiências e, assim, assegurar a governação. Num quadro de recessão inflacionária, tendo abandonado a União Europeia, estando desligados das normas políticas que aí obrigatoriamente prevalecem e enfrentando o descontentamento dos trabalhadores provocado pelo agravamento das condições económicas, os empresários, sejam de Estado ou particulares, não deixarão de apelar para as forças armadas. E a repressão interna conferirá aos militares uma utilidade visível, que não têm agora, pois a Alemanha está longe e já não há castelhanos para combater.
O capitalismo de Estado corresponde à forma como as forças armadas se organizam internamente, qualquer que seja o regime económico circundante. Mas mais fundamentalmente, as forças armadas constituem um aparelho burocrático alternativo, que em qualquer momento pode substituir-se ao aparelho civil ou suprir-lhe as deficiências e, assim, assegurar a governação. Num quadro de recessão inflacionária, tendo abandonado a União Europeia, estando desligados das normas políticas que aí obrigatoriamente prevalecem e enfrentando o descontentamento dos trabalhadores provocado pelo agravamento das condições económicas, os empresários, sejam de Estado ou particulares, não deixarão de apelar para as forças armadas. E a repressão interna conferirá aos militares uma utilidade visível, que não têm agora, pois a Alemanha está longe e já não há castelhanos para combater.
É certo que em Portugal as forças armadas beneficiam de uma aura democrática vinda do 25 de Abril, mas sem razão. Em primeiro lugar, em 1974, quando derrubaram o governo de Lisboa para porem termo às guerras coloniais, as forças armadas integravam um grande número de oficiais milicianos, que tinham passado pelas lutas estudantis e conhecido as greves universitárias, sendo influenciados pela propaganda da extrema-esquerda quando não eram eles próprios militantes esquerdistas. Estes oficiais milicianos foram um factor decisivo na viragem à esquerda das forças armadas. Em segundo lugar, desde o 28 de Setembro de 1974 até ao 25 de Novembro de 1975 o PCP e a Intersindical hegemonizaram os governos militares sem que isto implicasse a instauração de um autoritarismo político simplesmente porque então a economia e a sociedade portuguesas beneficiavam de um enorme grau de autogestão e de auto-organização. Se o 25 de Abril acarretou uma profunda remodelação democrática, isto não se deveu nem às chefias militares nem ao PCP e à sua central sindical, mas à acção dos oficiais milicianos no interior das forças armadas e à organização de base dos trabalhadores nas empresas e dos moradores nos bairros populares.
Ora, nenhum destes factores existe hoje. E se os trabalhadores, depois de o país ter abandonado o euro, procurarem criar uma organização de base, fá-lo-ão nas piores condições, durante uma recessão inflacionária e contra um aparelho repressivo já montado, contra um aparelho de enquadramento sindical experiente e contra um aparelho partidário empedernido. No dia seguinte ao das brutais cargas policiais de 14 de Novembro o economista Sérgio Ribeiro, membro do Comité Central do PCP e ex-eurodeputado por esse Partido, interrogou truculentamente se «será o papel da “polícia de segurança pública” (que há dias teve tantos elementos seus usando a sua “farda” de povo que se manifesta), ser alvo passivo de pedras arrancadas do chão e pára-raios de raivas e revoltas inconsequentes?» (ver aqui). Imaginem o que sucederá no dia em que um colega de Comité Central do distinto economista estiver à frente da polícia de choque e deparar com as «raivas e revoltas inconsequentes». Mas, aliás, não possui esta polícia um sindicato que assegura a disciplina nas manifestações da CGTP? Seria este o quadro político de um capitalismo de Estado subsequente ao abandono do euro.
Compreende-se que os militares, a burocracia sindical e os dirigentes e quadros do PCP estejam activamente interessados no capitalismo de Estado. Mas não são os únicos. Muitos activistas de esquerda independentes ou de pequenos partidos vêem no capitalismo de Estado um púlpito de onde podem pregar não só em pobres megafones ou curtos tempos de antena, mas todo o dia e para toda a gente.
 Mais fundamentalmente, porque se a ideologia dita entusiasmos a curto prazo a barriga determina os interesses a longo prazo, o capitalismo de Estado provoca uma multiplicação da burocracia estatal, exigida pela expansão das actividades de administração e fiscalização. A fiscalização amplia-se num quadro nacionalista, em que o controlo exercido sobre as movimentações de capitais proporciona emprego a muitos burocratas zelosos. E como a adopção de uma moeda nacional depreciada provocaria uma recessão inflacionária, o capitalismo de Estado não deixaria de padecer, como sempre tem sucedido nessas circunstâncias, da ilusão de que pode travar administrativamente a subida dos preços. Pode, isso sim, é proporcionar a criação de milhares de empregos tanto mais atractivos quanto a fixação administrativa de preços tem como efeito o estímulo ao mercado negro. Para a burocracia o capitalismo de Estado constitui um refúgio seguro, porque se o custo da vida piora para a população comum, aqueles que recebem senhas especiais de racionamento safam-se bem. E, com o tempo, as múltiplas oportunidades de corrupção suscitadas pela fiscalização económica tornam esses empregos mais remuneradores ainda.
Mais fundamentalmente, porque se a ideologia dita entusiasmos a curto prazo a barriga determina os interesses a longo prazo, o capitalismo de Estado provoca uma multiplicação da burocracia estatal, exigida pela expansão das actividades de administração e fiscalização. A fiscalização amplia-se num quadro nacionalista, em que o controlo exercido sobre as movimentações de capitais proporciona emprego a muitos burocratas zelosos. E como a adopção de uma moeda nacional depreciada provocaria uma recessão inflacionária, o capitalismo de Estado não deixaria de padecer, como sempre tem sucedido nessas circunstâncias, da ilusão de que pode travar administrativamente a subida dos preços. Pode, isso sim, é proporcionar a criação de milhares de empregos tanto mais atractivos quanto a fixação administrativa de preços tem como efeito o estímulo ao mercado negro. Para a burocracia o capitalismo de Estado constitui um refúgio seguro, porque se o custo da vida piora para a população comum, aqueles que recebem senhas especiais de racionamento safam-se bem. E, com o tempo, as múltiplas oportunidades de corrupção suscitadas pela fiscalização económica tornam esses empregos mais remuneradores ainda.
Finalmente, mesmo para a maioria dos intelectuais de esquerda instruídos e cosmopolitas, o capitalismo de Estado, que eles podem desprezar em teoria, não é repulsivo na prática. Até os regimes políticos mais delirantes precisam de uma tecnocracia sensata, senão não se aguentariam nem uma semana. E assim, nos corredores dos ministérios e nos gabinetes ao lado, estes tecnocratas inteligentes e cépticos irão atenuando os efeitos piores das medidas mais nocivas, enquanto dizem ironias no intervalo.
Nem faltam, neste circo, os palhaços. É o papel desempenhado por aqueles ecologistas que defendem o decrescimento, o cultivo para autoconsumo e, em geral, toda uma panóplia de medidas recessivas, que pregam aos quatro ventos que a salvação da economia depende dos consumidores e promovem a formação de brigadas de trabalho voluntário e gratuito. A crise económica resultante das relações de exploração é apresentada por estes ecologistas não como um processo social mas como algo imposto pela natureza. Os limites do mecanismo da mais-valia são legitimados como limites da própria natureza. São estes ecologistas quem confere uma aura ao programa sinistro de deterioração do nível de vida. Afinal talvez não sejam palhaços, mas os novos sacerdotes da religião do politicamente correcto.
Para toda esta gente o capitalismo de Estado, em vez de sinal vermelho, funciona como um farol.
Ilustram este artigo obras de (a partir de cima) Kupka, Kenneth Noland, Georgia O’Keeffe, Robert Delaunay e novamente Kenneth Noland.








os palhaços do decrescimento? que desilusão..
i´m curious, o que é que seria bom de ver acontecer? estão todos errados, né? prá malta se instruir um pouco, que mudanças políticas seriam vistas com bons olhos por aqui?
(foi uma pena, decidir acabar um artigo q articula vários conceitos e parece tentar fazê-lo fundamentadamente fazendo uma alusão simplória e uma descrição superficial à brava a esta corrente. não seria melhor tb escrever um artigo muito erudito a explorar a palhaçada que representa essa corrente?!)
O Passa Palavra tem publicado vários artigos e debates sobre ecologia, que se encontram aqui:
http://passapalavra.info/?tag=ecologia
nop, isso não é uma resposta.. a malta já navega sem instruções..
o tema foi metido c tom de artigo do expresso, p rematar em grande mas muito pobrezinho.. não perguntava sobre artigos escritos no passapalavra sobre ecologia mas sim por este autor e sobre a teoria ou proposta do decrescimento.. que justifique a desvalorização q faz.. senão parece mesmo que fala do q desconhece.. (se bem que o conhecer não torna o tom menos arrogante..)
mas, seria brutal ser brindado c algumas nuances do que gostaria de ver acontecer no panorama político.. ou seja além da crítica mui erudita e consistente a todas as correntes, que mudanças seriam vistas com bons olhos por aqui??
sim, peço mesmo à labrego algo do género “olha, seria bom ver acontecer isto, ou até mesmo aquilo..”
(ou então “não nos compete e tal e tal..)
(por favor não responder c links, seria preferível e na verdade constituiria mais uma resposta nem sequer validar este comentário)