Por Douglas Barros
Nota aos leitores: Este artigo dá sequência a um debate iniciado após a eleição de Fernando Holiday, candidato a vereador negro e gay do MBL (Movimento Brasil Livre), em São Paulo. Um primeiro texto escrito pelo autor foi respondido por Jéssica Milaré no site Esquerda Online. Como a resposta se encontra fora do ar, pode ser lida em cache. Passa Palavra
Durante algum tempo refleti se devia ou não escrever o artigo em questão. As polêmicas são saudáveis quando geram uma tensão de hipóteses opostas e acabam por matutar e reformular as teses em disputa, abrindo, assim, a tese para aquilo que a nega e incorporando esse negativo à investigação. Isso pode ocorrer se acaso ambas hipóteses não tratarem de dogmatismo. O que acredito, infelizmente, não ser o caso. Então, por que decidi escrever esse artigo? Porque não se trata apenas de polêmica, mas de algo que se não for denunciado e levado ao nível do conceito, isto é, refletido e superado em nossas futuras investigações, levará ainda mais água ao moinho da direita.
 Surgiu, nos últimos anos, uma espécie de esquerda que trata de tornar as diferenças essenciais e atemporais, redobrada sobre si mesma, com ares de universalidade ontológica e essencialista. Essa esquerda se baseia na última oferenda do marketing ao mundo: “I’m what I’m” (eu sou o que sou). A tautologia pura do Eu=Eu, tão combatida por Hegel [1].
Surgiu, nos últimos anos, uma espécie de esquerda que trata de tornar as diferenças essenciais e atemporais, redobrada sobre si mesma, com ares de universalidade ontológica e essencialista. Essa esquerda se baseia na última oferenda do marketing ao mundo: “I’m what I’m” (eu sou o que sou). A tautologia pura do Eu=Eu, tão combatida por Hegel [1].
Formulada nas academias, a teoria, inatingível para a maioria de seus adeptos, se reduz, na prática política, a adjetivos e palavras publicitárias: Eu sou o que sou/Meu corpo me pertence etc. Como o catolicismo, que sustenta a forma como seus adeptos devem se comportar, criando mecanismos funestos de punição que vão da exclusão de grupo até à execração pública. E como o catolicismo cria seus ícones a partir da última moda das redes sociais medida pela quantidade de likes e seguidores.
Naturalmente, como dizia Sartre: temos o direito de ser canalha e, por isso, o dever de aceitar ser chamado de canalha. Igualmente, todos têm o direito de apresentar suas verdades prontas, em análises superficiais nas redes sociais, e arregimentar seguidores. O que se torna perigoso é quando essas “verdades” se convertem em força material e, a despeito de seus bem-intencionados divulgadores, legitimam o discurso que contribui para a propagação da direita.
“O espetáculo não é um conjunto de imagens”, como dizia Guy Debord, “mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens” [2]. E na era em que a publicidade delimita o Eu, isolando-o, classificando-o e catalogando-o por qualidades – raça, gênero, sexualidade e afins -, as diferenças se hipostasiam e se constroem mônadas de vários mundos possíveis que impossibilitam qualquer saída do mundo do possível: o mundo da mercadoria. O que se constitui e se mantém é a sociedade da funesta categoria de tolerância: “afinal não gosto dele, mas o tolero porque sou humanista e progressista!”, dizem.
O alarme de incêndio soou quando a Charlie Hebdo foi atacada e com ela foram atacados também aqueles que se solidarizaram com os cartunistas. Atacados sob a alcunha de defenderem – para esta esquerda que prega a tolerância – um jornal racista, eurocêntrico e cis. De lá para cá, como seus adeptos gostam de chamar, a “narrativa” se desdobrou em outras peripécias que muito têm contribuído para a desarticulação de qualquer ação que vise instituir uma nova forma de sociabilidade para além do capital. A totalidade do conceito é confundido facilmente com totalitarismo, então, o que vale são as demandas particulares de grupos específicos.
Os prognósticos de formação dessa esquerda certamente estão enraizados em vários anos de desarticulação imposta, principalmente, pelo governo petista – aliás, esta esquerda, mais que qualquer outra e não por acaso, é a que mais defende a volta de Lula. Num neo-sebastianismo tupiniquim, esta esquerda se sente órfã porque reconhece que suas formulações estão de acordo com a possibilidade de tornar o capital mais humano. Ou seja, estão de acordo com Lula e sua tentativa de conciliar o inconciliável.
Toda crítica a representatividade, prontamente, é deslocada para a questão de raça, gênero e sexualidade. Crentes na representatividade como possibilidade de instituir justiça social, aliás crença que não tem lastro nem na burguesia, eles bradam, contra aqueles que sabem que a democracia representativa se esgotou, a seguinte frase: Precisamos da representação ou isso fica para depois da revolução?
Toda crítica ao mantra neoliberal do protagonismo – “você é a empresa -, que encontra sua plena realização no empoderwatch” – é rapidamente descartada com a acusação de privilegiado. “É preciso ocupar os espaços de poder”, segundo o slogan. Como se o poder estivesse localizado num espaço e se deixasse conduzir como um cão abanando o rabo. Confundem Estado e governo e, assim, acreditam que basta um governo de esquerda “entrar” para que o Estado e o Capital estejam sob controle. E, assim, fazem coro, sem consciência disso, com a visão de Feuerbach sobre o mundo contemporâneo: “Nosso tempo, sem dúvida… prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser…”.
Essencializam a crítica como se todas as críticas fossem iguais: “basta os oprimidos, mais oprimidos, reivindicarem algo para si que o esquerdo-macho (urticárias com o termo) se mobiliza contra”, e, com isso, criam os escudos do dogma para protegerem seus epígonos e sua fé ou seus epígonos da fé.
 João Bernardo já havia insistido que “tendo-se desinteressado de transformar o mundo, a esquerda pós-moderna dedica-se à criação de microcosmos paralelos. A afirmação de que tudo o que é pessoal é político tem como corolário a redução do político ao pessoal. O modo de vida tornou-se, por si só, político, o que significa que em vez de mudar o mundo basta viver de certa maneira. Esta nova espécie de militância consiste em pertencer a comunidades onde todos se assemelham ou se esforçam por assemelhar-se nos hábitos e no comportamento”. Semelhança que não suporta a diferença ou o negativo, instaurando verdadeiras modas comunitárias e nostálgicas. Por isso, não podemos simplesmente ignorar a teoria que serve de orientação para as práticas confusas de seus militantes. É preciso entender o que está em jogo e qual o impulso contextual por trás da formulação dessas teses.
João Bernardo já havia insistido que “tendo-se desinteressado de transformar o mundo, a esquerda pós-moderna dedica-se à criação de microcosmos paralelos. A afirmação de que tudo o que é pessoal é político tem como corolário a redução do político ao pessoal. O modo de vida tornou-se, por si só, político, o que significa que em vez de mudar o mundo basta viver de certa maneira. Esta nova espécie de militância consiste em pertencer a comunidades onde todos se assemelham ou se esforçam por assemelhar-se nos hábitos e no comportamento”. Semelhança que não suporta a diferença ou o negativo, instaurando verdadeiras modas comunitárias e nostálgicas. Por isso, não podemos simplesmente ignorar a teoria que serve de orientação para as práticas confusas de seus militantes. É preciso entender o que está em jogo e qual o impulso contextual por trás da formulação dessas teses.
É claro que o parco marxismo consoante a alguns partidos políticos e em restritos lugares na academia brasileira contribuíram, em certa medida, para que grassasse essa nova esquerda. Mas, não há dúvidas de que o maior incentivo para essa esquerda fora recebido a partir de 2002, quando as pautas genuinamente populares se tornaram políticas de Estado. Como disse num outro artigo de intervenção: “Os meninos, que antes eram ativistas sociais, tornaram-se secretários de “alguma coisa”; os estudos, que antes detinham forte componente histórico-social, tornaram-se cada vez mais abstrações vazias e destacadas do contexto econômico” [3].
Essa nova esquerda pouca importância dá ao fato que as raízes da estruturação social que impõe a produção e circulação da mercadoria não parece repousar somente na nossa especificidade cultural – ainda que não desprezemos sua força – mas na própria dinâmica interna de nosso sistema econômico que se baseia no desenvolvimento desigual se comparado aos países desenvolvidos. Como Ruy Mauro Marini havia nos ensinado: “as nações desfavorecidas pela troca desigual não buscam tanto corrigir o desequilíbrio entre os preços e o valor de suas mercadorias exportadas (o que implicaria um esforço redobrado para aumentar a capacidade produtiva do trabalho), mas procuram compensar a perda de renda gerada pelo comércio internacional por meio do recurso de uma maior exploração do trabalhador” [4].
Por outro lado, não é pouco famosa as análises vulgares que, sob a alcunha de marxismo, negaram ou negligenciaram, por exemplo, a importância do componente ideológico de raça e gênero para a estruturação e divisão no mercado de trabalho brasileiro [5]. Como fica patente: os negros e as mulheres são os primeiros a sofrerem as mazelas dessa desigualdade, apontada por Marini, ao se verem nos trabalhos mais precários que, no entanto, permitiram que a combinação de sua renda – seu salário – fosse recompensada, nos anos petistas, por um baixo consumo. É preciso, então, entender o seguinte:
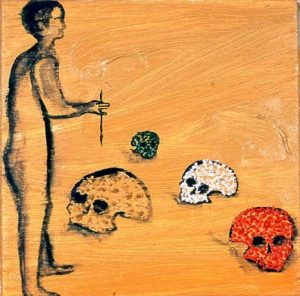 A posição pós-moderna no interior dessa esquerda é uma medida compensatória por anos de abandono da crítica radical. O engessamento da teoria marxista, tanto pelo estruturalismo quanto pela redução sociológica baseada somente na luta de classes como conceito hipostasiado e a priori, levou a impasses fundamentais. Somada a crença da tomada do poder pela via parlamentarista, o resultado foi o descalabro. Em outras palavras, o marxismo vulgar não foi capaz de responder questões centrais, tais como: a desigualdade de gênero e raça.
A posição pós-moderna no interior dessa esquerda é uma medida compensatória por anos de abandono da crítica radical. O engessamento da teoria marxista, tanto pelo estruturalismo quanto pela redução sociológica baseada somente na luta de classes como conceito hipostasiado e a priori, levou a impasses fundamentais. Somada a crença da tomada do poder pela via parlamentarista, o resultado foi o descalabro. Em outras palavras, o marxismo vulgar não foi capaz de responder questões centrais, tais como: a desigualdade de gênero e raça.
Essa desigualdade permite que a discriminação seja utilizada como atributo do próprio funcionamento interno do sistema de produção vigente. Nessa senda, o negro e a mulher no mercado de trabalho revelam indícios de problemas que são subjacentes a própria dinâmica das relações econômicas atuais. Lançar o olhar para questão do negro e da mulher possibilita, assim, pensar nos problemas imanentes a nossa atual sociedade e seu modo de funcionamento. Não deve haver dúvidas de que os fundamentos de nossa sociabilidade guiados pelo processo de produção e reprodução do capital foram erguidos com o componente importante de exclusão ideológica da raça negra e de gênero.
Os dados atuais simplesmente reforçam o que é exposto a olhos vistos:
A remuneração da população negra ativa é menor que a remuneração do grupo dos não negros ativos, e o grau de escolaridade também é menores. Na comparação, o negro brasileiro recebe em média salários 36,11% menores (veja aqui). A questão ainda é pior para a mulher negra que, quando entra no mercado de trabalho, costuma ocupar o setor de serviços domésticos. A porcentagem de negras trabalhando neste setor na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, é de 19,2%, comparada a 10,6% das mulheres não negras.
De acordo com as esperanças da pesquisa Os negros no mercados de trabalho metropolitanos, o fator de escolaridade entre os jovens negros é o que deve fazer com que as diferenças se atenuem com o passar do tempo e seja possível converter o terrível quadro gerado pela segregação racial.
No entanto, constata-se com facilidade que negros são menos escolarizados que não Negros. Em 2011-2012, 27,3% dos afro-brasileiros ocupados não haviam concluído o ensino fundamental e apenas 11,8% contavam com o diploma de ensino superior. Entre os não negros esses percentuais eram, respectivamente, de 17,8% e de 23,4%. Sobrepostas ao exame dos setores de atividade, tais discrepâncias de escolarização entre os grupos de cor ficam ainda mais são nítidas: os negros sofrem, sobretudo, pela retenção no ensino fundamental e dificuldades de acesso ao ensino superior.
Por isso, não podemos acreditar nas esperanças da pesquisa por dois motivos:
1) A própria estruturação do mercado de trabalho se fundamenta – e isso é importantíssimo, pois não é simplesmente uma questão moral ou cultural – na segregação racial; “os três mecanismos identificados — a intensificação do trabalho, a prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário (…) para repor sua força de trabalho — configuram um modo de produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador, e não no desenvolvimento de sua capacidade produtiva” [6], que envolve o aumento da escolaridade.
2) Todas as atuais medidas do governo temerário recolocam a questão da segregação racial como ponto nevrálgico de manutenção do status quo. Naturalmente, isso é passível de ser concluído tendo em vista que mais da metade da população brasileira é negra.
 Ora, essa verdade, os bem-intencionados economistas e sociólogos desvendaram parcialmente: “A questão racial interfere para designar lugares para trabalhadores negros na estrutura produtiva, passíveis de serem traduzidos por situações de discriminação não determinadas pelos critérios objetivos da produção, que acarretam desvantagens aos afro-brasileiros” (ver aqui). O que os sociólogos não perceberam aí é que os “critérios objetivos da produção” não são determinados pela empresa, mas pelo modo de funcionamento do próprio capital, isto é, sua intersubjetividade-objetiva que utiliza critérios de “beleza” e “moralidade” ligados a cor, gênero e sexualidade.
Ora, essa verdade, os bem-intencionados economistas e sociólogos desvendaram parcialmente: “A questão racial interfere para designar lugares para trabalhadores negros na estrutura produtiva, passíveis de serem traduzidos por situações de discriminação não determinadas pelos critérios objetivos da produção, que acarretam desvantagens aos afro-brasileiros” (ver aqui). O que os sociólogos não perceberam aí é que os “critérios objetivos da produção” não são determinados pela empresa, mas pelo modo de funcionamento do próprio capital, isto é, sua intersubjetividade-objetiva que utiliza critérios de “beleza” e “moralidade” ligados a cor, gênero e sexualidade.
Nesse sentido, o que está por trás do fracasso do marxismo vulgar é justamente aquilo que possibilitou as tendências pós-modernas e identitárias surgirem, a saber: a suspensão da análise crítica radical pelo engessamento “sociológico” na utilização de conceitos a priori sem se deter no objeto.
De fato, as tendências pós-modernas (Foucault e Kristeva) empreenderam uma análise significativa e interessantíssima sobre o racismo e a construção da alteridade, tornando os mecanismos superficiais da exclusão visíveis – mecanismos como esses que foram identificados nas análises acima. No entanto, devido a lançar mão de um conceito crítico capaz de abarcar as relações em sua totalidade, de relacioná-lo com sua raiz social, suas análises permaneceram sistematicamente ofuscadas.
As relações de poder em Foucault aparecem, por isso, como eternas e ontologizantes. As relações de poder, que em Hegel eram determinadas pela consciência e a experiência que ela fazia no solo histórico, passam a ser colocadas como sempre existentes e culminam com a própria forma fetichista do capital segundo a qual: “a ganância sempre existiu!”.
Do mesmo modo, assim como trabalho e capital são faces de uma mesma moeda, também Estado e mercadoria são indissociáveis no mundo organizado a partir da expansão do Capital. De fato, houve mudanças significativas históricas na relação Estado e Capital, mas é ordinário demais se deixar levar pela polêmica da moda que coloca como antagônicos os neoliberais e o Estado. Isso não é apenas ideológico como serve para fomentar a própria dinâmica pseudopolítica a que nesse caso, não apenas, a esquerda identitária serve, como nossos camaradas mais próximos.
Nesse sentido, a esquerda identitária engana-se terrivelmente ao atribuir à representação uma tomada de poder efetiva. A política no interior da democracia representativa se reduz cada vez mais a política econômica. Num confuso texto-resposta a um artigo por mim publicado num site de esquerda recebi a bela lição que segue:
O tema da representatividade não existe por invenção da “esquerda identitária”, mas sim porque as pessoas oprimidas percebem que não estão representadas nos espaços de poder, nos cargos administrativos, na imprensa, na literatura, na produção acadêmica, no teatro, no cinema e nos espaços públicos. Não é comum que um burguês reclame que não está representado nesses espaços, aliás, muito pelo contrário. É o setor oprimido do proletariado que vai ao cinema e sente falta de personagens que o representem. A questão que fica, portanto, é: nós defendemos ou não uma sociedade em que a diversidade seja representada nos órgãos de decisão, na arte, etc? Ou isso fica apenas para depois da revolução?
Apenas dois textos que publiquei, até aqui, suscitaram respostas. É espantoso que um deles fora respondido em um site claramente fascista, e o outro respondido por uma pessoa claramente identitária. Espantoso, mas não surpreendente. Em ambas respostas, o mesmo: pouca atenção ao que está escrito e viés polêmico dogmático. Como a autora não podia me alcunhar de esquerdo-macho, então ela usou exemplos “históricos” – aliás, pouco verossímeis – para alcunhar quem supostamente teve a mesma postura que a minha diante de uma pauta “legítima dos oprimidos”.
Resolvo respondê-la porque, supostamente, ela fala em nome do proletariado e talvez o debate suscite algumas questões para serem aprofundadas:
De fato, defendo uma diversidade, mas que seja não representada, e sim atuante nos órgãos de decisão, na arte etc. É um desserviço criminoso aos “oprimidos” confundir o logeion do teatro, com o logeion da política. É o mesmo que reduzir a representação à realidade, a aparência ao ser. É sintomático acreditar que essa possibilidade se efetive nos termos do capital por dois motivos: 1) denota um total desconhecimento do modo de funcionamento do capital e sua estruturação historicamente racial e machista; 2) instaura uma ideologia de possibilidades no interior da ordem estabelecida que ajuda a dinamizar essa mesma ordem com a criação dos nichos de mercado.
 O problema não está no fato de que as pessoas não se sintam representadas, mas está na própria forma de representação, ou melhor dito, a própria democracia nesses termos é a outra face do capital e não o seu contrário. Mas, a camarada confunde representação política com representação teatral, cinematográfica etc., e com razão, tudo é somente o espetáculo mesmo. Acontece que a maioria das pessoas já se deu conta disso enquanto parte da esquerda ainda não.
O problema não está no fato de que as pessoas não se sintam representadas, mas está na própria forma de representação, ou melhor dito, a própria democracia nesses termos é a outra face do capital e não o seu contrário. Mas, a camarada confunde representação política com representação teatral, cinematográfica etc., e com razão, tudo é somente o espetáculo mesmo. Acontece que a maioria das pessoas já se deu conta disso enquanto parte da esquerda ainda não.
Em algum momento do texto a culpabilidade pelo Estado Democrático recai nos filósofos iluministas (teria sido Rousseau com sua vontade geral?), quase como se eles tivessem inventado o Parlamento – o que é extremamente equivocado. Oculta-se totalmente o fato de que o parlamento foi o ato final da burguesia vitoriosa que depois de 1848, mais e mais, irá se voltar para sua manutenção com o intuito de sufocar as revoluções. Hobsbawm já deixava suficientemente claro os limites da forma parlamentar, ao demonstrar o seguinte:
“A eleição de Luís Napoleão significou que mesmo a democracia do sufrágio universal, aquela instituição identificada com a revolução, era compatível com a manutenção da ordem social (…) as revoluções de 1848 deixaram claro que a classe média, o liberalismo, a democracia política, o nacionalismo e mesmo as classes trabalhadoras eram, daquele momento em diante presenças permanentes no panorama político” [7].
Acontece, porém, que a esquerda, sobretudo a identitária, atribui poderes soberanos ao Estado e à representação. Acredita no poder e na disputa desses “espaços” como forma de luta efetiva, enquanto é usadas como ventríloquo no louco processo de produção de valor.
O conceito de democracia pressupõe uma sociedade dotada de sujeitos livres. Há sem dúvida uma promessa – não cumprida – tanto na forma de refletir sobre a democracia quanto na concepção de sujeito. É Marx quem fornece pistas valorosas para uma crítica à noção de sujeito ao nos apresentar o sujeito-automático. Marx chega à conclusão de que o sujeito se reduz ao em-si-para-si da moderna forma dominante de exploração: O capital. É o capital que se torna o sujeito das relações sociais.
Nesse sentido, a democracia enquanto instrumento efetivo de transformação se perverte pelas condições impostas pelo modo de produção e reprodução do capital ao adentrar a esfera da representatividade[8]. A representação está desde sempre limitada ao modo de funcionamento da moderna economia. Nesse sentido, tanto a economia é política como a política é absorvida pela economia. Por isso, o parlamento será, como bem lembrou Hobsbawm, o ato final do abandono de qualquer horizonte revolucionário. Numa sociedade em que impera as relações de produção capitalista, isto é, numa sociedade fetichista, esse sujeito autônomo e consciente existe de maneira fragmentária, sempre em vias de formação. A pergunta se vamos deixar isso para depois da revolução é, por isso, central: significa, de fato, o abandono do horizonte revolucionário.
A forma de produção capitalista estrutura uma forma de consciência. Nesse sentido, não é à toa que o burguês não reclame de sua falta de representação, isto porque o mundo do capital é o mundo como vontade e representação do burguês. Como dizia o velho Marx: o capitalista incorpora o capital. A forma de produção capitalista é o molde sob a qual se desenvolveu toda a sociedade, desde as ruas e vielas para o escoamento da produção de mercadorias até as formas de pensamento que ajudam a dinamizar essa produção.
Na forma mercadoria encarna-se uma abstração real que “legitima” e governa a realidade social. Com a valorização do capital há uma desintegração das relações sociais que se efetua permanentemente como forma de reprodução e se situa na produção das realidades sociais que incluem, para sua manutenção: a segregação, a desigualdade, o racismo, a xenofobia e a homofobia. Em síntese, o capital integra a desintegração e exclui como forma de manutenção da estrutura e valorização de si mesmo. Nesse sentido, o capital é o sujeito contraposto à humanidade.
 Por isso, a forma de vida e representatividade é fetichista porque aparece como uma forma a priori diante da qual tudo o mais se resume. Na democracia representativa, doravante, tão defendida por parte significativa da esquerda, o que impera não são as formas fetichistas que a constituem. Elas já estão pressupostas; a redução da democracia à economia, ou melhor, a gestão do município e da federação é a sua total realização enquanto conceito representativo. Ela é mesmo a forma mais adequada à sociedade capitalista.
Por isso, a forma de vida e representatividade é fetichista porque aparece como uma forma a priori diante da qual tudo o mais se resume. Na democracia representativa, doravante, tão defendida por parte significativa da esquerda, o que impera não são as formas fetichistas que a constituem. Elas já estão pressupostas; a redução da democracia à economia, ou melhor, a gestão do município e da federação é a sua total realização enquanto conceito representativo. Ela é mesmo a forma mais adequada à sociedade capitalista.
A democracia representativa se realiza justamente nas negociações dos ajustes fiscais e na organização do Estado por meio dos cumprimentos de seus deveres obtidos com o pagamento dos investidores. A constituição é só letra morta que deve ser manipulada de acordo com as mutações do capital. Isso deve ficar claro. Não é mero acaso o ocaso dos gritos estéreis que conclamam a volta da democracia. Ou se põe em discussão o sistema que fomenta a desigualdade e a escravização pelo trabalho ou se ajuda a fazê-lo avançar a partir da adesão acrítica de se tornar o sujeito do Sujeito.
Com efeito, a luta antirracista, a feminista e a anti-homofóbica são fundamentais. Não se faz revolução sem demolir o sujeito ideal e geral da forma democrática burguesa, e esse sujeito é, sim, patriarcal, cis e branco e está estruturado a partir da forma mercadoria. No entanto, não é representando no interior dessa mesma forma democrática que a saída será instituída. As formas de representação na política parlamentar estão com a validade vencida e quem diz isso não sou eu, é o próprio capital e o desgaste espiritual dos eleitores. Não é apostando na democracia burguesa que se conseguirá sair do modo de exploração chamado capitalismo, e duvido muito se é de fato isso o que importa para essa esquerda. Proponho, portanto, terminar essa discussão com uma citação, já que não conseguirei expressar melhor aquilo que já foi expresso:
“A esfera da representação política fecha-se. Da esquerda à direita, é o mesmo vazio que toma, alternadamente, a forma de cão de guarda ou ares de virgem, como os técnicos de vendas que mudam de discurso conforme as últimas descobertas do departamento de comunicação. Aqueles que ainda votam parecem ter como única intenção explodir as urnas, de tanto votarem como puro ato de protesto. Começamos a pensar que é efetivamente contra o próprio voto que as pessoas continuam a votar. Nada daquilo que se apresenta está à altura da situação, nem de longe, nem de perto. Até no seu silêncio a população parece infinitamente mais adulta do que todos os fantoches que se atropelam para governar. [9]
Notas
[1] A ideia infelizmente não é minha, mas do lindo texto-manifesto de A insurreição que vem.
[2] Ver Sociedade do espetáculo.
[3] Esse artigo, aliás, é o que está em discussão. Ver aqui.
[4] Ver Dialética da dependência.
[5] Ideologia que não pode ser entendida mais como uma abstração vazia e simplesmente invertida, mas como uma abstração real que produz e reproduz uma forma de sociabilidade que interfere na vida de todos os seus agentes.
[6] Ver novamente Dialética da dependência.
[7] Ver A era do capital, p. 56.
[8] Se eu fosse kantiano, como os críticos do valor, poderia imediatamente conceber a democracia como igual ao capital. No entanto, não entendendo a contradição como um oximoro, e sim como aquilo que dinamiza o próprio processo de valoração do valor e, por conseguinte, abre fissuras para mudanças e transformações efetivas para superação da forma dominante do capital, prefiro entender como esse processo contraditório constitui crise e possibilita instituir de formas que estejam para além do capital. Afinal, a crise do valor não apresenta o horizonte emancipatório, essa necessidade é apresentada ainda pelos homens e pela política. Não é de espantar a postura niilista e confortável de seus adeptos.
[9] Ver A insurreição que vem p. 11-12.
As imagens que ilustram o texto são de Enzo Cucchi.







Debate muito importante. Seu texto inicial, comentando a eleição do Fernando Holiday, foi uma intervenção muito precisa!
Mas a resposta do Esquerda Online é estarrecedora, especialmente levando em conta que é o veículo oficial do MAIS (o racha do PSTU que levou metade do partido embora). Chama atenção que é um grupo marxista-leninista defendendo abertamente a “esquerda identitária”, e se inserindo nela. Num certo trecho, a autora chega a afirmar que “a estupidez política era direito exclusivo” dos “esquerdo-machos” – por mais que ela estivesse forçando a expressão, é sintomático do nível de obscurantismo ao qual essas posições conduzem.
Pra mim ficou o mistério: por que o texto está em cache? Pode ser um bom sinal: será que foi apagado porque causou divergências internas na organização? Jogando no Google, encontrei um outro texto no Esquerda Online sobre o Fernando Holiday, que, apesar de não escapar dos marcos do identitarismo, traz uma posição mais razoável, algo tipo: “não existe representatividade sem propostas de defesa dos oprimidos” (http://esquerdaonline.com.br/2016/10/13/fernando-holiday-representatividade-a-servico-de-quem/).
Não que seja muito relevante saber qual a linha exata da corrente, mas vejo esse caso como um retrato de onde chegou uma esquerda que se entende ainda como “revolucionária”…
Caro Douglas,
A minha leitura do seu texto permeia uma ótica um pouco anti-convencional e até mesmo externa, à medida que minha visão sobre esse assunto não parte de uma concepção histórica marxista, nem tampouco classicamente de “esquerda”. Há de minha parte, uma enorme reticência acerca do projeto revolucionário citado como fechamento do texto, e seria desonestidade não iniciar esse comentário pontuando que, se em síntese tendo a acordar com sua leitura acerca de questão, é tão somente porque para mim, ela abre uma outra muito maior, acerca de como acabar com toda forma de exploração, seja ela capitalista, ou de qualquer outra origem histórica.
Para iniciar minha contribuição, pontuo que apesar de concordar que a opressão das atuais “minorias” é uma questão estrutural no capitalismo, necessito delimitar que a vejo como algo intrínseco a ele, embora que não pertencente. A opressão da mulher, só para tomarmos um dos eixos como exemplo, é algo que não pertence ao capitalismo. Não surgiu nele, não existe somente nele e tampouco deixaria de existir ao fim dele. Mas é intrínseco ao seu funcionamento, à medida que cumpre uma função de exploração sem a qual ele não existiria, como uma engrenagem interna sem a qual a máquina do nosso tempo não poderia continuar produzindo. A mulher, portanto, assume nesse cenário qualquer papel que ela desejar. Para o capitalismo, isso não é tão relevante. Importa que em qualquer destes papéis, a exploração esteja incutida. E considero um terrível equívoco quando julgam que a mulher, o negro, ou qualquer outra “minoria”, não podem se emancipar no capitalismo. Pois podem tanto quanto um homem branco, cis e hetéro, basta que eles estejam dispostos a cumprir o papel que a classe dominante desempenha. Como costumo brincar: “a única moral do capitalismo é a acumulação. Se você a detém, tampouco importa qualquer outra coisa”.
Nesse sentido, a luta por bandeiras de identidade é imprecisa, tola, mas quase sempre, efetiva. Ela é sim possível no capitalismo, porque negros podem se empoderar e converter-se em opressores, isso no capitalismo é belo e moral. Só o que não é belo, e tampouco moral, é o cessar da máquina produtiva. Enquanto houver um boliviano para substituir um negro na linha de produção, o capitalismo vai muito bem, obrigada. E é por isso que a luta pelo empoderamento se torna absolutamente cativante: sua possibilidade de concretude em um plano não revolucionário e portanto, muito mais pacifico e ordinário, converte todas as incertezas históricas que a clássica esquerda vem deixando desde outubro de 1917. É um prato cheio para os covardes, perdidos e iludidos. Três aspectos que florescem com vigor em nossos tempos.
Ao meu ver, você foi preciso em delimitar que um dos fundamentos dessa posição equivocada da dita “esquerda identitária”, parte de uma visão cindida de mundo, onde se confunde, o ser e o parecer. Mas essa confusão, no meu entender, não parte de simples troca de conceitos. Parte de uma imaturidade, que ainda não foi superada em nosso tempo. Como atenta observadora de crianças, tenho acordo total com os teóricos que afirmam que o egocentrismo é um estágio inicial da experiência humana. Os bebês atuam sobre o mundo ao seu redor desconsiderando aquilo que não parte da sua própria experiência. São amantes do prazer, e incapazes de compreender a dor. Berram e gritam porque acreditam que o mundo se dobrará a suas necessidades e convicções e acreditam piamente que exercem poder sobre a mãe, quando ela cede o seio para satisfação de suas necessidades. Não tem se quer a consciência que ela só o faz, porque de alguma forma se apropriou dele. Assim porta-se a esquerda identitária. Não percebe que quando se alcança algumas cadeiras no trono do estado é porque o mesmo já se apropriou deles. Já os considera como a semente que perpetuará seu poder em uma troca de engrenagens necessária, de tempos em tempos. Podemos trocar o homo pelo hetero, o negro pelo amarelo, a mulher pelo homem, e ainda não haveria nada de novo embaixo do sol. Mas para quem levanta uma bandeira, essas “conquistas” nutrem tanto quanto o leite que sai do seio da mãe. Elas bastam para alimentar sua crença que estariam rompendo com a lógica do sistema. Resta à própria experiência mostra-los que o caminho que eles percorrem é um ciclo, daqueles cuja a única direção é eternamente dar voltas em si mesmo.
Portanto para concluir, lamento que ao restante daqueles que entendem a via revolucionária como a única capaz de trazer a verdadeira emancipação humana, resta um solitário caminho. É necessário buscar as respostas sobre como construir um mundo onde não haja mais a exploração do humano pelo humano, essa sim, intrínseca ao nosso modelo econômico, é um dos grandes entraves para a emancipação de todos. Porém sinto em dizer que não me contento com a defesa do fim do capitalismo. Ao contrário do que possa parecer, não vejo na esquerda a direção revolucionária, nem tampouco na mais fidedigna cátedra de Marx. Serei acusada de anarquista ainda algumas vezes mais, pós moderna. Mas julgo importante, pensar a luz das tentativas de outrora, como reunir sujeito e sociedade, de forma há imperar em ambos o crivo da autonomia. E esse ponto, caro Douglas, continua sendo para mim, a histórica divergência contra os marxistas.
Texto pancada! Essa “esquerda” identitária se espalhou como praga em plantação porque é muito fácil ser dela. Basta vir com a “experiência imediata”, como se fosse possível, para garantir o lugar de fala. Na minha faculdade aconteceu algo interessante. Uma parte do M.E foi citar Marx daí subiu uma moça e disse que aquelas idéias eram muito abstratas e que ela tava preocupada mesmo era com o auxílio permanência dela. (Foi aplaudida de pé). Falando gírias como papagaio, de repente, a assembléia se converteu numa disputa de quem falava mais gírias e era o mais fudido. Porque quanto mais fudido mais venerado se tornava…
Uma coisa espantosa e infantil, típica da sociedade do espetáculo em seu último ato. O triste é que tem gente que acha que isso é revolucionário…
Santo Dios!
Primeiro gostaria de dizer que o texto traz uma analise precisa e consistente desses movimentos. Assim como o comentário da Jess reforça conclusões que tenho tido. Penso que essa “esquerda identitária” só quer fazer parte do capitalismo. Assim que se “emanciparem”, acenderem dentro da hierarquia do capitalismo, termina a crítica, o discurso, a luta, o coletivo, a atuação partidária e etc..
O comentário da Amalucada do verão é uma ilustração, até como anedota desses movimentos. O que importa a essa esquerda, a meu ver, é conseguir no capitalismo resolver seus problemas matérias. E entrar nas estruturas do Estado, mesmo como representação, é a efetivação da solução dessas carências materiais. Outro episódio que ilustra também, essas minhas conclusões, são o debate ocorrido em Outubro de 2014 na UFRRJ, onde houve uma “acalorada” discussão entre Carlos Moore e Mauro Iasi, devido, de acordo com os relatos, Mauro Iasi criticar Obama e Carlos Moore declarar que Obama era um “avanço para comunidade negra”. Sem contar, os já tão divulgados financiamentos feitos pela Fundação Ford para congressos acadêmicos, de discussão de identidade.
Mais um indicio, dessas minhas conclusões são à saída dos movimentos identitários, em defesa ao governo do PT. Em maior ou menor medida o governo petista deu espaço em seus ministérios e políticas as reivindicações desses movimentos. Cito de cabeça, Gilberto Gil como ministro da cultura e tão mal falado Kit Gay.
Ou seja, esses episódios dão dimensão material, na minha leitura, para onde esses movimentos estão olhando. Toda a esquerda é, penso eu, para esses movimentos apenas “companheiros de viagem”.
Outro problema, eu entendo, é a esquerda tradicional na sua miopia, sempre tentar mudar a “natureza” das coisas. Um movimento que reivindica representação para suas identidades perante o Estado, nunca será revolucionário. Quem pretende se representar dentro do Estado não pode querer a destruição do mesmo.
Outro exemplo ilustrativo dessa esquerda ocorreu no C.A das sociais na UNB, que desacataram as escolhas da assembléia porque segundo ela, só havia esquerdo-macho na assembléia. Também o C.A de Filosofia que mais que qualquer outro, deveria se opor a esse fascismo de primeira ordem, abaixou o rabo e se deixou dominar por estes. Triste…
Creio que o Douglas apresenta muito bem o embasamento teórico contra as tentativas de conciliação entre a política identitária e a tradição classista revolucionária. Não que o classismo não tenha nada a dizer sobre questões de opressões, o tema de fundo aqui gira sobre as práticas políticas. A participação de correntes marxistas revolucionárias nas eleições tem diferentes objetivos, certamente que o objetivo de “representar minorias” é algo bem recente nessa história. Acho interessante esse debate dos textos em questão como retrato do trotskismo atual e essa maneira de ceder posições para tentar ganhar militantes e votos. Ou será que o texto foi apagado do site do MAIS justamente pelo seu conteúdo?
No mais, para aqueles que enxergam um campo autonomista, as questões referentes à participação eleitoral certamente voltam à ordem do dia agora que um bastião do autonomismo internacional informa sua nova estratégia e já começam a aparecer variados apoios à iniciativa.
tem piada
LUCAS DIXIT: “bastião do autonomismo internacional [a.k.a. Daniel Caribé?] informa sua nova estratégia e já começam a aparecer variados apoios à iniciativa”.
Diante de alguns comentários e especialmente do texto exposto tive alguns compartilhamentos de ideias e ,certamente,várias indagações que gostaria de expô-las.Acredito, até ressaltado em um comentário,que a opressão das atuais ‘minorias’ como a que envolve a questão do gênero,raça e sexualidade são aspectos que chegam a estruturar o capitalismo,ou,seja,intrínseco ao capital como foi bem argumentado no texto que a própria estruturação do mercado de trabalho reflete a segregação racial,embora estes aspectos não necessitem do capital para existir.Em outras palavras,as questões que envolve gênero,raça e sexualidade chegam a fazer parte da condição de existência do capital,mas o capital não é a condição de existência da questão de gênero,raça ou sexualidade.Neste sentido,pode-se chegar algumas visíveis conclusões:a primeira é que pelo fato desses aspectos como raça,gênero e sexualidade estruturarem o capitalismo é lógico de se pensar que a segregação seja ela racial,de gênero ou em relação a sexualidade não poderá se romper em busca da emancipação com a realidade que está imposta pelo capital;por outro lado não é de se espantar que essas discussões das ‘minorias’ que envolvem raça,gênero e sexualidade estejam presentes dentro da perspectiva capitalista já que esses aspectos não são originários e não estão presentes apenas ao modo de organização capitalista.Assim,surge,penso,algumas indagações: não podendo superar a segregação racial,gênero e de sexualidade no modo de sociedade capitalista devemos buscar uma mudança estrutural na sociedade?Uma revolução?Mas o que seria a revolução?Para qual tipo de sociedade deveria levar a revolução?.
Penso que enquanto não se buscar a pensar de como deverá ocorrer a mudança estrutural tão desejada ou a revolução não terá como exigir ou esperar que as minorias pensem fora do modo de sociedade capitalista.