Por Manolo
A economia brasileira viveu nos últimos quinze anos a vinte e cinco anos transformações significativas na sua estrutura interna e em sua inserção na economia internacional. Tais transformações vieram na esteira de um processo de longo prazo, que atravessou governos e gerações.
Afirmamo-lo logo de início porque no Brasil ocorre uma curiosa e instrutiva assimetria entre as esferas governamental e empresarial. A vida política brasileira tem sido sujeita a convulsões muito profundas, mas apesar disto a estratégia econômica prosseguiu uma orientação firme ao longo das décadas, obedecendo a rumos invariáveis, o que fornece mais uma prova da cisão existente entre a face pública do Estado e a atividade empresarial. No Brasil os capitalistas têm conseguido impor aos políticos, tanto de direita como de esquerda ou do centro, um eixo de reformas bastante consistente e, sobretudo, composto por patamares sucessivos, visto que por detrás das instituições políticas formais existem entidades informais onde se relacionam os principais empresários e os governantes da área econômica, e são estas entidades quem orienta os acontecimentos. O Brasil conta-se entre aqueles poucos países onde o Estado continua a ter, ou a poder ter, uma intervenção de peso na estratégia econômica, mas isto não ocorre na face pública das instituições políticas. Formou-se uma tecnoburocracia que circula entre as administrações das empresas, as universidades e as assessorias dos ministérios e que forma o núcleo mais sólido das classes dominantes. Foi esta tecnoburocracia quem, através dos zigue-zagues da política, assegurou à economia brasileira uma dinâmica de crescimento e paulatina internacionalização.
De que dinâmica estamos a falar? Teria sido esta dinâmica afetada pelas turbulências políticas dos últimos anos, rompendo a assimetria histórica? E como a população brasileira percebe as flutuações nesta dinâmica?
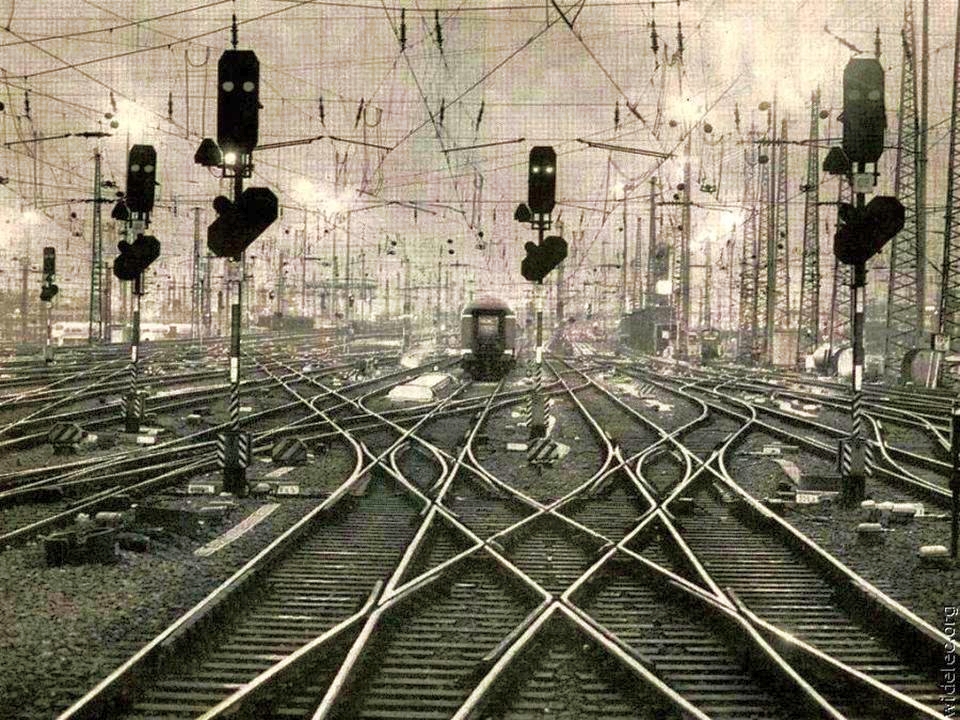
Tais questões permitirão compreender a inserção brasileira na economia global em tempos de transição de hegemonia. Como afirmamos o enraizamento das transformações na economia brasileira em fatores de longa duração, será preciso de abusar da paciência do público leitor com muitos termos do jargão econômico, detalhados em notas explicativas quando necessário. As respostas a tais perguntas permitirão entender se o fascismo ascendente no Brasil tem origem em fatos recentes, se enraíza-se numa base social nova de onde extrai legitimidade política para suas pautas e propostas, ou se, de igual maneira, radica-se em processos de longo prazo.
O “voo de galinha” da retomada econômica
O governo federal brasileiro repisa em sua propaganda números e afirmações bombásticas acerca de uma retomada econômica que estaria em curso após o que reitera ter sido “a pior recessão da história brasileira”. De outro lado, no bloco político derrotado nas lutas políticas de 2014-2016, antes governo e hoje oposição, não falta quem caracterize o desenvolvimento econômico brasileiro posterior a 2016 como um “voo de galinha”, ou seja, como melhorias pontuais e irregulares em alguns indicadores sem melhora generalizada no quadro econômico; contrapõem à retórica do governo federal diversos indicadores sociais evidenciadores de degradação das condições de vida da população, em especial dos mais pobres.
Ora, recessão, muito simplesmente, é o acúmulo de fatores econômicos capazes de contrair a produção, acúmulo num volume tal que supera em força os fatores capazes de impulsionar a expansão na produção. Os economistas consideram como recessão qualquer redução por três meses seguidos no Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, na soma de tudo aquilo que se produz numa economia.
Segundo o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a economia brasileira entrou em recessão no primeiro trimestre de 2014, pondo fim a uma fase de expansão econômica que vinha desde o segundo trimestre de 2009 e teve duração semelhante à fase expansiva anterior, ocorrida entre o terceiro trimestre de 2003 e o terceiro trimestre de 2008 (21 trimestres). O crescimento médio trimestral de 4,2%, em termos anualizados, foi um pouco inferior ao observado nos dois períodos anteriores de expansão, ocorridos entre o primeiro e o último trimestres de 2002 (5,3%) e entre 2003 e 2008 (5,1%).
Ainda segundo o CODACE, historicamente, a duração dos ciclos de negócios brasileiros vem mostrando uma tendência de diminuição a partir de meados dos anos 1990. A média de duração das três recessões ocorridas entre 1981 e 1992 foi de 8,7 trimestres, enquanto a duração média das cinco recessões a partir de 1995 foi de 2,8 trimestres.
A recessão iniciada no primeiro trimestre de 2014 só terminou, segundo o CODACE, no quarto trimestre de 2016, e teria sido a mais longa entre as nove datadas pelo comitê a partir de 1980, empatada com a de 1989-1992. A perda acumulada de Produto Interno Bruto (PIB) nesses 11 trimestres foi de 8,6%, também a maior desde 1980, praticamente empatada com os 8,5% de queda do PIB na recessão de 1981-1983, com base em dados das Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
(A revisão da metodologia de cálculo do PIB pelo IBGE põe em xeque esta afirmação, mas é inegável que a recessão de 2014-2016 está entre as quatro mais longas da história brasileira recente. De igual maneira, cada grande crise recessiva agravou as contradições políticas e sociais de sua época, com graves consequências para os blocos de poder governantes: a de 1930-1931 foi contemporânea ao fim da Primeira República, a de 1981-1983 fortaleceu as pressões para o fim do regime militar, a de 1989-1992 culminou com o impedimento de Fernando Collor de Melo, e foi em meio à mais recente recessão que se deu o impedimento de Dilma Rousseff.)
Alguns indicadores críticos
Se a produção na economia brasileira parece ter sido retomada, é preciso entender em que bases se dá esta nova fase do ciclo econômico – inclusive para entender os entraves que os capitalistas tentarão enfrentar. A análise de alguns indicadores será de grande utilidade nesta tarefa.
O primeiro deles é a formação bruta de capital fixo, ou seja, o quanto as empresas aumentaram os seus bens de capital, os que servem para produzir outros bens. Na terminologia marxista, são os meios de produção. No sistema das Contas Nacionais Trimestrais monitorado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tendo 1995 como ano-base, tais bens são basicamente máquinas, equipamentos e material de construção. Este indicador mostra se a capacidade de produção de uma dada economia está crescendo, e também se os capitalistas confiam num retorno favorável para seus investimentos.

De 1996 até o segundo trimestre de 2003 a formação bruta de capital fixo oscilou em torno de volumes muito semelhantes, deslanchou daí até o terceiro semestre de 2013 (com queda momentânea entre o quatro trimestre de 2008 e o segundo trimestre de 2009 por força da crise financeira internacional) e começou a declinar sem parar até o segundo trimestre de 2017, quando teve início uma modesta retomada seguida novamente por tendência declinante. A queda iniciada em 2013, entretanto, não derrubou o volume do capital fixo a valores anteriores aos verificados entre o segundo e o terceiro trimestres de 2007.
O segundo indicador é a ociosidade dos bens de produção. Caros como são os bens de produção, os capitalistas pensam duas vezes antes de desfazer-se deles. Sempre que precisam reduzir a produção, optam por reduzir a intensidade do uso de seus bens de capital – ou seja, por aumentar sua ociosidade. Quando são usados no processo produtivo com intensidade menor que a recomendada, os bens de capital tornam-se pouco produtivos e terminam encarecendo o produto final. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) monitora desde janeiro de 2001 a ociosidade dos bens de produção na economia brasileira em sua Sondagem da Indústria, com o nome de nível de utilização da capacidade instalada (NUCI); por esta metodologia, quanto maior a utilização, menor a ociosidade.
Pelos dados apresentados pela FGV, a economia brasileira apresenta uma média histórica de 80,3% de utilização da capacidade instalada entre 2001 e 2018, e em poucas ocasiões a utilização ficou abaixo da média: entre julho de 2001 e novembro de 2003, da crise do apagão até quase todo o primeiro ano do mandato de Lula na presidência; entre dezembro de 2008 e agosto de 2009, entre o início da crise financeira internacional e os primeiros resultados dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); e de outubro de 2014 até hoje, e meio ao acirramento das disputas políticas que se vinham gestando desde pelo menos 2005 com a crise do mensalão e se agravado desde 2011 com o ajuste fiscal dos primeiros meses do mandato de Dilma Rousseff à frente da presidência. Outubro e novembro de 2016 representaram o ponto mais baixo de utilização da capacidade instalada, e de lá para cá este indicador tem subido muito timidamente, chegando em maio de 2018 à taxa de 76,5% de utilização dos bens de capital da economia brasileira – taxa inferior inclusive às da crise do apagão, quando o indicador desceu a 77,6%.
O terceiro indicador é o investimento em ciência, tecnologia e informação. No caso brasileiro, como os indicadores do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) não avançam além de 2015 e portanto não permitem avançar recessão adentro, será a evolução do próprio orçamento do ministério o principal indicador.
Tabela 1: limites de empenho do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
| Ano | Valor (R$ bi de 2016 atualizados pelo IPCA) | Variação (%) |
| 2005 | 6,1 | 0,00% |
| 2006 | 5,6 | -8,20% |
| 2007 | 6,2 | 10,71% |
| 2008 | 6,5 | 4,84% |
| 2009 | 6,7 | 3,08% |
| 2010 | 8,6 | 28,36% |
| 2011 | 6,8 | -20,93% |
| 2012 | 7,0 | 2,94% |
| 2013 | 8,4 | 20,00% |
| 2014 | 7,3 | -13,10% |
| 2015 | 6,0 | -17,81% |
| 2016 | 4,3 | -28,33% |
| 2017 | 3,2 | -25,58% |
| 2018 | 2,7 | -15,63% |
Fonte: FINEP
Cabe registrar que, segundo dados do MCTIC, até 2008 o volume de investimentos privados em pesquisa acompanhou muito proximamente o dos investimentos estatais (incluídos na conta tanto os investimentos da União quanto os investimentos dos Estados), quando chegaram respectivamente a US$ 14,5 bilhões e US$ 14,3 bilhões (em paridade de poder de compra nos dois casos); daí em diante o volume de investimento estatal descolou-se do investimento privado, superando-o sempre até que em 2013, refletindo os cortes no orçamento do MCTIC (que se iniciaram desde lá, e não agora), tal investimento foi sendo reduzido até encontrar-se em 2015 novamente próximo ao volume dos investimentos privados, na ordem respectiva de US$ 20,5 bilhões e US$ 20,4 bilhões (em paridade de poder de compra nos dois casos). A evolução no volume de investimentos permite levantar a hipótese de que em 2018 os investimentos privados em pesquisa no Brasil, mantido seu ritmo pregresso e também o quadro de cortes nos investimentos estatais, já tenham superado estes últimos.
A situação de cortes no orçamento deste ministério agravou-se de modo contínuo desde 2014, e levou em 2017 a uma mobilização da comunidade científica brasileira e internacional em prol do fim dos cortes e da retomada do investimento. A Ciência e Tecnologia não entrou na Emenda Constitucional 95 como uma das despesas obrigatórias do Estado brasileiro, como são a saúde e a educação; isto significa que o governo pode cortar sua verba indiscriminadamente – até, inclusive, o corte total de investimento.
Em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), lembrou que 23 ganhadores do prêmio Nobel enviaram uma carta ao presidente Michel Temer em setembro de 2017, alertando que os cortes podem comprometer o futuro do Brasil. Na mesma oportunidade, Fernando Peregrino, presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES), disse que o problema também é de gerenciamento de recursos. Segundo ele, o sistema de Justiça brasileiro gasta quase 2% do PIB, o dobro do que tem o setor de Ciência e Tecnologia. Nos Estados Unidos, segundo ele, os gastos com C&T representam 2,4% do PIB enquanto o sistema de justiça tem 0,2%.
Seguindo nas comparações internacionais, em artigo de abril de 2018 para a revista Época Negócios o economista Riley Rodrigues de Oliveira afirmou que o Brasil é o 10º país em Despesa Interna Bruta em Pesquisa e Desenvolvimento (DIBPD), que inclui investimento privado; o país é apenas o 24º quando em DIBPD per capita, com US$ 723 (o ranking é liderado pelo Catar, com US$ 4 mil), e cai ainda mais no ranking de investimento em relação ao PIB, sendo o 28º, com 1,2% (Coreia do Sul lidera, com 4,3%). “Com as previsões para a economia e os cada vez mais parcos investimentos no setor em 2018”, disse o economista, “a tendência é o país cair em todos os rankings”.
A evolução destes três indicadores demonstra os enormes constrangimentos na economia brasileira a um desenvolvimento econômico baseado nos incentivos à produtividade. O Instituto Brasileiro de Economia da FGV (IBRE/FGV) aponta desde julho de 2017 em seu Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) – índice composto por oito outros índices capazes de auferir tanto a atividade econômica quanto as expectativas de capitalistas da indústria, dos serviços e também dos consumidores – pequeno acúmulo de variações positivas mensais (entre 0,3% a 1,8%), querendo com isto dizer que “a reversão do atual ciclo de expansão ainda é pouco provável” e que “a recuperação do nível de atividade na economia brasileira está consolidada, ainda que em ritmo modesto”.
Há que se perguntar, entretanto, que nova matriz de desenvolvimento advirá em meio a um cenário tão desanimador.
Setor exportador, mercado interno e reprimarização
Argumenta-se comumente que o período de bonança na economia brasileira durante os três mandatos e meio do PT à frente do governo federal teve a ver com o desengatamento a que nos referimos na parte anterior deste artigo, materializado com a mudança do foco da atividade exportadora brasileira dos Estados Unidos para a China e com a concentração da pauta de brasileira exportações no tipo de commodities[1] exigidas pela expansão avassaladora da indústria chinesa, que em escala global lançou para cima o preço das commodities e beneficiou enormemente as economias onde eram produzidas.
Segundo a consultoria financeira Morgan Stanley em paper de 2013, os superciclos de commodities são comuns e aconteceram outras vezes, como durante a Segunda Revolução Industrial e os chamados “trinta gloriosos” anos de expansão da economia industrial do Atlântico Norte depois da Segunda Guerra Mundial. Naquele ano a Morgan Stanley afirmava estar este ciclo de preços já em fase de queda por fatores como a desaceleração do crescimento chinês, a alta internacional nas taxas de juros (que encarece os empréstimos, tende a reduzir os investimentos e portanto pode reduzir também a demanda industrial por matérias-primas), a desaceleração dos programas anticíclicos de investimentos iniciados com a crise financeira entre 2008 e 2009 e o crescimento da oferta global de commodities (que empurra para baixo os preços) por força dos investimentos em produtividade e novas tecnologias em seus respectivos setores.
As estatísticas de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDICS) confirmam-no quanto à pauta de exportações, que será interessante ver no longo prazo.
Tabela 2: evolução da participação de fatores agregados na pauta brasileira de exportações (%)
| Ano | Produtos Básicos | Produtos Semimanufaturados | Produtos Manufaturados | Operações especiais |
| 1999 | 24 | 17 | 57 | 2 |
| 2000 | 21 | 17 | 61 | 2 |
| 2001 | 23 | 15 | 58 | 4 |
| 2002 | 24 | 14 | 57 | 4 |
| 2003 | 28 | 15 | 55 | 2 |
| 2004 | 30 | 14 | 55 | 2 |
| 2005 | 26 | 15 | 57 | 2 |
| 2006 | 28 | 14 | 56 | 3 |
| 2007 | 30 | 14 | 54 | 2 |
| 2008 | 30 | 14 | 53 | 3 |
| 2009 | 40 | 13 | 45 | 2 |
| 2010 | 41 | 14 | 42 | 2 |
| 2011 | 46 | 14 | 38 | 2 |
| 2012 | 46 | 13 | 38 | 2 |
| 2013 | 46 | 14 | 38 | 2 |
| 2014 | 49 | 13 | 36 | 3 |
| 2015 | 45 | 15 | 38 | 3 |
| 2016 | 45 | 14 | 38 | 2 |
| 2017 | 49 | 14 | 35 | 2 |
| 2018 | 46 | 13 | 38 | 2 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDICS)
Ao aumento paulatino e continuado da participação dos produtos básicos na pauta brasileira de exportações os economistas chamam de reprimarização, sintoma daquilo a que outros tantos economistas – ortodoxos ou neodesenvolvimentistas, tanto faz, pois nisto concordam – chamam de doença holandesa, ou seja, a situação em que a disponibilidade abundante de recursos naturais de um país proporciona vantagens comparativas, de tal forma que a sua extração e exportação leva a superavits comerciais crescentes, resultando na apreciação cambial[2].
Como seguem explicando os economistas Ricardo Lobato Torres e Henrique Cavalieri em artigo de 2015 publicado na Revista de Economia Política, no caso de doença holandesa, o recurso natural tem grande demanda no mercado internacional, fazendo com que os termos de troca se tornem favoráveis, mesmo com sobrevalorização da moeda nacional. Por outro lado, a apreciação cambial inibe os investimentos em indústrias de bens comercializáveis, já que a taxa de câmbio torna os produtos importados mais competitivos. Assim, o crescimento econômico de um país que ainda não tem uma indústria diversificada poderia ser comprometido pela doença holandesa. Para os países que já possuem uma indústria desenvolvida, esta passaria a sofrer intensa competição internacional e apenas alguns tipos de indústrias e serviços de não-comercializáveis se desenvolveriam.
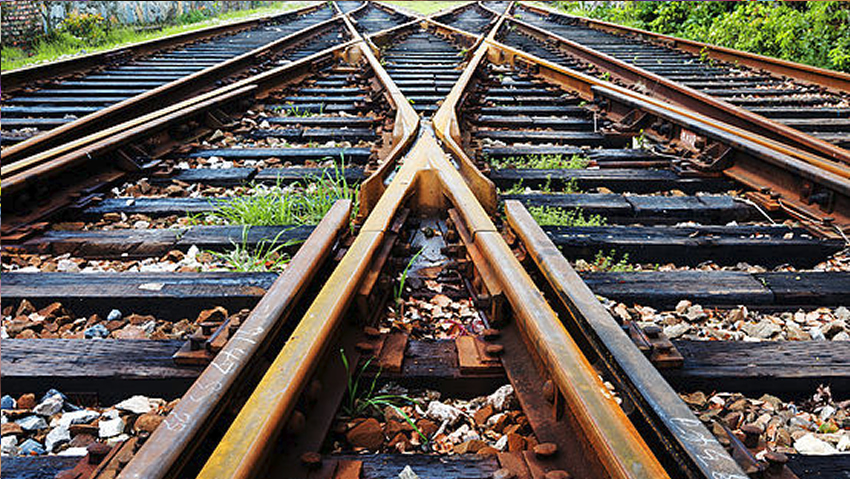
Há, ainda, um conceito ampliado de doença holandesa, em que a disponibilidade abundante de recursos humanos também poderia levar um país àquela situação, mas em vez de extração de recursos naturais, a economia especializar-se-ia na produção de artigos industriais comercializáveis intensivos em mão de obra, como as indústrias de vestuário e de calçados. A consequência da doença holandesa seria a reprimarização da economia ou a especialização regressiva, ou seja, concentração da produção em atividades baseadas em recursos naturais, no primeiro caso, ou em atividades específicas, como as manufaturas trabalho-intensivas, no segundo.
Seria a doença holandesa mais um constrangimento estrutural à tímida retomada da atividade econômica no Brasil? Se a composição da pauta brasileira de exportações mostra sintomas do problema, é preciso verificar também as contratendências.
Primeira contratendência: o grande conjunto de transformações concorrenciais, produtivas, tecnológicas e patrimoniais na economia global ocorridos nas últimas décadas dificulta a análise dos desafios colocados para a estrutura produtiva brasileira sem um aprofundamento no entendimento dessas transformações – algo que ainda não parece ter acontecido em meio aos economistas. Célio Hiratuka e Fernando Sarti, professores do Instituto de Economia da UNICAMP, destacam num artigo recente como o debate sobre a desindustrialização no meio econômico não leva em conta fenômenos de escala internacional como a desverticalização, a fragmentação de atividades, a transferência internacional de etapas produtivas, a ampliação de mercados e a gestão coordenada de atividades economicamente dispersas, resultando na estruturação da produção internacional sob a forma de uma série de redes produtivas sobrepostas, integrando países e empresas, que realizam etapas distintas da cadeia de valor sob coordenação de grandes corporações. Isto leva a mudanças no padrão de industrialização: se em etapa anterior a industrialização de dada economia exigia a internalização de cadeias produtivas inteiras e de outras complementares, no modelo atual é possível internalizar etapas da cadeia de valor sem a necessidade de internalizá-las por inteiro.
Segunda contratendência: os indicadores empregues para afirmar a desindustrialização estão enviesados. Ricardo Lobato Torres e Henrique Cavalieri, no artigo já citado, demonstram como os dois principais indicadores empregues no debate sobre a desindustrialização brasileira – a participação da indústria no PIB e a razão entre o valor da transformação industrial (VTI) e o valor bruto da produção industrial (VBPI) – podem sofrer vieses significativos. A primeira medida mostra oscilações bruscas devido a mudanças na metodologia, que via de regra não são levadas em conta e atrapalham as comparações de prazo mais longo. A segunda parece ser muito sensível a variações de taxa de câmbio e não captura as diferenças interindústria. Assim, os resultados mostram que ambos os indicadores contêm problemas e podem levar a enganosa conclusões sobre a estrutura produtiva nacional.
Terceira contratendência: o debate em torno da desindustrialização brasileira não leva em conta a interpenetração dos três setores clássicos da economia nas últimas décadas. Conquanto existam abundantes artigos e estudos monográficos em torno da “industrialização da agricultura” e da “terciarização da indústria”, ainda não é possível distinguir tais setores ao nível do sistema de contas nacionais com a precisão necessária para avaliar corretamente seus altos e baixos. De outro lado, é precisamente a progressiva interpenetração entre os três setores da economia quem, no médio e longo prazos, tende a desautorizar a clássica tripartição da economia e a exigir um rearranjo dos estudos econômicos de modo a incorporar efetivamente esta interpenetração.
No caso brasileiro, os bens primários responsáveis pela alteração na composição das exportações foram o minério de ferro e o petróleo; tanto a Vale, que extrai um, como a Petrobras, que extrai o outro, são empresas de topo mundialmente, empregando uma tecnologia sofisticada que envolve investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento (tradicionalmente colocada como “serviço”) e uma variada cadeia de serviços auxiliares. A componente de produtos agrícolas na pauta de exportações deve-se sobretudo ao agronegócio, um ramo em que a produtividade tem aumentado significativamente e que opera com uma tecnologia muito mais avançada do que a agricultura tradicional. Além disso, muitos dos artigos exportados da agricultura e da pecuária foram processados no país antes de enviados para o estrangeiro.
A robusta diversificação da economia brasileira, construída ao longo de décadas de políticas industrializantes, parece estar longe de ser drasticamente afetada pela reprimarização. O aumento da participação dos produtos primários na pauta brasileira de exportações se dá num quadro crescente do valor das exportações de todos os setores, inclusive o de produtos manufaturados, mesmo num contexto de queda na produtividade da economia brasileira.
O Brasil no fluxo de investimentos globais
A professora de economia da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Juliana Inhasz, afirma que o protecionismo de Trump tem tido “pouca ressonância até o momento”, mas o risco não está resolvido porque em julho de 2017 havia ainda “três anos e meio pela frente de governo” com possibilidade de reeleição. Para a economista, “a eleição de Trump, por si só, já fez o investidor americano ficar mais receoso e considerar a sua economia como uma atividade de risco”, e investidores estadunidenses “passaram a buscar outros mercados, principalmente os emergentes, incluindo o Brasil”. Ressalta, por fim, que “ao longo dos dois últimos anos [2015-2017], o Brasil ficou muito barato: a taxa de câmbio subiu muito, o que fez com que o real se depreciasse muito frente às outras moedas”.
A análise do investimento direto no País (IDP)[3] permitirá avaliar como este tipo de investimento influencia o desenvolvimento de uma economia com problemas crônicos de poupança e investimento como a brasileira e, complementarmente, verificar se é consequente a teoria quase conspiratória de que as turbulências políticas vividas no Brasil desde 2014 objetivariam facilitar a vida de investidores estrangeiros, e principalmente dos estadunidenses.
Tabela 3: investimento direto no país (IDP) segundo país do controlador final (em US$ milhões)
| País | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Total | 587.209 | 589.592 | 603.470 | 550.635 | 518.116 | 362.516 | 480.984 |
| Dez maiores origens do capital investido no Brasil | |||||||
| Estados Unidos | 109.698 | 114.539 | 120.835 | 109.374 | 108.847 | 77.046 | 103.624 |
| Espanha | 85.421 | 77.187 | 70.569 | 59.475 | 57.524 | 37.472 | 60.803 |
| Bélgica | 50.342 | 54.855 | 70.658 | 63.624 | 53.015 | 39.526 | 43.698 |
| França | 30.647 | 36.288 | 35.710 | 35.149 | 30.674 | 21.309 | 29.028 |
| Japão | 29.004 | 33.207 | 31.661 | 28.304 | 26.793 | 18.914 | 23.001 |
| Suíça | 13.104 | 14.656 | 17.320 | 13.823 | 14.405 | 14.761 | 21.957 |
| Grã-Bretanha | 41.635 | 42.169 | 46.712 | 41.857 | 36.675 | 21.894 | 20.541 |
| Luxemburgo | 13.198 | 13.552 | 14.902 | 15.049 | 14.023 | 10.977 | 16.349 |
| Alemanha | 30.350 | 23.942 | 23.400 | 22.272 | 17.695 | 12.472 | 16.711 |
| Holanda | 14.871 | 12.785 | 13.909 | 20.931 | 19.334 | 12.763 | 14.637 |
| BRICS (sem o Brasil) | |||||||
| China | 7.874 | 9.269 | 9.791 | 11.521 | 12.219 | 8.606 | 11.994 |
| Índia | 1.250 | 1.112 | 1.517 | 997 | 1.498 | 719 | 1.418 |
| Rússia | 65 | 69 | 148 | 233 | 247 | 57 | 74 |
| África do Sul | 753 | 1.063 | 1.109 | 888 | 995 | 955 | 994 |
| Tigres Asiáticos | |||||||
| Cingapura | 771 | 309 | 464 | 573 | 656 | 1.427 | 3.681 |
| Coreia do Sul | 1.385 | 1.433 | 1.992 | 3.899 | 4.468 | 3.028 | 5.158 |
| Taiwan | 282 | 250 | 209 | 227 | 173 | 51 | 131 |
| Novos Tigres Asiáticos | |||||||
| Filipinas | – | – | – | – | – | – | – |
| Indonésia | – | – | – | – | – | 4 | 5 |
| Malásia | – | – | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| Tailândia | – | – | – | – | – | 293 | 337 |
| Vietnã | – | – | – | – | – | – | – |
Fonte: Banco Central do Brasil
A tabela 3 apresenta uma tendência de crescimento nos investimentos diretos no país entre 2010 e 2012, seguida por uma retração entre 2013 e 2015 e uma retomada em 2016. A alta de investimentos entre 2010 e 2014 corresponde ao período em que a economia brasileira encontrava-se no “grau de investimento”[4]. A retração fortíssima entre 2014 e 2015 resulta da conjugação entre a crise econômica, que já vinha reduzindo os investimentos diretos no país desde 2013, com a crise política, e resultou na perda do chamado “grau de investimento” em 2015. O crescimento de 32,67% no volume de investimento entre 2015 e 2016 pode ser tomado como parâmetro para comparações posteriores.
Via de regra, as dez maiores origens de capital mantiveram a mesma tendência; em alguns casos os patamares de 2010 são retomados em 2016, em outros há variação para mais ou para menos. É em meio aos BRICS e aos “tigres asiáticos” que se encontram exceções: o crescimento de 52,32% do investimento chinês de 2010 para 2016, o salto de 272,42% no investimento sul-coreano no mesmo período e a decolagem de 377,43% do investimento cingapuriano no Brasil na mesma época é que deveriam chamar a atenção, e não o decréscimo de 5,54% no investimento estadunidense nos mesmos anos de referência.
Se o crescimento de 34,5% nos investimentos estadunidenses no Brasil entre 2015 e 2016 talvez assuste os mais desavisados, é preciso ver as coisas em perspectiva, pois o fluxo e o refluxo de investimentos se dá de forma desigual entre as partes que compõem o total de investimentos diretos no país. Assim, para ficar apenas entre as dez maiores origens, a Espanha acresceu 62,26% de investimento no mesmo período; Luxemburgo acresceu 48,94%; a Suíça, 48,75%; descendo aos BRICS, o investimento chinês cresceu 39,37% no mesmo período, o indiano aumentou 97,22% e o russo 29,82% no mesmo período; isto para não falar das variações de 157,95% no investimento cingapuriano, de 156,86% no investimento taiwanês e de 70,34% no investimento sul-coreano.
São estas taxas que indicam a dinâmica do investimento direto no país; neste caso, interessam mais que o montante de investimentos, pois é a dinâmica que permite verificar alterações nos montantes e, portanto, quem tem criado mais interesse em investir na economia brasileira na conjuntura. Como se vê, a dinâmica mostra que se houve alguma alteração no processo de internacionalização da economia brasileira das últimas décadas, ela tem beneficiado mais aos asiáticos que aos estadunidenses, pois enquanto o fluxo do investimento yankee manteve-se regular, seguindo as tendências, os asiáticos, embora sócios minoritários da economia brasileira, aumentam seus investimentos em ritmo cada vez mais intenso.
Isto elimina completamente as teorias da conspiração em torno da origem estadunidense da queda de Dilma em 2016? Claro que não. Mas a justificativa cui bono estritamente econômica sai mais fragilizada de uma análise factual.
Internacionalização da economia brasileira
Que efeitos as turbulências políticas dos últimos anos tiveram sobre a internacionalização da economia brasileira?
As companhias transnacionais devem ser analisadas criticamente como a modalidade mais desenvolvida do capitalismo, mas usualmente as acusações são feitas na perspectiva de uma entidade nacional lesada por um elemento que ultrapassa as fronteiras. As acusações formuladas na perspectiva nacionalista dirigem-se tanto para a entrada de investimentos diretos oriundos do estrangeiro como para a saída de investimentos diretos encaminhados para o estrangeiro. Os promotores de certa propaganda muito bem orientada, segundo a qual as atribulações judiciais e midiáticas de empreiteiras brasileiras (Odebrecht, Camargo Corrêa etc.) e de empresas do setor de proteínas animais (JBS, BRF etc.) estariam “destruindo o capitalismo brasileiro”, ver-se-ão forçados a entender que a internacionalização da economia brasileira não se resume ao campo da construção pesada nem tampouco ao das commodities do complexo agro-mínero-exportador.
A Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (SOBEET) apontou no Boletim SOBEET nº 101 (jun. 2014) um crescimento no volume internacional de investimentos oriundos de economias em desenvolvimento: se em 2000 a participação de tais investimentos no volume total global era de 12%, em 2014 este percentual havia crescido para 35%, e a SOBEET projetava então para 2020 que tal participação alcançaria 50%. Naquele ano, o estoque de investimentos diretos brasileiros no exterior somava US$ 266,3 bilhões, contra US$ 51,9 bilhões no início da década anterior; a economia brasileira detinha então o quinto maior estoque de investimentos diretos no exterior entre as chamadas “economias emergentes”, depois de Hong Kong, China, Rússia e Cingapura.
Tabela 4: estoque de distribuição do investimento direto brasileiro por setor (%)
| % | 2007 | 2012 |
| Setor primário | 39,5 | 29,1 |
| Mineração | 37,8 | 20,1 |
| Petróleo e Gás | 1,5 | 5,8 |
| Agropecuária | 0,1 | 0,6 |
| Indústria | 15,5 | 21,0 |
| Metalurgia | 3,0 | 7,1 |
| Bebidas | 7,4 | 5,3 |
| Produtos minerais não metálicos | 1,2 | 3,8 |
| Alimentos | 2,2 | 2,7 |
| Serviços | 45,4 | 50,0 |
| Serviços financeiros | 20,8 | 28,4 |
| Atividades profissionais | 4,7 | 6,3 |
| Comércio | 2,8 | 3,8 |
| Consultório | 4,5 | 2,9 |
| Outros serviços financeiros | 2,8 | 1,6 |
| Infraestrutura | 0,6 | 1,3 |
Fonte: Boletim SOBEET nº 101, com base em dados do Banco Central.
O Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2017 compilado pela Fundação Dom Cabral (FDC), de Minas Gerais, apresenta interessante panorama das multinacionais e transnacionais de origem brasileira. Como se trata de uma pesquisa por adesão voluntária de “empresas com controle de capital e gestão majoritariamente brasileiros”[5], não cabe argumentar que tais empresas estejam sendo usadas como plataformas para investimentos estrangeiros.
Tabela 5: As 30 empresas brasileiras mais internacionalizadas
| Posição no ranking | Empresa |
| 1 | Fitesa |
| 2 | Odebrecht |
| 3 | InterCement |
| 4 | Iochpe-Maxion |
| 5 | Stefanini |
| 6 | Artecola |
| 7 | Metalfrio |
| 8 | CZM |
| 9 | DMS |
| 10 | Marfrig |
| 11 | JBS |
| 12 | Grupo Alumini |
| 13 | Tupy |
| 14 | Minerva Foods |
| 15 | Marcopolo |
| 16 | Magnesita |
| 17 | Votorantim |
| 18 | Camargo Corrêa |
| 19 | Tigre |
| 20 | Gerdau |
| 21 | Weg |
| 22 | Vale |
| 23 | Spoleto |
| 24 | Camil |
| 25 | Embraer |
| 26 | Expor Manequins |
| 27 | Natura |
| 28 | CI&T |
| 29 | Alpargatas |
| 30 | Vicunha Têxtil |
Fonte: Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2017
Segundo o Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2017, “de forma geral, as empresas brasileiras continuam aumentando gradativamente seu grau de internacionalização, seja em resposta ao atual contexto político-econômico do Brasil, seja como parte de um macro plano estratégico de atuação global”. Mesmo com o fechamento ou interrupção temporária de operações em alguns países tal tendência se mantém, pois “o movimento de entrada em novos países superou o de saída, o que reforça a tendência de crescimento internacional das empresas”. No que diz respeito ao desempenho, apesar das margens de lucro no exterior serem historicamente inferiores às margens no mercado doméstico, nos últimos anos as multinacionais brasileiras pesquisadas declararam ter ficado “mais satisfeitas com o seu desempenho financeiro, operacional e geral no mercado internacional, o que é mais um indício de como o contexto político-econômico brasileiro tem afetado as nossas multinacionais”. Essas mesmas empresas planejam expandir operações nos mercados em que já atuam, algumas têm planos de entrar em novos países e “em geral, esperam que o desempenho no mercado internacional continue satisfazendo mais as expectativas do que o mercado doméstico, permitindo a diversificação de riscos”.
Tabela 6: Evolução dos índices médios de internacionalização das multinacionais brasileiras (%)
| . | 2014 | 2015 | 2016 |
| Índice de receitas | 24,0 | 27,4 | 30,2 |
| Índice de ativos | 25,9 | 29,5 | 28,1 |
| Índice de funcionários | 20,5 | 23,2 | 24,6 |
| Índice de internacionalização | 23,2 | 26,4 | 27,3 |
Fonte: Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2017
Alguns exemplos retirados do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2017 mostram como as empresas brasileiras que já viviam processos de internacionalização, ao contrário do esperado, seguiram com sua expansão. A Weg, que em 2015 adquiriu 4 empresas ao redor do mundo, continuou sua expansão internacional em 2016, quando adquiriu a empresa Bluffton Motor Works, fabricante de motores elétricos com sede na cidade de Bluffton, Indiana, EUA. A BRF é o exemplo mais notável, pois seu processo de expansão entre 2015 e 2016 foi simplesmente espantoso. Por meio de sua subsidiária alemã BRF Foods GmbH a empresa obteve 70% das ações da FFM Further Processing SDN BHD, uma empresa processadora de alimentos baseada na Malásia. A BRF entrou também na Turquia, de forma definitiva em 2017, depois de concluir a aquisição da Banvit, maior produtora de aves e líder de mercado desse país. A aquisição foi concluída também pela TBQ Foods GmbH, joint venture formada pela OneFoods, subsidiária da BRF dedicada ao mercado halal (alimentos autorizados de acordo com a xaria islâmica), e a Qatar Investment Authority, fundo soberano do Catar. Soma-se a isto sua participação na COFCO Meat Holdings, produtora de alimentos de origem suína chinesa.

Contrariando o esperado, algumas empresas pesquisadas no Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2017 destacaram o cenário de instabilidade nacional como influência importante no processo de internacionalização. A Natura, por exemplo, teve seu desempenho em 2016 influenciado pela queda de receita no Brasil e pelas oscilações cambiais na América Latina, que reduziram o crescimento das operações internacionais. Além disso, a Rede Natura (plataforma de comércio eletrônico) completou o primeiro ano de implantação no Chile com grande receptividade e já está em expansão para a Argentina. Com a demanda crescente no segmento de comércio eletrônico, a empresa de cosméticos pretende avançar de forma acelerada para as demais operações. Em 2016 a Natura incorporou a marca Aesop e abriu 41 novas lojas exclusivas da marca no mundo, totalizando 176, em 20 países da América, Ásia, Europa e Oceania – aumentando o tamanho da Aesop em cerca de quatro vezes. Em 2017, a Natura adquiriu a empresa de cosméticos britânica The Body Shop, que atua em 66 países, tem mais de 3 mil pontos de venda (109 deles no Brasil) e fechou 2016 com receita líquida de 920,8 milhões de euros.
Sobre o movimento de saída de países, a Embraer deixou de atuar na China, já que a produção por demanda especifica chegou ao fim. Da mesma forma, a Odebrecht encerrou as obras na Colômbia, Líbia e Cuba – as razões não são ditas na pesquisa, mas estão estampadas nos noticiários. A Falconi não possui mais filiais na Guatemala, já que as operações nesse país foram estabelecidas exclusivamente para um contrato com o governo federal. A Vale vendeu seus ativos na Austrália e a Marfrig decidiu vender parte dos seus ativos da Argentina. A Camargo Corrêa encerrou atividades em Portugal, Angola, Equador e Paraguai, motivada por um projeto de reposicionamento da empresa no mercado internacional. A Camil encerrou atividades na Angola e a Seculus saiu dos Emirados Árabes Unidos, ambos por questões de inadimplência.
74,2% das empresas pesquisadas no Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2017 afirmam que suas estratégias internacionais foram impactadas de alguma forma pelo contexto mundial, sendo que apenas 15,6% alega um impacto considerável. Entretanto, como muitas empresas participantes da pesquisa estão presentes em diversos países, com diversificação de riscos, e nem todas estão presentes no mercado norte-americano ou inglês, o impacto relativo das políticas Trump e Brexit é percebido como pequeno, muito pequeno ou inexistente para a grande maioria (84,4%). Dois efeitos principais das mudanças políticas no Estados Unidos com o início do Governo Trump foram destacados pelas empresas participantes. De um lado, a Gerdau informou que identifica um potencial aumento de vendas nos Estados Unidos diante de um cenário futuro de redução de produtos importados naquele país. Por outro, empresas como Grupo Serpa, Algar Tech, Expor Manequins, Indusparquet, Fast Açaí e Iochpe-Maxion identificam redirecionamento de estratégias em outros países devido ao “efeito Trump”. O Grupo Serpa, por exemplo, tem como plano reforçar ainda mais os investimentos diretos na China, pois com Trump buscando a centralização para os EUA há chances de abrir novas oportunidades naquele país.
Quem alimenta o “voo de galinha”?
A redução de investimentos em todas as áreas da economia brasileira, a retração do capital fixo a níveis próximos dos de 2007, a persistência do baixo aproveitamento dos meios de produção, a redução do investimento em ciência e tecnologia por meio dos cortes no orçamento ministerial correspondente, a perda do grau de investimento e a exportação de capitais rumo a ambientes mais promissores, tudo isto junto cria um cenário pouco promissor para a retomada do desenvolvimento econômico. Ainda mais quando o crescimento econômico chinês, ao qual a economia brasileira engatou-se desde a década passada, não parece retomar o mesmo ritmo de anos atrás. Pior ainda frente a um cenário de guerra comercial entre EUA e China.
Em todo caso, não se pode dizer, sem muitas ressalvas, que a assimetria histórica entre a estabilidade na esfera empresarial e as convulsões da esfera política tenha sido rompida. Conquanto esta última tenha afetado severamente o setor interno da economia brasileira e as empresas a ele atreladas, as empresas mais dinâmicas recorreram de forma consistente à exportação de capitais — ou seja, ao investimento em outras economias — para escapar da crise interna.
O padrão da inserção brasileira na economia global desenhado nas duas últimas décadas pode não ter sido fundamentalmente alterado, mas os elementos acima descritos podem desempenhar no médio prazo problemas sérios para o desenvolvimento capitalista normal. Diga-se de passagem que a crise econômica afeta mais os capitalistas pouco capazes de exportar capitais ou de atrair investimentos externos diretos. Presos aos circuitos econômicos contaminados pela crise, seus riscos são muito maiores, sua insegurança é muito mais intensa. É nestas situações em que os capitalistas costumam “socializar os prejuízos” lançando-os nas costas de de outros capitalistas mais retardatários que eles próprios. Entretanto, mesmo estes podem repassar a conta a outros ainda mais retardatários, e assim seguem até encontrar aqueles que não têm a menor condição de fazê-lo – a classe trabalhadora.
Mas quais os efeitos deste cenário sobre os trabalhadores brasileiros? Como atravessaram uma das mais longas recessões da história brasileira? Que desafios poderão enfrentar no curto e médio prazo?
Notas
[1] Commodity, no jargão dos economistas, é qualquer bem ou serviço que tenha total ou substancial fungibilidade, ou seja, que possam ser plenamente substituídos por outros em igual tipo e quantidade, independentemente de quem os tenha produzido, causando prejuízos irrisórios a seu consumo, isto quando há qualquer prejuízo perceptível ou mensurável. Um exemplo: enquanto bens produzidos em larga escala como impressoras, aparelhos de som ou carros ainda estão sujeitos a preferências de modelo e marca, quase não há diferenças no ferro extraído de minas em diferentes lugares do mundo. O recente superciclo de commodities de 2000-2014 mostrou a diversidade deste conjunto de produtos e sua pertença a distintas cadeias produtivas: alimentos (milho, trigo, arroz, cacau e soja); papel (novo ou reciclado); combustíveis (carvão, petróleo, urânio); metais preciosos (ouro, prata, platina, ródio, paládio, rênio); metais industriais (alumínio, níquel, cobre, ferro, chumbo, zinco, neodímio e outros); minerais não-metálicos (cloro); e produtos químicos elementares (ácido sulfúrico).
[2] No âmbito da política cambial – conjunto de ações e orientações ao dispor do Estado destinadas a equilibrar o funcionamento da economia através de alterações no preço das moedas estrangeiras medido em moeda nacional – a apreciação ou valorização cambial é a valorização de uma moeda nacional frente a uma moeda estrangeira, o que torna mais barata a moeda estrangeira e facilita as importações, mas torna as exportações mais caras e faz com que percam competitividade no mercado internacional.
[3] Investimento externo direto é aquele que assegura ao investidor o controle ou algum tipo de interesse duradouro e influência decisiva na empresa estrangeira onde o capital é aplicado. Considera-se direto o investimento voltado para a aquisição de mais de 10% do capital de uma empresa estrangeira; qualquer participação em volume menor é chamada investimento de portfolio, ou investimento em carteira.
[4] Grau de investimento é um dos patamares da classificação de crédito ou avaliação de risco, nota dada a uma empresa, país, título ou operação financeira para medir o risco de qualquer operação de crédito a eles associada. Via de regra, há dois patamares onde se situam as notas: o grau de investimento, que indica maior número de garantias e alta probabilidade de pagamento; e o grau especulativo, que indica menor número de garantias e baixa probabilidade de pagamento. Em suma: quem está no grau de investimento é bom pagador e “merece” investimentos, e quem está no grau especulativo é caloteiro e “não merece” investimentos.
[5] Pela metodologia do Ranking, são ali classificadas “empresas com controle de capital e gestão majoritariamente brasileiros e com atuação internacional por meio de escritórios de vendas, depósitos, centrais de distribuição, manufatura, montagem, prestação de serviço, agências bancárias / serviços financeiros, pesquisa e desenvolvimento ou franquias. Empresas em estágios iniciais de internacionalização que apenas exportam ou atuam no exterior somente por meio de representantes comerciais não são foco específico desta pesquisa”. O índice empregue no Ranking segue a metodologia da United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) e é de uma simplicidade palmar. Primeiramente, encontra-se as taxas de ativos, receitas e funcionários no exterior de cada empresa, tendo como base seu total de ativos, receitas e funcionários. Em seguida, soma-se estas taxas e divide-se o total por 3.
Este artigo é o terceiro de uma série. Leia as demais partes clicando aqui.







FDC = Fundação Dom Cabral, e não Dom Carlos.
Cara Samira, já realizamos a correção e agrademos pelo aviso.
Cordialmente,