Por Manolo
Na parte anterior deste ensaio foi visto como o padrão de inserção internacional da economia brasileira construído ao longo das últimas décadas não passou por alterações profundas durante a crise recessiva recente, e como mesmo a chamada “reprimarização” da economia deve ser vista com reservas. Resta ver, daqui por diante, como a recessão impactou a classe trabalhadora no Brasil.
***
Diz a Confederação Nacional da Indústria que o ano de 2017 foi marcado por uma retomada do investimento industrial no Brasil, pois 76% das empresas industriais brasileiras realizaram algum tipo de investimento; o tipo mais frequente de investimento foi a aquisição de máquinas e equipamentos, feito por 64% das empresas que investiram. Em seguida estão a aquisição de novas tecnologias, incluindo automação e tecnologias (14%); a melhoria da gestão foi assinalada (7%); a capacitação de pessoal, melhoria de marketing e vendas e P&D (pesquisa e desenvolvimento) somaram 10%.
Embora não se possa generalizar a situação da indústria para o todo da economia brasileira, se se leva em conta o fato de ter sido este o setor mais afetado pela recessão, as notícias de retomada nos investimentos surgem como um fato de grande importância. Um cenário de retomada de investimentos tende a levar à redução do desemprego, pois os investimentos costumam vir acompanhados de contratações que se propagam em cascata desde os setores responsáveis pela retomada econômica (industriais ou não).
Vemos, entretanto, situação bem menos otimista no dia-a-dia. O aumento da pobreza em meio à população brasileira se vê em questões prosaicas como a queda no número de usuários de planos de saúde e na quantidade de linhas de telefones celulares, ou em rotinas degradantes como a da troca de fogões a gás por fogareiros a lenha ou álcool. A recente greve dos caminhoneiros – cujas causas têm sido debatidas com vigor entre economistas, como se vê aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui – explicitou as sérias deficiências da infraestrutura logística brasileira, causou uma pequena crise de abastecimento em diversos setores e derrubou as expectativas do PIB.
Esta contradição leva a perguntar: no atual quadro da economia brasileira, teria ou não vigência o ditado do ditador Médici, de que “a economia vai bem, mas o povo vai mal”? Ou seja, há alguma correlação entre o quadro pintado pelos indicadores econômicos e aquele desenhado pelos indicadores sociais?
Premissas políticas e econômicas
A posição que embasa a análise a seguir está baseada em três constatações.
A economia é o xibolé do capital
Em primeiro lugar, quando se está a analisar políticas econômica há que se ter extremo cuidado. Os números, conceitos e teorias da economia são o xibolé do capital. Servem para mascarar o fato de que toda a economia capitalista, sem qualquer exceção e em qualquer tempo ou lugar, é construída sobre a exploração dos trabalhadores.
 Mesmo as medidas mais “reformistas” e “benéficas” aprofundam a exploração capitalista e colocam distintos setores da classe trabalhadora para lutar entre si. Do processo de trabalho à reforma trabalhista; dos investimentos produtivos ao ajuste fiscal; das decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM) aos milhares de livros, revistas e vídeos a “ensinar” aos trabalhadores como “poupar” e “investir”; nada, literalmente escapa a esta regra. E é ela quem presidirá a argumentação a seguir.
Mesmo as medidas mais “reformistas” e “benéficas” aprofundam a exploração capitalista e colocam distintos setores da classe trabalhadora para lutar entre si. Do processo de trabalho à reforma trabalhista; dos investimentos produtivos ao ajuste fiscal; das decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM) aos milhares de livros, revistas e vídeos a “ensinar” aos trabalhadores como “poupar” e “investir”; nada, literalmente escapa a esta regra. E é ela quem presidirá a argumentação a seguir.
Conquista sem mobilização abre espaço para recuperação capitalista ou fascismo
Em segundo lugar, a experiência histórica ensina que qualquer conquista obtida dos capitalistas pelos trabalhadores, quando não vem acompanhada de um forte e ativo movimento de massas, tanto é revertida pelos capitalistas em seu próprio favor quanto pode criar as bases para a ascensão de movimentos fascistas ou similares.
Um exemplo: a política de aumentos no salário mínimo acima da inflação não afetou os assalariados em todas as faixas da população brasileira; as melhoras beneficiaram principalmente os trabalhadores de rendimento mais baixo, enquanto que nas faixas intermediárias houve melhoras salariais mais lentas.
Um dos efeitos setoriais desta política é o aumento no preço dos serviços de empregados domésticos, cabeleireiros, manicures, costureiros, pintores, pedreiros, encanadores, eletricistas e de outros prestadores de serviços pessoais e domésticos. O que para estes setores foi ganho de renda, para seus contratadores tradicionais, em especial aqueles situados nas faixas intermediárias de renda, foi inflação, pois cresceu o custo com a contratação desta mão-de-obra especializada. No caso brasileiro o impacto é ainda maior, pois trata-se do país com maior número de empregados domésticos no mundo inteiro.
Na comparação internacional de renda, estes setores médios são, na verdade, pobres. O “espaço” em seus orçamentos para lidar com as pressões inflacionárias é menor do que parece, e certamente menor do que gostariam.
Frente às pressões inflacionárias, restaram-lhes opções nem sempre fáceis.
Uma delas é aprender a fazer por conta própria os serviços domésticos e pessoais. É por aí que se deve entender a proliferação de cursos de “artesanato” e “customização” de móveis e vestuário etc. na última década e meia, e também a de cursos de pequenos serviços pessoais e domésticos – elétrica, pintura de paredes, encanamento, maquiagem, manicure etc.; sob o argumento da “autonomia”, tais cursos ensinam a substituir a mão de obra especializada pela do próprio contratante.
Outra opção é apertar o orçamento para manter os gastos com tais serviços.
Há mais opções, mas estas indicam casos-limite.
Num caso e no outro, mas especialmente no segundo, surge em meio a estes setores uma tendência a responsabilizar os aumentos nos preços dos prestadores de serviços pela deterioração nas suas próprias condições de vida. Em casos extremos, há quem passe da constatação à ação. Eis aí como se pode encontrar um dos elementos explicativos – há outros – da participação massiva destes setores não apenas nos atos públicos e na militância em redes sociais a favor da derrubada de Dilma Rousseff, mas igualmente em favor de tudo o que vá contra os sinais da melhoria nas condições de vida daqueles setores da classe trabalhadora mais favorecidos pela política prolongada de aumentos do salário mínimo acima da inflação.
Tal ambiente mostra-se ainda mais favorável numa sociedade como a brasileira, muito marcada pelo elitismo racista e onde estes setores de renda média, quando não são eles mesmos pequenos burgueses e gestores de baixo e médio escalão, criam diversos elementos distintivos no campo do consumo e do comportamento para diferenciarem-se da classe trabalhadora e aproximarem-se da burguesia e dos gestores.
Do outro lado – ou seja, da parte dos trabalhadores beneficiados pelo aumento do salário mínimo – cabe perguntar: que tipo de mobilização resultou na política de aumentos? Sabe-se que os sindicatos e centrais sindicais mobilizam por aumentos salariais superiores à inflação desde 2004 com variados graus de participação das categorias que representam (ver aqui, aqui), e que o acordo que levou à normatização dos aumentos no salário mínimo em 2011 resultou de um acordo de cúpula entre o governo e centrais sindicais (ver aqui, aqui, aqui, aqui).
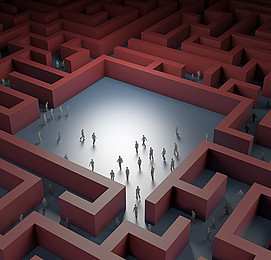 Um tal processo, inegavelmente, tem grande potencial para beneficiar os trabalhadores. “Potencial”, porque o poder de compra dos trabalhadores com os salários mais baixos depende menos da variação inflacionária geral que da variação inflacionária nos alimentos, nos alugueis, em bens de consumo doméstico e em alguns serviços públicos essenciais como energia, gás, água e transportes públicos. As estatísticas demonstram, adicionalmente, que esta política teve impacto direto e positivo sobre toda a população que recebia renda mensal de até 1 salário mínimo (aproximadamente um quinto da população brasileira) e influenciou os aumentos salariais dos trabalhadores situados em estratos de renda imediatamente superiores.
Um tal processo, inegavelmente, tem grande potencial para beneficiar os trabalhadores. “Potencial”, porque o poder de compra dos trabalhadores com os salários mais baixos depende menos da variação inflacionária geral que da variação inflacionária nos alimentos, nos alugueis, em bens de consumo doméstico e em alguns serviços públicos essenciais como energia, gás, água e transportes públicos. As estatísticas demonstram, adicionalmente, que esta política teve impacto direto e positivo sobre toda a população que recebia renda mensal de até 1 salário mínimo (aproximadamente um quinto da população brasileira) e influenciou os aumentos salariais dos trabalhadores situados em estratos de renda imediatamente superiores.
A forma como se deu a consolidação dos aumentos foi a forma possível em tempos de baixa sindicalização e de baixa capacidade de mobilização dos sindicatos. Importam menos aqui as intenções dos sindicalistas, a agitação dos setores mais combativos no campo sindical, e sim o que realmente aconteceu. Precisamente por isto, e pela crônica dificuldade no meio sindical de conceber os sindicatos como instrumento de luta além da estrita questão salarial e trabalhista, a enorme massa de trabalhadores beneficiada pelo processo pouco participou de tudo.
Foi, guardadas muitíssimas ressalvas, quase como se esta enorme parcela dos trabalhadores brasileiros fosse uma beneficiária passiva do processo, e não alguém diretamente interessado que precisaria se mobilizar em defesa própria. Foi baixíssima a participação direta daqueles que já haviam naturalizado por décadas os aumentos anuais como rotina “automática” da vida, ora comemorando quando se davam acima da inflação, ora reclamando com os mais próximos quando não a ultrapassavam.
E da passividade pouco se tira de saldo organizativo, de memória de lutas, de mobilização política.
A reação destes trabalhadores frente às reclamações dos setores de renda média afetados negativamente pela valorização do salário mínimo, e também à sua ação política, tem sido curiosa. A defesa de sua posição – considerando apenas as regras do jogo capitalista, e não sua ruptura – não passa por qualquer forma de mobilização coletiva, mas numa onda difusa de respostas meramente retóricas. Em consonância com a retórica dos que conduziram o processo nos campos sindical e político, tudo estaria centrado no “preconceito das elites”, incapazes de suportar a presença dos mais pobres em aeroportos, nas universidades, em shopping centers e outros lugares onde anteriormente se socializavam com certa exclusividade. O preconceito existe, é traço histórico em setores consideráveis da burguesia e dos gestores no Brasil, mas, como vimos, ele é potencializado e acirrado pelas conquistas dos trabalhadores e seus efeitos sobre a renda das camadas inferiores destas classes.
 As possibilidades imediatas de mobilização entre os que vivem no limiar da sobrevivência, sabe-se por experiência, são muito baixas. Jornadas intensas de trabalho, medo do desemprego, baixo saldo organizativo de lutas pregressas, redes de solidariedade pouco afeitas a ações contestatárias etc., tudo contribui para que, no curto prazo, estes trabalhadores preocupem-se mais com a própria sobrevivência que em mobilizar-se em defesa própria. Ficam criadas as condições para que sejam os sindicalistas e certas lideranças políticas a “lutar pelos mais pobres”, novamente por meios burocráticos e dentro das “regras do jogo” capitalista – e o ciclo assim se fecha.
As possibilidades imediatas de mobilização entre os que vivem no limiar da sobrevivência, sabe-se por experiência, são muito baixas. Jornadas intensas de trabalho, medo do desemprego, baixo saldo organizativo de lutas pregressas, redes de solidariedade pouco afeitas a ações contestatárias etc., tudo contribui para que, no curto prazo, estes trabalhadores preocupem-se mais com a própria sobrevivência que em mobilizar-se em defesa própria. Ficam criadas as condições para que sejam os sindicalistas e certas lideranças políticas a “lutar pelos mais pobres”, novamente por meios burocráticos e dentro das “regras do jogo” capitalista – e o ciclo assim se fecha.
O exemplo, recortado de um contexto mais complexo onde vários fatores se interpenetram e se alimentam, é ilustrativo de uma questão mais ampla.
A experiência histórica demonstra que na luta de classes não existe qualquer cenário ótimo em que todos saem ganhando. Alguém tem de perder. Capitalistas lançam a conta de suas derrotas sobre outros capitalistas mais retardatários, e todos eles arrancam o que podem dos trabalhadores para continuar a ser capitalistas. Ganham em cada conjuntura as classes sociais que têm maior coesão e maiores capacidades de mobilização e de articulação.
Sempre que a burguesia e os gestores em todos os escalões reunirem estas condições contra os trabalhadores, e em que estes últimos conseguiram arrancar-lhes conquistas (por menores que sejam), há enormes possibilidades para que tais conquistas sejam incorporadas ao próprio funcionamento desequilibrado do capitalismo.
Por outro lado, quando a coesão e as capacidades de mobilização e articulação dos trabalhadores garantem sustentação a lutas intensas, abrem-se duas possibilidades. Ou os trabalhadores vão alargando paulatinamente um campo de relações sociais novas, pautadas pelas práticas políticas, econômicas e sociais construídas em meio às lutas, ou são derrotados e abre-se um longo ciclo de repressão. Não é incomum que nestes contextos setores da classe trabalhadora espremidos pela repressão venham a aliar-se a burgueses e gestores – e é por esta porta que a serpente fascista costuma entrar.
É no vaivém entre estas duas alternativas que se desenham os cenários construídos daqui por diante.
Em crises, os capitalistas lançam os prejuízos sobre os trabalhadores
Em terceiro lugar, a evidência histórica demonstra que os capitalistas sempre encontrarão um jeito de lançar a conta da crise nas costas dos trabalhadores. Os meios para fazê-lo são variados, mas na recente crise recessiva brasileira alguns se destacaram: a desvalorização da força de trabalho e o reforço ao disciplinamento dos trabalhadores, conseguidos por meio do desemprego (que reduz o poder de barganha dos assalariados e, se prolongado, destrói qualificações pela falta de prática), da estagflação (que desvaloriza economicamente a força de trabalho e ajuda os capitalistas a recompor suas taxas de lucro) e do endividamento massivo (que comprime os salários, transfere aos capitalistas as poupanças dos trabalhadores e amarra-os a esta transferência enquanto durar a dívida).
Explicitadas as premissas, hora de partir para a análise do problema.
A hipótese do hiperemprego e as alternativas para os capitalistas
Samuel Pessoa e Bráulio Borges, pesquisadores vinculados ao Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV), defendem que um dos componentes da crise econômica entre 2014 e 2017 foi a situação de hiperemprego, ou seja, uma situação em que a taxa de desemprego está abaixo da taxa que não acelera a inflação. Mais preciso e didático que Samuel Pessoa, Bráulio Borges afirma, via gráfico, ter existido hiperemprego no Brasil entre 2004 e 2015, comparando a taxa de desemprego efetiva com a chamada NAWRU (non-accelerating wage rate unemployment), uma taxa de desemprego compatível com um ganho real dos salários alinhado com os ganhos de produtividade da economia).
Tomar como ponto de partida a hipótese da influência do hiperemprego sobre a economia brasileira no período de crise permite entender bem como os capitalistas repassam aos trabalhadores os custos de sua própria crise.
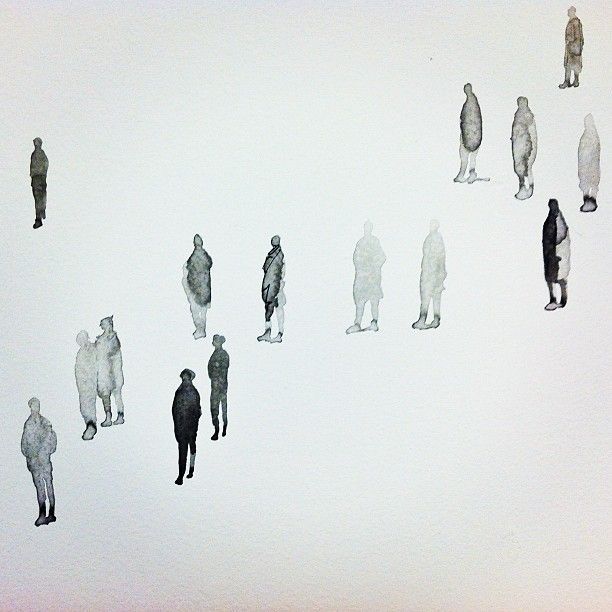 Numa situação de hiperemprego, falando muito grosseiramente, desemprego baixo demais leva a inflação a subir. A situação se entende melhor trocando tudo em miúdos.
Numa situação de hiperemprego, falando muito grosseiramente, desemprego baixo demais leva a inflação a subir. A situação se entende melhor trocando tudo em miúdos.
Com o desemprego reduzido é mais difícil preencher uma vaga de trabalho aberta, pois há menos profissionais desempregados para preenchê-la. Isto facilita que trabalhadores cobrem salários mais altos para aceitar aquele trabalho oferecido. Aquilo que trabalhadores individuais percebem como um aumento em seu poder de barganha frente aos capitalistas, percebem-no também os sindicalistas. Num cenário onde as pressões de mercado aumentam o custo da rotatividade da força de trabalho e portanto dificultam as demissões disciplinares, eles também pressionam por aumentos salariais para atender os anseios da base social que legitima sua posição.
Caso os salários aumentem nesta situação, os capitalistas ficam espremidos entre alternativas extremas:
- não preencher a vaga aberta, reduzindo a capacidade produtiva da empresa;
- extinguir ou diminuir a pressão por aumentos salariais por meio de punições e demissão de “agitadores”, aumento da vigilância interna e das pressões de gerentes e supervisores etc.
- aceitar os aumentos salariais e reduzir suas margens de lucro;
- aceitar os aumentos salariais e repassá-los para os preços dos produtos, para que sua margem de lucro não seja reduzida.
- aceitar os aumentos salariais e pressionar por aumentos de produtividade em toda a economia para que, com tal aumento, diminuam os custos com a reprodução social e biológica dos trabalhadores e de sua força de trabalho, resultando indiretamente em diminuição da pressão destes custos sobre os salários e, consequentemente, em redução das pressões por aumentos salariais;
A primeira alternativa contribui para a recessão, pois reduz o número de bens produzidos, de serviços prestados etc..
A segunda resulta em aumento dos custos com vigilância, monitoramento e repressão contra os trabalhadores, resultando em aumento dos custos de produção, que os capitalistas tentarão recuperar repassando estes aumentos para algum outro agente econômico (outros capitalistas, consumidores, trabalhadores etc.).
A terceira contribui para o fechamento de empresas, pois a redução de margens de lucro pode desinteressar os capitalistas de manter funcionando uma empresa onde seus lucros são pequenos.
A quarta traz resultados imediatos para os capitalistas, mas contribui para a inflação.
A quinta contribui para aumentar as pressões pelo investimento em infraestruturas físicas (estradas, energia elétrica, comunicações, instalações físicas de empresas, maquinário e demais meios de produção etc.), sociais (serviços de saúde, educação, assistência e previdência sociais, moradia e quaisquer outros que contribuam para a reprodução social e biológica da força de trabalho) e administrativas (novas tecnologias produtivas, uso de matérias-primas mais aproveitáveis, redução nas taxas de desperdício, maior disciplina e fiscalização no processo de trabalho etc.). Este caminho de ação, entretanto, depende muito de fatores como o poder de pressão e de barganha dos setores interessados, as possibilidades de financiamento destes investimentos e o interesse de outros agentes econômicos (empresários, potenciais acionistas, bancos, gestores públicos, trabalhadores etc.) em realizá-los.
O “cenário ideal” buscado pelos economistas é aquele onde os ganhos salariais acompanhem os ganhos de produtividade (sendo incapazes, portanto, de criar uma inflação de demanda) e exista uma taxa de desemprego que não seja nem alta o suficiente para reduzir o ritmo da economia (ou seja, que não cause recessão), nem seja baixa o suficiente para causar os efeitos acima.
É preciso ver como os capitalistas brasileiros se comportaram durante a crise.
A tabela 1, retirada de um estudo do economista José Luís Oreiro (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade/UnB) compara a taxa Selic com a taxa de retorno sobre o capital próprio (return on equity – ROE) – falando grosseiramente, o ROE é um dos componentes do lucro – e demonstra como esta última apresentou uma nítida tendência de redução a partir de 2011, alcançando 4,3% a.a. em 2014, valor inferior à inflação observada, tornando-a assim negativa em termos reais – ou seja, os empresários estavam tendo retorno pelo seus investimentos, mas eles eram comidos pela inflação. Oreiro afirma no mesmo estudo como a redução ocorrida na taxa Selic – um dos componentes do custo do capital – não foi suficiente para compensar a redução da rentabilidade do capital próprio das empresas brasileiras.
Tabela 1: Evolução da taxa de retorno sobre o capital próprio e da taxa Selic 2010-2014
| ROE | Selic | |
| 2010 | 16,50% | 9,80% |
| 2011 | 12,50% | 11,70% |
| 2012 | 7,20% | 8,50% |
| 2013 | 7,00% | 8,20% |
| 2014 | 4,30% | 10,90% |
Fonte: OREIRO, José Luis. “A grande recessão brasileira: diagnóstico e uma agenda de política econômica”. Estudos Avançados, vol. 31, n.º 89, jan.-abr. 2017.
Adicionalmente, o economista Carlos A. Rocca demonstrou em outro estudo mais extenso como a tendência de queda no ROE verificada acima é apenas a aceleração de uma tendência de queda verificada desde 2005, pois lá o ROE era de 18,5%.
A isto se deve somar o alto endividamento empresarial nos anos anteriores à crise. Felipe Rezende, professor do Hobart and William Smith College, defendeu num artigo de agosto de 2016 no Valor Econômico, assim como num paper e numa apresentação da mesma época, que a economia brasileira passava desde 2007 por um momento em que os lucros retidos foram menores que os investimentos. Ou seja: empresários assumiram desde 2007 que o futuro era promissor para a economia brasileira, contraíram dívidas para investir em suas empresas e, por força de vários fatores – queda nos lucros, elevação da taxa de juros, desvalorização cambial etc. – viram cair a rentabilidade de seus investimentos. Não é à-toa que não deram certo as medidas econômicas aplicadas desde 2011 para incentivar o investimento empresarial, pois os empresários usariam qualquer folga em seu orçamento para recompor as margens de lucro decrescentes ao invés de investir. (Como o estudo tem como base dados do Banco Central e do IBGE, dificilmente se poderá dizer, como querem muito analistas, que o governo federal “não sabia” da espiral ascendente do endividamento empresarial antes de iniciar sua política de isenções fiscais, crédito subsidiado etc.) E de lá em diante o cenário só piorou:
- O anúncio da descoberta de indícios de petróleo na camada pré-sal em 2006 e o início da prospecção em 2008 afetaram positivamente setores consideráveis da economia brasileira e levaram empresários a contrair empréstimos para novos investimentos, como costuma acontecer quando da descoberta de campos gigantes de exploração petrolífera. Em 2014, entretanto, o início de uma inesperada tendência de queda nos preços internacionais do petróleo – causada pelo aumento na produção dos EUA por meio do fraturamento hidráulico, pelo aumento da produção no Iraque, do regresso do Irã ao mercado internacional depois de anos de embargo, pela estratégia saudita de manutenção de sua cota no mercado internacional por meio da redução na capacidade ociosa de seus poços, redução da demanda por petróleo na Europa e na Ásia etc. – afetou positivamente a importação de petróleo e derivados, mas afetou negativamente a margem de lucro da extração de petróleo no pré-sal e dificultou sua exploração a preços competitivos (ver aqui, aqui, aqui, aqui e aqui). Tal queda frustrou os planos da Petrobras, que assumira enorme endividamento entre 2011 e 2014 planejando reduzir o peso desta mesma dívida em 2015 com os resultados do pré-sal em cenário muito mais favorável, e de todas as outras empresas que também haviam apostado seja nos benefícios diretos e indiretos da exploração das bacias, seja num cenário de combustíveis mais baratos.
- Queda nos preços internacionais de commodities a partir de 2011, seguida por queda drástica nos mesmos preços entre 2014 e 2016 (ver aqui num gráfico), impactam toda a cadeia produtiva associada e pressionam a taxa de câmbio. Quando caem os preços internacionais de commodities – petróleo, minérios, café, soja, laranja, cacau, frango, carnes suína e bovina etc. – pode haver redução na produção destes bens, impactando negativamente todo o processo que vai da fazenda ao porto (trabalhadores agrícolas, caminhoneiros, químicos e petroquímicos, trabalhadores da indústria de insumos agrícolas etc.). Da mesma forma, como a produção de commodities na economia brasileira é via de regra voltada para exportação, uma redução no volume das exportações resulta em menos moeda estrangeira (dólar, euro, renmibi etc.) entrando na economia brasileira, o que pode depreciar o real se não forem tomadas medidas contrárias de modo adequado e no tempo certo.
- O jogo de apreciação e depreciação do real impactou negativamente a indústria brasileira. Durante a fase de expansão da exportação de commodities, o real valorizou-se e facilitou um aumento no fluxo de importações de matérias-primas e de bens manufaturados, mais baratos que os produzidos na economia brasileira. Se no primeiro caso a indústria sai beneficiada por matérias-primas adquiridas a custo mais baixo, no segundo caso a competição com bens de menor custo pode prejudicar a indústria se outros fatores não coadjuvarem num processo de aumento da produtividade. A via encontrada ainda em 2006-2007 e reforçada em 2011, a da redução nos custos de produção por meio de subsídios e renúncias fiscais voltados a setores específicos da economia (indústria automotiva, indústria de eletrodomésticos da “linha branca”, indústria química, produtos da cesta básica etc.), rebateu – como visto – em empresas endividadas, que pressionadas pelo custo das dívidas optaram por usar a folga orçamentária gerada pelos subsídios e renúncias para recompor as margens de lucro, e não para novos investimentos.
- Entre 2012 e 2017 o Nordeste foi vitimado pela mais longa seca da história, entre 2014 e 2017 o regime de chuvas no Sudoeste também foi extremamente reduzido, e no Centro-Oeste verifica-se no mesmo período significativa redução nas chuvas. A seca reduz a produção agropecuária – que já passara por reduções em 2012 e 2016 – afeta tanto a produção de commodities agropecuárias para exportação quanto a produção de alimentos para o mercado interno, aumentando seus preços finais. A seca afeta também o preço da energia elétrica, forçando a migração das hidroelétricas (mais baratas) para as termelétricas (mais caras) e forçando uma subida geral de preços.
- Erros de diagnóstico de analistas estatais e empresariais (p. ex., caráter “temporário” da queda no preço internacional das commodities; má avaliação do endividamento empresarial antes de iniciar uma política de crédito subsidiado e isenções fiscais; estimativa equivocada do “pibinho” em 2012 etc.) somaram-se ao quadro e levaram a decisões governamentais e empresariais que, em retrospecto, se mostraram desastrosas (investimentos empresariais pautados por projeções positivas de cenário que resultaram equivocadas; subsídios e isenções a empresas com alto endividamento; planos de investimentos da Petrobras gorado pelo cenário internacional; o malfadado “trem-bala” que ligaria Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas; padrão de gastos nos municípios e estados beneficiados por royalties etc.). Mas o que se pode criticar com muita facilidade depois do ocorrido muito dificilmente se poderia criticar ou antecipar antes do ocorrido. Por isto, ao contrário do que prega o senso comum dos economistas, as decisões dos empresários e de suas entidades representativas (como a FIESP, que pressionou o governo federal a adotar políticas desastrosas) tem tanta responsabilidade no desenvolvimento da crise que resultou na recessão de 2014-2017 quanto o próprio governo.
- Baixíssima propensão a reformas estruturais – política, tributária etc. – agravada pela crise política de 2014-2016, cujo traço mais visível foi o conflito ora aberto, ora velado entre representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
- A operação Lava-Jato causou severos impactos sobre o PIB brasileiro de 2015 em diante (ver aqui e aqui). Isto leva a duas intepretações: a de que se trataria de um ataque imperialista ao capitalismo brasileiro (ver aqui, aqui e aqui), e a de que se trataria de uma reforma no padrão de relações entre empresas e Estado no Brasil, que impacta negativamente o PIB no curto prazo mas pode gerar efeitos positivos e relevantes no médio e longo prazos (ver aqui, aqui e aqui). A evidência de outras operações “anticorrupção” e de reformas estruturais pelo mundo (ver aqui, aqui e aqui), quando comparada com o alarmismo da tese do “ataque imperialista”, dá mais razão à segunda hipótese (debate parecido já foi feito inclusive no Passa Palavra). Melhor fariam os anticapitalistas se, ao invés de confiar em teorias da conspiração, entendessem o sentido desta reforma, a quem ela beneficia e a quem ela prejudica, e a que custo em ambos os casos.
Se, na falta de outras soluções de curto prazo, a redução nas margens de lucro pode empurrar os capitalistas a fechar suas empresas, a situação até agora descrita deve ter tido algum impacto sobre as estatísticas de falências, recuperações judiciais e concordatas requeridas.
A falência diferencia-se da recuperação judicial e da concordata pelo fato de ser medida drástica, que implica na transformação da empresa numa massa falida de bens sob a gestão de um administrador indicado pela justiça; tanto a recuperação judicial quanto sua antecessora, a concordata, permitem não apenas que a empresa continue funcionando regularmente sob gestão compartilhada entre os capitalistas seus proprietários e os administradores judiciais.
No Brasil, a evolução de tais estatísticas entre 2003 e 2017 pode ser vista na tabela 2.
Tabela 2: evolução das falências, recuperações judiciais e concordatas requeridas no Brasil, 2003-2017
| Falências | Recuperações judiciais + Concordatas | Total | ||||
| Total | Variação | Total | Variação | Total | Variação | |
| 2003 | 20.671 | – | 270 | – | 20.941 | – |
| 2004 | 13.925 | -32,64% | 156 | -42,22% | 14.081 | -32,76% |
| 2005 | 9.548 | -31,43% | 193 | 23,72% | 9.741 | -30,82% |
| 2006 | 4.192 | -56,10% | 252 | 30,57% | 4.444 | -54,38% |
| 2007 | 2.721 | -35,09% | 269 | 6,75% | 2.990 | -32,72% |
| 2008 | 2.243 | -17,57% | 312 | 15,99% | 2.555 | -14,55% |
| 2009 | 2.371 | 2,09% | 670 | 114,74% | 3.041 | 19,02% |
| 2010 | 1.939 | -18,22% | 475 | -29,10% | 2.414 | -20,62% |
| 2011 | 1.737 | -10,42% | 515 | 8,42% | 2.252 | -6,71% |
| 2012 | 1.929 | 11,05% | 757 | 46,99% | 2.686 | 19,27% |
| 2013 | 1.758 | -8,86% | 874 | 15,46% | 2.632 | -2,01% |
| 2014 | 1.661 | -5,52% | 828 | -5,26% | 2.489 | -5,43% |
| 2015 | 1.783 | 7,34% | 1.287 | 55,43% | 3.070 | 23,34% |
| 2016 | 1.852 | 3,87% | 1.863 | 44,76% | 3.715 | 21,01% |
| 2017 | 1.708 | -7,78% | 1.420 | -23,78% | 3.128 | -15,80% |
Fonte: Elaboração própria, com dados do SERASA Experian.
Vê-se pela tabela 2 que embora o número de falências tenha passado por tendência de queda desde o início do período analisado, ele aumentou em 2009 (ano em que a crise global de 2007-2010 primeiro impactou a economia brasileira), 2012 e nos anos da recessão brasileira recente.
Vê-se também que o número de recuperações judiciais e concordatas aumenta progressivamente, como se demandas anteriormente resolvidas preferencialmente por meio de falências estivessem sendo resolvidas por meio destes instrumentos jurídicos; isto dificulta a distinção entre o que realmente se deve a esta migração para um novo instrumento e aquilo que é efeito de crise recessiva.
Por outro lado, a soma das falências, concordatas e recuperações judiciais permite um panorama mais bem delineado: em seguida a um ritmo contínuo de reduções entre 2003 e 2008 verifica-se aumento em 2009 (correspondendo, mais uma vez, aos impactos da crise global sobre a economia brasileira). A tendência de redução da quebra empresarial é retomada novamente, e em 2012 verifica-se novo aumento nas quebras. Em 2013 e 2014 as quebras diminuem, mas em ritmo fraco, para crescer violentamente em 2015 e 2016; embora nova queda no número de quebras tenha acontecido em 2017, o volume de quebras é, ainda, maior que o verificado no início da recessão, e está bem longe do volume mais baixo da série, verificado no annus mirabilis de 2010.
Capitalistas perguntam: que fazer?
Verificados a compressão das taxas de lucro e o aumento das quebras durante a recessão, era de se esperar que os capitalistas agissem. Não precisam de estatísticas para agir; movem-se de acordo com o que seu senso prático indica frente aos sinais mais evidentes no seu caixa ou em suas contas bancárias. E agiram.
Já se viu na terceira parte deste ensaio como desde outubro de 2014 os capitalistas no Brasil reduziram drasticamente o investimento em bens de produção (capital fixo), e também como aumentaram a ociosidade dos meios de produção.
O que se verá na parte seguinte deste ensaio é como os capitalistas fizeram – e fazem – para empurrar para os trabalhadores a conta da crise recessiva recente.

Este artigo é o quarto de uma série. Leia as demais partes clicando aqui.







