Por Miguel Serras Pereira
Se a revolução é democracia radical, república de conselhos ou assembleias igualitariamente abertas à participação de todos os cidadãos que não se autoexcluam, conspirando em vista de reservar a decisão política suprema a um grupo, classe, organização ou corpo profissional particular, então, o poder político revolucionário, e o mesmo se diga da sua instauração instituinte, não pode, sem dúvida, sob pena de assinar antecipadamente todas as capitulações, pôr de lado a força — em última análise armada — que garanta a cidadania governante, o exercício do poder pelos cidadãos organizados, contra acções que visem expropriá-los desse poder. Com efeito, só concebida e praticada como democracia radical, a revolução, ao contrário da substituição de governantes mais esclarecidos, mais “desinteressados”, mais “representativos do bem comum ou da classe explorada”, mais “meritórios” ou “competentes”, aos que anteriormente ocupavam os postos governamentais, é o movimento e o encadeamento das acções através das quais os membros de uma sociedade se tornam e ousam saber cidadãos governantes, detentores do poder político “legítimo” e do controle dos “meios de violência” correspondentes. Assim, do mesmo modo, no plano da actividade económica, a democratização das relações de poder, a que chamamos relações de produção, não visa a substituição dos proprietários ou companhias privadas pelo Estado e seus especialistas, técnicos ou capatazes de serviço, mas a sua gestão cooperativa e democrática pelo conjunto organizado dos interessados — o que requer a subordinação dos valores económicos e a destruição do primado da economia através do exercício político do poder por uma cidadania governante, que assim assegure a desmercantilização ou “deseconomização” correspondente da força de trabalho. A subordinação da economia radicalmente democratizada ao poder político do autogoverno dos cidadãos e a destruição do seu primado intervêm aqui como garantindo a liberdade de criação de novos valores, usos e costumes, na dimensão informal da existência colectiva, bem como nas condições da existência individual.
Entendida nestes termos, a democracia propõe a prática de uma razão dialógica como alternativa à violência. À violência regular da dominação hierárquica, a democracia substitui a palavra e o debate nas assembleias e órgãos de poder igualitariamente participado de cidadãos que sejam os seus próprios governantes. Mas a garantia última do poder político da liberdade dos cidadãos e do seu governo exige destes que sejam, de uma maneira ou de outra, “povo em armas”.
Eis um exemplo a que já achei útil recorrer em mais de um debate e que transponho livremente de Castoriadis: O filósofo discute com o sofista, e este diz-lhe que, se não pode vencê-lo pela argumentação, pode sempre matá-lo e calá-lo de vez. Que garantia pode pôr-nos a salvo de um sofista assim, que se esteja nas tintas para princípios, procedimentos, constituições e declarações universais? A única resposta é o exercício, em última análise violento e empreendido como luta de morte, da legítima defesa. Convém que os paladinos de valores tão estimáveis como “liberdade interior”, o “direito à diferença” e o “pluralismo” não o esqueçam quando os afirmam.
Ora, na mesma ordem de ideias, as decisões da cidadania governante terão de ser protegidas pela sua força armada, ou seja, pela acção de “serviços de ordem” ou “milícias” não-profissionais rotativamente assegurados, ainda que, quando necessário, com a assistência de técnicos e especialistas. Era o que Orwell, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha em vista ao sustentar que, depois do fim da guerra, as armas deviam continuar nas mãos e em casa dos trabalhadores, que, enquanto cidadãos tinham sido chamados a defender o país da ameaça nazi. Orwell não defendia por certo que, uma vez de armas na mão ou em casa, cada trabalhador pudesse usar as armas ou recorrer à violência para fins privados e segundo o seu arbítrio. A existência de restrições — desejavelmente severas — ao uso da violência não significa que a sua legitimidade seja monopólio de um corpo separado e profissional. A afirmação da autonomia democrática, a acção instituinte de uma livre sociedade de iguais, não pode declarar incondicionalmente ilegítimo o recurso à violência. Mas pode e deve opor-se ao seu culto. Pode e deve desmistificar o espírito sacerdotal nostálgico e hierático, antidemocrático e irracionalista, classista e contra-revolucionário, dos que se propõem medir pelo volume de sangue derramado o carácter revolucionário ou radical da luta e acção políticas. Podemos e devemos saber e dizer também que o combate pela autonomia, a luta que visa a destruição do poder capitalista, não é um carnaval, que, depois de inverter durante uns dias a ordem estabelecida, dá lugar a uma sua versão revigorada ou a uma reciclagem da dominação hierárquica. Os que estão interessados numa “revolução” que pratique e se possível refine os métodos e recursos da dominação na construção da “ordem nova”, ou que advogam um “socialismo” que faça tábua rasa das liberdades e direitos democráticos, desprezando-os como “superstições humanistas”, podem odiar o capitalismo e as oligarquias liberais, mas são tanto (pelo menos) como o primeiro e as segundas inimigos mortais da liberdade enquanto condição necessária de uma sociedade de iguais.


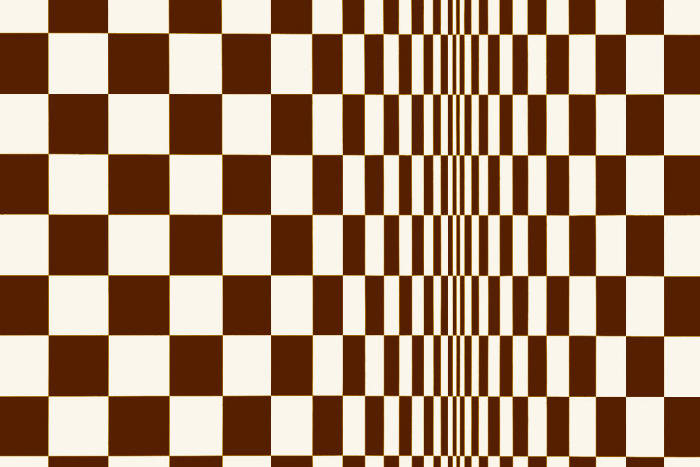
Miguel,
Castoriadis não precisaria de inventar nenhum sofista, porque já Hitler, em Mein Kampf, escreveu que «o espírito mais elevado pode ser eliminado quando o seu portador é derrubado por uma matraca», e um intelectual da extrema-direita muitíssimo mais sofisticado, Oswald Spengler, considerou, em A Decadência do Ocidente, que que «neste mundo uma boa paulada vale mais do que um bom raciocínio».
Porém, para «sustentar que, depois do fim da guerra, as armas deviam continuar nas mãos e em casa dos trabalhadores», George Orwell foi certamente influenciado pela guerra civil espanhola e, mais especialmente, pelos acontecimentos de Maio de 1937 em Barcelona. Mas depois da segunda guerra mundial, que dependera de devastadores bombardeamentos aéreos e do avanço de enormes colunas de blindados, como se operacionalizaria que cada um dispusesse dos seus próprios aviões e tanques de guerra? Ou hoje, com os sofisticadíssimos drones, deverá cada pessoa ter o seu?
A minha dúvida, porém, é mais genérica, pois esse tipo de argumentação parece-me idêntico ao usado nos Estado Unidos pelo maior dos lobbies, a National Rifle Association, um dos grandes apoios da extrema-direita. Também a NRA defende que a posse de armas é a garantia da liberdade do cidadão perante as intromissões do Estado.
Penso que a resposta às pauladas de Hitler, de Spengler e dos seus émulos contemporâneos deverá ser outra.
João Bernardo, de acordo. E já em Platão o “argumento” do Sofista é que, diga o outro o que disser, ele pode matá-lo e sair assim vencedor do confronto.
Quanto a Orwell, evoquei-o porque o sentido do que ele diz é que o poder dos trabalhadores — ou, diria eu, do exercício governante, entre iguais, dos cidadãos comuns — passa pelo controle dos meios de violência expropriados ao Estado. Que isso não passe necessariamente pela posse individual de armas e que, em todo o caso, a “espingarda em casa do trabalhador e do camponês”, que Orwell refere, não seja garantia suficiente, parece-me igualmente certo, mas talvez eu não tenha sido demasiado claro ao abordar a questão nos termos em que o fiz, e agradeço-te as observações que aqui formulas e que, também eu, subscrevo.
Caro Miguel,
Um dos problemas mais fundamentais para as Forças Armadas hoje é o de exercer um controle ideológico sobre as tropas. O objetivo é o de alienar completamente os militares dos anseios populares quando eles rumam para direções inconvenientes para as Forças Armadas, o Estado e as relações capitalistas de produção. E não se trata apenas de controle ideológico, mas também de controle físico, pois as Forças Armadas buscam conservar a todo custo a hierarquia e a disciplina militares. A educação doutrinária, assim, converge com a imposição violenta da obediência. Os trabalhadores nunca serão capazes de interferir na educação doutrinária prosseguida no interior dos quartéis e seria uma ilusão imaginar que a mera penetração ideológica nos quartéis faria com que as tropas se voltassem contra as classes dominantes. A única solução, portanto, é desenvolver relações de produção de novo tipo e generalizá-las ao máximo, massificá-las, regionalizá-las, nacionalizá-las, globalizá-las, para que o combate a essas relações por parte dos militares se confunda com o combate à própria sociedade, para que as tropas não tenham outra alternativa senão perceber o caráter antissocial da sua própria existência. A única solução é fazer das Forças Armadas uma instituição residual e antissocial em contradição com uma nova ordem que representa uma revitalização da sociedade e do próprio homem; aí sim, muito provavelmente veremos muitos militares voltando-se contra as classes dominantes. É minar a vontade de defender violentamente algo que não faz mais sentido, porque o sentido da sociedade mudou. Mas nada do que escrevi acima sugere que a luta será pacífica. Os trabalhadores terão sempre de recorrer necessariamente à violência, resistindo às violências às quais estão cotidianamente submetidos. A propósito, no Volume 2 de “Poder e Dinheiro”, João Bernardo, logo no início do livro, analisa a ação dos “Bacaudae”, grupos de camponeses e escravos que se sublevavam e expropriavam os latifundiários romanos, eram então vencidos militarmente, porém não socialmente, se dispersavam em guerrilhas e em formas de banditismo, para depois convergirem novamente em movimentos maciços, e assim por diante. E com isso as relações sociais do antigo Império Romano foram sendo progressivamente desagregadas. Não quero com isso sugerir que a classe trabalhadora deva iniciar sublevações nas cidades para dispersá-las depois em guerrilhas pelo campo, mas que levantes violentos eventualmente derrotados devem se fazer acompanhar por outras formas de resistência mais ou menos violentas e dispersas, de preferência no âmbito da produção econômica, para que tais resistências possam servir de veículo para as novas relações de produção até que novos movimentos de massa possam emergir. Quanto mais generalizadas forem as resistências, sempre acompanhadas do desenvolvimento e da prática de relações sociais anticapitalistas, vistas como uma alternativa viável e racional à sociedade capitalista, mais a própria sociedade confundir-se-á com tais novas relações.
Caro Fagner,
o seu comentário levanta várias questões interessantes e importantes que não posso discutir aqui como devido. Seja como for, parece-me que a objecção maior que se pode pôr à sua argumentação é da impossibilidade de “desenvolver relações de produção de novo tipo e generalizá-las ao máximo, massificá-las, regionalizá-las, nacionalizá-las, globalizá-las, para que o combate a essas relações por parte dos militares se confunda com o combate à própria sociedade, para que as tropas não tenham outra alternativa senão perceber o caráter antissocial da sua própria existência” sem uma simultânea transformação radical do poder político, que se traduza no seu exercício organizado e regular pelos cidadãos comuns, sendo que uma tal transformação implica quebrar o monopólio estatal dos meios de violência “legítima” e a sua substituição por novas formas de controle da — e, quando necessário, recurso à — força das armas.