Por Primo Jonas
Descemos as escadas sem as máscaras, risonhos ainda daquele breve mas afetuoso encontro. Esse friozinho que não esconde o que virá daqui um mês, mais ou menos, quando entramos na etapa dura do inverno argentino, já vinha invadindo as frestas dos abrigos, entrava nos sulcos da pele das mãos. Havíamos já recebido sua visita, fora nossa primeira visita da quarentena, foi nossa vez então de visitá-la, nossa vizinha companheira.
Tanto nesta vez quanto na última, para além de violar a quarentena, abraçar-nos uma vez dentro dos apartamentos (após lavar as mãos por 20 segundos) e dar boas risadas a pouca distância, compartilhamos o mate — ritual que já é abominado por algumas culturas em períodos sem pandemia alguma.
Pensei sobre isso no caminho de volta à casa. Pensei nas pessoas na rua, (quase) todas com máscaras, nas filas dos pequenos comércios do bairro. Nos casais e nas famílias que começam a sair juntas na rua (todos de máscara!), e nos critérios informais que as pessoas vão desenvolvendo para encarar este momento (mais cedo, enquanto eu trabalhava na casa de uns conhecidos com filhinhas pequenas, uma outra jovem mãe chegou com sua cria para uma visita. Certamente não serão as únicas pessoas preocupadas com a saúde mental e a sociabilidade de suas crianças).
Quando João Bernardo publicou um texto sobre a “auto-disciplina” no contexto da quarentena, aqui neste site, minha primeira reação foi desconfiar do termo, não sem apoio “bibliográfico” que me indicasse que a própria ideia de disciplina é social. Mas o texto era uma reflexão sobre os aspectos culturais e sociais específicos da população brasileira, ou era uma discussão dirigida às práticas militantes? Me parece que foi interpretado de ambas formas, segundo o leitor ou a leitora interessada.
Pois bem, não pisarei no fácil graveto de concatenar afirmações óbvias como que “as práticas militantes estão vinculadas com o substrato da cultura nacional” ou coisas do  tipo. Pois se de fato a disciplina de modo geral é formada como prática social, que cada qual a expresse em cada gesto de seu cotidiano nos revela o material necessário para pensar justamente como se dá essa vinculação.
tipo. Pois se de fato a disciplina de modo geral é formada como prática social, que cada qual a expresse em cada gesto de seu cotidiano nos revela o material necessário para pensar justamente como se dá essa vinculação.
Comecei a me formar politicamente em um ambiente crítico da famosa “esquerda autoritária” dos anos 70. Mais do que isso, sou filho de militantes universitários que inauguraram, à sua maneira, a tradição que veio a dar na atual “esquerda festiva”. Mas o salto é enorme, de não se conformar apenas com o samba e o violão acústico, fumar maconha e curtir o sexo, até as mais recentes cirandas e o narcisismo das redes sociais. Tudo se destruiu. Os partidos e a revolução já não tinham sentido. Não poder transar com as companheiras era um absurdo. Qualquer obstáculo para o prazer se transformou em algo a ser desconfiado, dado que a moda agora era transformar as manifestações de rua em grandes festas divertidas — como as enormes mobilizações feministas dos últimos anos aqui em Buenos Aires (regadas a glitter verde, diga-se de passagem). Assim, as manifestações de rua se transformavam em uma espécie de catarse onde tudo deveria ocorrer, onde a única autoridade era a polícia (e portanto o inimigo principal), e os laços entre os e as presentes era tão líquido quanto o que se formava em uma festa.
Quem não se lembra daquele amigo e daquela amiga despolitizada, que subitamente em 2013 foi às ruas, para nossa feliz surpresa! E quão estranho não foi quando deixaram de ir, com a mesma facilidade. Pouco antes de 2013, e pouco depois, não era estranho o fenômeno de correr da polícia para depois tomar uma cerveja em grupo a poucos quarteirões de onde estouravam as bombas, recebendo as notícias de quantos detidos, até onde tinha seguido a repressão, quando seria o próximo ato. Abraço e até a próxima.
Quando no começo deste ano de 2020, sendo o coronavirus ainda uma coisa exótica, estive no Brasil em uma atividade de discussão política com diversos companheiros e companheiras, escutei algo que ficou na minha cabeça, e que recentemente reverberou. Em uma roda de discussão sobre as jornadas de revolta popular no Equador, que já nem eram tão recentes àquela altura dos acontecimentos, fizeram uma fala a respeito do papel da CONAIE no apaziguamento da revolta, no momento em que aceitaram negociar pautas específicas com o governo de Lenin Moreno. A CONAIE — Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador —, é uma organização fundada em 1986 e que congrega uma grande parte das organizações indígenas do país. Se bem pode ser comparada a muitos dos movimentos sociais lationamericanos formados em períodos similares, e burocratizados mais tarde também mais ou menos na mesma época, vale lembrar que o fim dos anos 90 no Equador foi marcado por revoltas “populares e indígenas” que derrubaram mais de um presidente. Como se pode observar na revolta de 2019, são comunidades inteiras, das montanhas até as selvas, que respondem ao tipo de laço social comunitário e que estão em alguma medida organizadas politicamente pela Confederação.
A reflexão da fala ia no sentido de problematizar a “pauta concreta”, que servia de enlace entre os objetivos da organização “pelega” e o governo: ao oferecer uma demanda negociável, a organização social abria assim a possibilidade do governo de negociar e  eventualmente dar fim à revolta. Este seria o mecanismo de apaziguamento das revoltas sociais contemporâneas, inexistente em casos como o dos Coletes Amarelos na França e na revolta ocorrida no Chile também em 2019.
eventualmente dar fim à revolta. Este seria o mecanismo de apaziguamento das revoltas sociais contemporâneas, inexistente em casos como o dos Coletes Amarelos na França e na revolta ocorrida no Chile também em 2019.
O que me chamou a atenção foi quando fez-se uma comparação com o MPL no Brasil, que “aceitou” sair das ruas após conquistar o seu objetivo concreto: barrar o aumento da tarifa. Me surpreendeu que tal comparação pudesse ser feita. De que maneira poderiam ser vistas, em uma mesma situação, uma organização de comunidades indígenas, com uma trajetória de derrubada de presidentes, unificando muitas dezenas (ou centenas) de povos diferentes, com línguas diferentes, e uma organização de jovens com um número de militantes menor que os mais insignificantes partidos de esquerda, em um país das proporções do Brasil, com uma população mais de 10 vezes maior que o Equador? Que tipo de vínculo havia entre o MPL e aquela multidão que acatava suas convocatórias? Com que subjetividades, em cada um destes casos, iam às ruas as pessoas que enfrentavam, a seu modo, a polícia? Com que subjetividades, em cada um destes casos, se olhavam nos olhos e se reconheciam, aqueles que estavam nas ruas no Brasil em 2013 e no Equador em 2019? Esta última questão expõe inclusive as brigas violentas entre manifestantes brasileiros, enquanto no Equador eram preparadas refeições coletivas nas ruas para os e as desconhecidas que foram a Quito para protestar.
A questão da disciplina não nasce na pandemia, é claro. Mas adota outras tonalidades e revela novas nuances. Suspeito que a mesma atomização social que une os sujeitos em uma massa de revoltosos e que a desfaz com a mesma facilidade, é aquela que nos leva a pensar na disciplina como algo individual, uma moral abstrata construída à base de informações apreendidas nos meios de comunicação hegemônicos e nas opiniões pessoais prestigiosas das redes sociais. Uma tal condição, tanto objetiva quanto subjetiva, desacostuma as pessoas a pensar e atuar segundo critérios coletivos, e naturaliza as decisões de cunho pessoal. Nesta perspectiva, toda afronta a um pensamento individual é igualada a uma disciplina exterior e “capitalista” por um A+B de resquícios estruturalistas. É apenas em uma grande catarse destruidora desta disciplina que surgirá um potencial fim do capitalismo. Assim surge um marxismo apenas comparável ao anarquismo insurrecionalista, da pura negação.
Por sorte, a vida é cheia de afirmações. E de cuidados. E eu hoje fui caminhando pela calçada pensando se deveríamos compartilhar o mate ou não em nossas visitas semi-clandestinas. Pensei se nossa companheira está tendo contato com seus familiares, pensei também que na pequena rede de companheiros e companheiras que nos estamos visitando neste momento da quarentena argentina, se alguém fosse diagnosticado poderíamos rapidamente responder com um isolamento e informando a cada pessoa que tivemos contato recentemente para cuidar-se, fazer o teste se possível. Pensei nos critérios coletivos que serão adotados na medida em que a quarentena for se flexibilizando.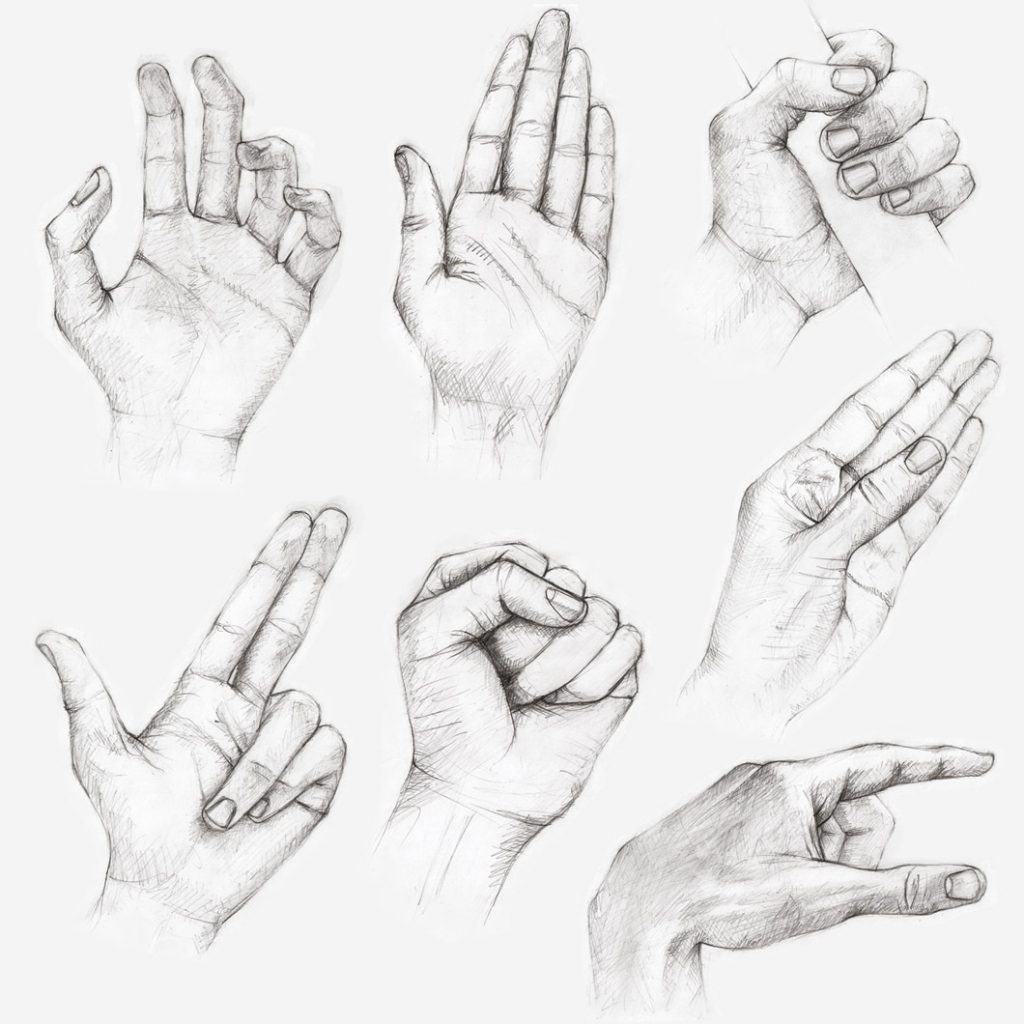
Para mim, a disciplina não nasce da necessidade do processo revolucionário, qual iluminação. Nasce do cuidado que temos entre nós, companheiros e companheiras, porque nos queremos bem, nos queremos fortes para todas as nossas lutas. Isso não nasce na quarentena. Se a classe trabalhadora é uma abstração que só ganha uma disforme e esquálida existência quando há violência (justa) nas ruas, então não conheço esta classe. Em que medida os integrantes desta classe se preocupam com o bem-estar dos demais integrantes? Não sei se nisso pensava João Bernardo quando escreveu aquele texto, mas acredito que a disciplina e a solidariedade vão de mãos muito juntas, especialmente em tempos de pandemia. E uma classe composta de indivíduos descordenados e indiferentes aos demais, nem deveria fazer revolução alguma.








Do exército ao care: estranhos caminhos da disciplina (sempre coletiva, como o processo de trabalho) no longo século XX. Mais uma volta no parafuso da dominação capitalista nas fábricas, nas ruas, nos home-offices.
Só faltou falar que, no dia seguinte ao acordo televisionado com o governo, muito disciplinadamente, a CONAIE convocou um grande mutirão cidadão para varrer das ruas de Quito qualquer vestígio das barricadas…
Texto muito bonito e muito necessário. Quanto ao comentário de Ing: me parece que ela confunde a direção da CONAIE com os laços comunitários de base mencionados por Primo Jonas. Costume estranho, esse, de confundir laço de pelego com governo, confundir decisão de patrão com reação de empregado, confundir as classes em ressentimento e confusão. Não dá em boa coisa isso não. E se as barricadas foram limpas é porque não eram necessárias naquele momento da luta, as pessoas não são automatos, poderiam até discordar da “pelegagem” da CONAIE mas a revolução não estava nem está no horizonte. Limpar a própria sujeira que se faz, ao invés de apenas deixar sobrecarga de trabalho para os companheiros garis e trabalhadores da limpeza urbana, não me parece uma traição tão grande assim do “princípio revolucionária”. Hoje, aliás, fizeram bem, pois esse lixo seria fonte de contaminação para a pandemia. Retrospectivamente foi uma boa decisão, apesar da estética literalmente “conservadora”.
De qualquer forma, a chave da disciplina como cuidado – e o cuidado faz com que se saía da chave do individualismo do #FiqueEmCasa para (se ficarmos em palavras de ordem): “Eles combinaram de nos matar, a gente combinou de ficar vivo”. Os vivos, juntos, contra os que querem nos matar. É uma boa saída para o desespero e o isolamento. Tamo junto.
O texto trás para o concreto a reflexão sobre os trabalhadores e a disciplina que constroem entre si. Não se trata de uma filigrama de discutir o termo, ou de pensar que todos os aspectos da sociedade são pertencentes ao capitalismo, e sim de construir relações sociais concretas entre nós.
ing talvez se esqueça que no capitalismo luta também é algo capitalizável e rentável. Da venda de apetrechos para o conflito contra a polícia, da mobilização sindical para melhorar acordos entre patrões e Estado, para acabar com o racismo nos supermercados, para alçar uma classe gestora ao poder, e uma enorme lista de etcéteras.
Do exército, ao care, passando pela luta. Está tudo manchado de capitalismo. Quem serão os puros a reivindicar seus métodos como únicos?
É natural que falemos em confusões nos comentários, pois o texto tem mesmo o tom de uma divagação entre um gole de mate e outro. É gostoso e interessante acompanhar as ligações que o autor vai traçando entre pensamentos e lembranças numa visita a amigos durante um dia frio da quarentena portenha. Normal que haja alguns “saltos” entre um assunto e outro, conexões ou paralelos que precisariam ser melhor trabalhados para não ficarem frágeis, mas entendo que, ao apresentar um texto com a forma de um fluxo de pensamento, o Jonas deixa claro que se trata de uma reflexão ainda sendo maturada, e é generoso o gesto de colocá-las ao debate. Mas talvez essas ideias em construção tenham se encontrado com um debate que já parece bem acirrado, um clima um pouco diferente do das rodas de mate.
Compartilhando o mate, ou passando a palavra, comento alguns pontos do texto:
– Nem o papel do MPL em 2013 no Brasil se compara ao da CONAIE no Equador em 2019 (se fosse pra fazer um paralelo nas bandas de cá, eu veria na CONAIE um MST ainda radicalizado), nem o movimento de junho de 2013 foi tão diferente assim do Chile ou da França. Os coletes amarelos também tiveram na taxa ecológica sobre o preço da gasolina seus 20 centavos, e aliás o preço da gasolina foi justamente o estopim do levante de outubro no Equador. No Chile, 30 pesos eram exatamente 20 centavos. A continuidade dos protestos de gente com coletes amarelos na França ao longo de 2020, descritas por um camarada de lá como “uma versão zumbi do movimento”, tampouco é estranha à experiência brasileira no ano 2013-14 que antecedeu à Copa do Mundo. O que parece estar no centro da questão, em todos esses casos, é o problema da reivindicação concreta, que serve simultaneamente de fator de expansão e limitação do movimento. Para o MPL, era preciso agarrar-se aos 20 centavos; para os camaradas do jornal Jaune, era preciso não estabelecer nenhum 20 centavos. Por lados diferentes, as duas respostas estão presas ao mesmo problema, e acredito que é por aí que precisamos analisar.
– Solidariedade ou comunidade? Numa edição especial da revista Nueva Sociedad, de 2014, li um balanço do Occupy nos EUA em que o autor criticava a política pré-figurativa do movimento e suas assembleias como uma obsessão por criar “comunidades”. Esse cara, Samuel Farber, opunha comunidade e solidariedade, distinguindo nessas palavras sentidos que que aparecem misturados na reflexão do Jonas. O Farber opõe inclusive o comunitarismo ao socialismo. O crescimento das grandes cidades tende a dissolver as comunidades (como as comunidades rurais indígenas que dão base à CONAIE, por exemplo), mas a resposta dos revolucionários não deve ser de buscar resgatar esses laços corroídos pela metrópole (com grau de artificialidade, como se vê na política pré-figurativa dos Occupys por exemplo). Tem algo de utópico e regressivo, no sentido de idealizar um passado perdido, que me soa vão e perigoso, nisso aí. Indo um pouco além do texto do Farber (que na real nem achei tão bom), diria que o comunismo só pode ser uma perspectiva materialista hoje se aceitarmos a possibilidade de criar um movimento igualitarizante e socializante a partir as condições do anonimato da metrópole e da internet, num cenário de atomização dos trabalhadores pela dispersão da produção pós-fordista.
– Nisso chego ao debate do último parágrafo, que sintetiza um tipo de conclusão. A condição de “indivíduos descoordenados e indiferentes aos demais” é justamente aquela na qual os trabalhadores se encontram quando não se constituem enquanto classe — que, no sentido político, só existe efetivamente quando está em movimento. Como constituir a classe, então? O último parágrafo aponta como resposta o “cuidado que temos entre nós, companheiros e companheiras, porque nos queremos bem, nos queremos fortes para todas as nossas lutas”, e vejo aí um eco daquele comunitarismo — que, num tempo de dissolução das comunidades, dependeria então de uma bondade e vontade de cuidar do próximo. Mas num mundo da competição extrema, que tipo de “iluminação” além da palavra de Jesus Cristo produziria fileiras de bondosos? O que me parece mais possível é apostar que uma tendência igualitarista surja de situações em que os trabalhadores, via de regra em competição e desigualdade no mercado de trabalho, em pé de igualdade. Tais situações só podem ser situações de luta, de conflito com o capital. Quando o Jonas critica a visão da classe trabalhadora como “uma abstração que só ganha uma disforme e esquálida existência quando há violência (justa) nas ruas”, dou-lhe razão, mas há algum vestígio de uma verdade no fundo dessa visão: a classe trabalhadora como uma abstração que só ganha existência quando há conflito (mas não necessariamente violento, nem necessariamente nas ruas).
Caio,
a fórmula não me parece má. Mas acho que existe todo um mundo que está entre parêntesis nela. Afinal, como é exatamente que as situações de luta e de conflito com o capital produzem igualitarismos? Pois na minha experiência, nos processos mais combativos o que vejo é a criação de grupos com fortes vínculos de companherismo. Saber que tuas costas estão cuidadas é o que te permite avançar sem olhar tanto para trás. O igualitarismo anônimo do capital produz mercadorias força de trabalho, todas substituíveis, números de série, etc. Já o igualitarismo dos e das companheiras cria assembleias onde todos e todas tem voz e voto, onde existe a vontade de escutar o outro e encontrar o que unifica ao invés de separar-se por pequenas divergências. O capitalismo também cria alienação e individualismo. Não creio que seja o caso de transformar nossos obstáculos em virtudes.
O que me leva ao segundo ponto. O vínculo de companherismo é uma relação de reciprocidade. Eu confio em você e quero o teu bem porque sei que você também está disposto a me ajudar, a me defender. Todos os pequenos manuais de organização em lugar de trabalho falam sobre a construção da confiança entre companheiros e companheiras antes de começar uma luta aberta contra a gestão, pois se não há confiança o militante aventureiro é abandonado aos leões rapidamente. E tem todo sentido do mundo. Que tipo de pessoa estranha sai por aí fazendo lutas a esmo, sem conhecer bem as pessoas ao redor, sem esperar nada em troca? Eu acho que uma pessoa assim só pode estar realizando algum tipo de caridade, pois o que importa aí não são as pessoas, mas sim um Fim maior e transcedental, o qual as pessoas ajudadas em geral ignoram (ou pior, servem de meio).
Enfim, não entendo a militância que menospreza o companherismo. Só posso pensar em maus exemplos, como nos aparelhos estalinistas que se consideravam agentes da história, e que por tanto cada indivíduo era facilmente substituído. Isso, claro, quando falamos dos grandes partidos históricos relevantes. Se tratando de pequenos grupúsculos contemporâneos, essa mentalidade ajuda a remover dissidentes e consolidar poderes personalistas, pois o cuidado e o respeito entre os supostamente iguais vai pra cucuia e o importante é impor a linha política correta, nem que para isso seja necessário atropelar discussões ou rebaixar o debate a um nível muito próximo das ofensas. Como poderia ser diferente?
Primo, note que não falei em “companheirismo” e, talvez por isso, seu parêntesis terminou desviando o fio da meada. Mas a fórmula do seu primeiro parágrafo tampouco me parece de todo má, nomeando como “companheirismo” esse vínculo que se cria em torno dos processos de luta. Todavia ressalto o que creio ser o elemento central no enunciado: a luta, o conflito de classe. Deixado de lado, pode soar que o comunismo surge de uma roda de mate entre amigos que se querem bem (o que não é, no fim das contas, muito diferente da perspectiva daquela esquerda festiva que menciona no artigo: a revolução como uma mudança de comportamento, mais do que a luta social). No mais, pessoalmente, prefiro convidar meus amigos para uma cerveja gelada do que para um mate. Sob o risco de voltar ao graveto do “substrato das culturas nacionais”, a preferência talvez ajude a entender os manifestantes que corriam das bombas no centro de São Paulo e encontravam abrigo em bares que abaixavam suas portas na passagem da polícia. Entre telefonemas e SMSs para saber se todos os conhecidos estavam bem, não faltava alguém para propor um brinde entre os companheiros que ali se encontravam e que, tantas vezes, sequer se conheciam. Sem bairrismo: se um dia te visitar em Buenos Aires, de cierto que me gustaría muchíssimo compartir un mate con vos.