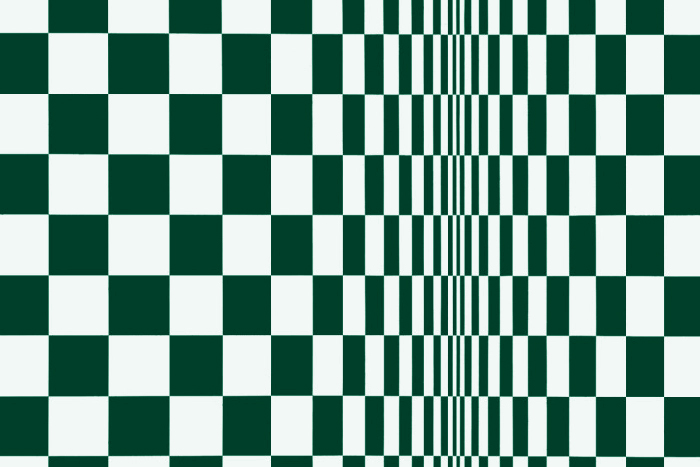Por Raquel Azevedo
Em uma conversa de que participei no final do ano passado, recebi uma daquelas perguntas para as quais qualquer resposta imediata é precária e que, por isso mesmo, ficam incomodando na cabeça depois, pedindo outras relações. O interlocutor queria saber em que medida a crise atual poderia ser comparada à situação da Alemanha na época de Kant e Hegel, ou seja, à situação de uma Alemanha ainda semifeudal diante da Revolução Francesa. Um dos problemas dessa comparação é que a crise é, para o pensamento iluminista, o cumprimento das críticas ao absolutismo, a própria realização da ideia de progresso, ou, dito de outra forma, o momento em que a separação entre moral e política (que é o espaço da crítica) se torna tão aguda que deve ser resolvida no próprio campo da política. Trocando em miúdos: Hegel é tomado por um sentimento ambíguo quando Napoleão invade Jena porque naquele momento ainda acreditava que o Código Civil napoleônico era a direção para a qual a história estava caminhando. A crise, nos termos iluministas, é justamente esse momento conflituoso em que o progresso se impõe. E não poderá se impor apenas através da crítica. Terá de fazê-lo no campo da política.
A nossa crise é diferente. Não há nenhum Código Civil para o qual estejamos marchando. Estamos muito mais próximos da tese de Chico de Oliveira de que a periferia não é um estágio de desenvolvimento, mas um lugar específico na divisão internacional do trabalho. O subdesenvolvimento não deveria ser analisado como um problema de etapismo, mas a partir das conformações sociais e políticas específicas que aqui surgem. Numa torção adicional do argumento de Chico de Oliveira, os ciclos de modernização não apenas convivem e se alimentam do atraso como a política dos países periféricos serviu de modelo de gestão para os países centrais na última década. Poderíamos dizer que se a nossa crise é também a resolução de um conflito no campo da política, não é exatamente o progresso que está cobrando suas notas promissórias, mas a convivência entre moderno e atrasado. Haveria muito o que falar sobre isso, mas vou dobrar outra esquina aqui.
Queria insistir um pouco mais na figura de Napoleão. A história militar parece ser um espaço privilegiado para especulações contrafactuais, especialmente quando as grandes campanhas estão associadas a uma figura histórica específica, de modo que as conjecturas possam se formar em torno das possíveis trajetórias daquele indivíduo singular. O primeiro exemplo de história alternativa na literatura ocidental remonta à breve digressão de Tito Lívio em seus escritos historiográficos a respeito de uma possível vitória do exército romano sobre as forças de Alexandre Magno no século IV a.C. As guerras napoleônicas se tornaram outra importante fonte de imaginação de mundos possíveis. Napoléon apocryphe, publicado por Louis Geoffroy em 1836, apresenta um mundo em que Napoleão triunfou por todo o globo. A história alternativa conta que as tropas francesas se livram das armadilhas do exército russo em Moscou e à tomada da Rússia se segue a construção do império global napoleônico. Geoffroy descreve as instituições do novo governo, as reformas políticas, as conquistas militares, as descobertas arqueológicas, os avanços da ciência e da arte, as transformações da imprensa. O livro termina com a morte de Napoleão, monarca mundial, em 1832.
Napoleão foi a primeira figura militar cuja carreira foi objeto de intensa cobertura da imprensa escrita. As tiragens dos jornais rapidamente se adaptaram ao ritmo da guerra e à demanda por notícias das batalhas. Apesar da figura hiperbólica de Napoleão (ou mesmo por causa dela), outra história alternativa chamada Historic doubts relative to Napoleon Buonaparte, publicada em 1819, especula que ele jamais existiu. Influenciado pelo pensamento de David Hume, o autor Richard Whately defendia que os relatos dos jornais não eram confiáveis e que a imagem de Napoleão seria explicada “de forma mais plausível através das motivações daqueles que inventaram seu registro histórico” [1]. A hipótese de que Napoleão jamais chegou a existir significa, assim, que o público havia acreditado numa falsa imagem do mundo que lhe havia sido vendida por aqueles que tinham algum interesse naquele engano [2]. E Whately vai além: a invenção seria obra dos ingleses e não dos franceses.
É interessante notar que a figura que condensa em si a ideia de progresso, mesmo que de forma ambivalente, seja tão importante para o gênero da distopia. Por outro lado, poderíamos nos perguntar por que não temos uma tradição nacional de distopias enquanto gênero próprio e delimitado, ainda que não seja raro encontrar exemplares isolados desse tipo de literatura nas obras dos escritores brasileiros mais conhecidos. Para essa pergunta, gosto da hipótese do Maikel da Silveira: esse gênero se desenvolveu por aqui na seção policial dos jornais. Ou seja, a contraparte do progresso tem o mesmo estatuto que ele, não está numa dimensão distinta – na ficção.
Notas
[1] CARVER, B. Alternate histories and nineteenth-century literature: untimely meditations in Britain, France, and America. Londres: Palgrave Macmillan, 2017. p. 34
[2] Em 1814, um boato acerca da morte de Napoleão foi utilizado como meio de especulação financeira na bolsa de valores de Londres. Os conspiradores esperavam que os títulos do governo aumentassem de preço assim que a notícia falsa se difundisse. O plano era vendê-los antes que o rumor se revelasse arranjado. No entanto, o grupo foi descoberto e processado. Entre eles estava o almirante Thomas Cochrane, que depois desse episódio teria um importante papel nos processos de independência do Chile e do Brasil.