Por Francesc e El Quico
Vivemos um tempo totalmente atravessado por conflitos, de ponta a ponta. Em nível mais espetacular uma democracia que se assemelha a uma Hidra enlouquecida, com suas cabeças (executivo, legislativo, judiciário) devorando-se mutuamente, num processo autofágico sob a batuta de Jair Bolsonaro. Já é lugar-comum o entendimento de que este conflito interno às instituições é o próprio motor do bolsonarismo, e o presidente se projeta como a própria encarnação da revolta da sociedade contra as instituições. “Revolta dentro da ordem”, como se diz, exatamente no sentido talvez de um sentimento anti-institucional hipostasiado [1]. A cada dia um novo inimigo — no Estado — é eleito: Toffoli, Maia, Dória… [*] Por que é assim? Lembremos que Junho de 2013 foi um levante de massas contra o Estado, em torno de uma pauta específica. A insurgência que apareceu nas ruas do país há sete anos, intimamente relacionada com conflitos mais ou menos invisíveis no cotidiano da exploração capitalista, foi sendo transfigurada progressivamente, e direcionada contra as instituições, que cumpriram, nesse sentido (e ironicamente) o papel que se espera delas, assimilando e amortecendo em seu interior as feridas abertas na sociedade, ainda que, neste caso, sob o alto custo de comprometer qualquer condição de governabilidade. Bolsonaro parece consumar este processo — a cólera contra a podridão institucional adentrou as próprias instituições, na figura do presidente. Ocorre, porém, que o sentimento “antissistêmico” contra o Estado no interior do próprio Estado não é e não pode ser mais aquela insurgência que emergiu nas ruas e no cotidiano da espoliação capitalista, em 2013.
Mesmo quando o bolsonarismo visa atingir adversários fora das representações políticas tradicionais, esse ataque ainda permanece subordinado à luta travada lá em cima: o alvo é a Rede Globo, por exemplo, aliada da “velha política” e do Supremo Tribunal Federal (STF), que atrapalha o governo. Nesse sentido, o limite de Bolsonaro talvez seja, justamente, sequestrar demais a indignação para o interior do Estado, convertendo-se em totem de rebeldia, de modo que sua base permanece mais ou menos amorfa, vidrada na figura do presidente, que trava a verdadeira batalha no interior das instituições (seus eleitores, aqui em baixo, trabalham como coadjuvantes, para que ele possa vencer lá em cima). Trata-se de uma relação completamente heterônoma com o líder carismático, o que talvez explique o aparente sonambulismo hipnótico de seus seguidores, que tanto impressiona. O perigo real começa com aquela providencial “perda de controle” das próprias bases, redirecionando o conflito do interior das instituições novamente para a sociedade, de modo que o bolsonarismo se dissocie suficientemente do próprio Bolsonaro. O perigo existe, mas neste momento o que se vê é o contrário: a “base” bolsonarista, além de reduzir-se numericamente nas ruas — num momento decisivo, em meio à pandemia, quando deveria finalmente “aparecer” — mostra-se cada vez mais dependente de comandos emanados da figura do presidente. Bolsonaro joga no campo das expectativas, mas pode precipitar-se sob pressão, impondo à sua base uma organicidade forçada.
É certo que Bolsonaro transmite uma autoconfiança como se tivesse um exército atrás de si, pois compreende talvez que não se trata mesmo de um conjunto de pessoas sempre disponível. No artigo de Manolo fala-se com precisão de uma base que “existe e não existe”, e, como sugeriu um leitor num dos comentários ao artigo, a definição lembra em parte a relação do MPL (Movimento Passe Livre), em 2013, com sua “base” que, por assim dizer, existia apenas no horizonte. Acreditava-se que, embora a base nunca tivesse existido — enumerada e etiquetada — poderia surgir na ação, aplicando-se a tática correta no momento certo. Algo deste cálculo pode existir, sim, no horizonte de Bolsonaro, mas há aí uma diferença fundamental, que tem a ver com outro apontamento contido no próprio artigo de Manolo: Bolsonaro não chegou ao poder após constituir uma militância minimamente orgânica — pelo contrário, ele utiliza a própria máquina do Estado para fabricar sua base, o que impõe uma dificuldade adicional para que se possa produzir aquela fundamental “perda de controle”, desencadeando uma espécie de “auto-movimento” de suas bases, sem a qual não há fascismo e — vale dizer — tampouco revolução.
Não se pode ignorar, claro, que a extrema-direita estreou antes da eleição de Bolsonaro, nas ruas, em atos massivos em defesa do impeachment. Contudo, é forçoso reconhecer que aquele poder de mobilização desarticulou-se razoavelmente, após a vitória eleitoral; quando a indignação contra a “corrupção” do regime adentrou as próprias instituições, encarnada na figura de Bolsonaro, ela estagnou. Assim, no segundo ano de governo, em meio a uma pandemia, a pergunta já não é tanto se Bolsonaro vai conseguir aumentar o poder real de mobilização da extrema-direita nas ruas, mas sim por que não conseguiu até agora?

O medo do conflito em nossas fileiras
Talvez um dos efeitos mais nefastos do bolsonarismo reside em seu poder de incidir no próprio espírito de uma parte considerável da esquerda, imobilizando sua capacidade de imaginar conflitos que não terminem por voltar-se contra ela mesma. Já está claro que uma das contradições centrais do atual governo consiste no fato de que ele depende do agravamento da crise institucional. O esforço é para que a conta da crise seja transferida para governadores e prefeitos, em conluio com o STF. Ora, frente a este cenário, como responde a esquerda? Tudo gira em torno da estratégia de desacelerar o desgaste institucional, trabalhando ativamente para “credibilizar” o regime que Bolsonaro implode. A ideia de que todas as mazelas resultam da “corrupção” e da podridão institucional é o Caim que só encontra razão de ser no assassinato permanente de seu irmão, o Abel ressuscitado toda vez que a esquerda afirma, pelo contrário, que qualquer mazela só pode ser combatida através do Estado [2]. Nunca o estatismo tolo da esquerda foi tão perigoso, porque a guerra institucional que mina a credibilidade do regime é o campo de batalha do inimigo, para onde a esquerda é reiteradamente atraída e derrotada. Trata-se de uma emboscada que o governo armou para a oposição, e tem funcionado. Quanto mais tempo se perde com sonhos estatistas, mais tempo se concede à Bolsonaro para que atravesse a turbulência atual e saia fortalecido, e o conflito, parcialmente retido nos limites das instituições será reaberto no seio da sociedade, encontrando uma esquerda que não sabe senão balbuciar e cacarejar legalismo, enquanto uma guerra social é preparada a todo vapor em suas costas.
Mas o medo do conflito, na esquerda, não é um medo qualquer. Está intimamente relacionado ao desconhecimento da própria forma do conflito social que se teme, à falta de referências que permitam concebê-lo minimamente. O sequestro do sentimento antissistêmico para o interior das instituições comprometeu ainda mais o entendimento de que nossas referências devem ser buscadas no terreno das relações reais de exploração. Ocorre que hoje não é fácil “encontrar” o proletariado, circunscrevê-lo minimamente na realidade, senão por meio de abordagens que estacionam no ponto de chegada, ou seja, na mera descrição dos resultados empíricos de processos amplos de desregulamentação — via plataformas digitais, automação, terceirização, informalidade etc. Isto porque a abordagem já está determinada, de saída, por uma imagem prévia e positiva de “trabalhador”. A tara pela imagem do proletariado é notável, por exemplo, na proliferação em redes sociais de fotografias heróicas de entregadores de aplicativo. Mas o conflito não está aí. Torna-se necessário voltar dois passos, e buscar as formas pelas quais o trabalhador impõe resistências silenciosas no interior deste processo de desintegração, talvez, do mundo do trabalho (ou recomposição). Ao desinteresse pelas formas concretas e silenciosas de resistência corresponde com frequência o hábito de se tomar a ideologia pelas relações materiais. Quando então abandona-se a imagem do “trabalhador precário” heróico em face do pobre indivíduo real com uma bag nas costas passa-se ao diagnóstico oposto, de uma subjetividade desagregada com propensões fascistas intrínsecas.
É por aí que se deve compreender a ressurreição periódica e intempestiva do “trabalho de base” e certas noções meio franciscanas de “solidariedade” e “autodisciplina”: não se trata do desejo de gerenciar uma massa de miseráveis, simplesmente. É algo ainda pior: a evocação do trabalho de base é um esforço de produzir uma base ali onde ela quase não existe mais. A defesa de “mais regulação” nas relações de trabalho esconde, muitas vezes, por trás do argumento de combate à precarização o medo de “perder de vista” um proletariado que, supostamente, sempre esteve ali, ao alcance dos olhos. Em meio a uma pandemia, então, com mais de 130 mil mortos [**], a dinâmica atual das relações de trabalho aparece em todo o seu absurdo e assusta — a lógica da “viração”, por exemplo, se intensifica com a desaceleração da economia em meio ao caos pandêmico. Justamente por isso essa dinâmica torna-se prenhe de conflitos. O mundo do trabalho apresenta-se como intensa guerra de movimento, mas a esquerda não abre mão de suas trincheiras, seu “trabalho de formiga” aqui e ali, por mais vulnerável que fique no campo de batalha. É o que ajuda a explicar também o imobilismo dos movimentos sociais, na medida em que as mudanças profundas no mundo do trabalho tornam suas bases virtualmente extintas, por mais que ali estejam, numericamente. É todo esse estado de coisas, já conhecido de alguns, que a pandemia leva ao paroxismo.
Se a “base”, entendida como um conjunto de trabalhadores em relações mais ou menos estáveis constitui o “chão” no qual o militante pisa, é forçoso concluir que o terreno, hoje, é movediço. Quando motoristas de aplicativo se juntam, para obstruir o trânsito de uma grande via (agora também a saída de pedidos num shopping center), exigindo aumento no valor dos fretes, como um raio em céu azul ali se constitui uma espécie de “base”, que se dissolve tão logo a ação declina. E, obviamente, uma “base” que só existe num processo de enfrentamento não está disponível para ser gerenciada, é uma “anti-base”. Ainda não somos capazes de compreender suficientemente o sentido de urgência que permeia a subjetividade de um proletariado que trava uma luta de vida ou morte pela sobrevivência. E novamente, aqui, a superação deste limite passa pelo conhecimento detido e sistemático do repertório de resistências que este proletariado impõe à desagregação social que o envolve no cotidiano de exploração, pois a subjetividade que emerge nas ruas de Hong Kong, através dos gilets jaunes, na França, nas ruas do Chile e de Minnesota etc. não pode ser compreendida sem desviarmos os olhos da chama reluzente de carros incendiados para as relações de exploração cotidianas, invisíveis, onde a mesma subjetividade é gestada. A própria explosão de revolta nas ruas dos Estados Unidos no último ano foi antecipada por greves e lutas importantes no terreno das relações de trabalho [3]. Assim, no cotidiano da reprodução social elementar, meios tradicionais de associação parecem perder relevância, sem que nada os substitua, dando lugar a formas avançadas de dessocialização, combinadas e combatidas com táticas silenciosas e fragmentadas de resistência, que, aqui e acolá, engolfam de modo selvagem.
Imaginemos que a irrupção do enfrentamento nas relações de trabalho, em diferentes escalas, não é apenas um mecanismo reparador, destinado a compensar perdas salariais, por exemplo, por mais que as “pautas” ainda sejam centrais, obviamente; a ideia de que os conflitos, quando irrompem, exercem uma função meramente reguladora e reequilibrante das relações de trabalho pressupõe um horizonte de “conquistas” a serem acumuladas, numa perspectiva mais ampla de integração progressiva que, no entanto, qualquer trabalhador hoje sabe que é pura ilusão. Em muitos casos o conflito irrompe como um meio de frear a total desagregação. Motoristas de aplicativo impõem resistência à crescente atomização do serviço solitário que realizam quando, por exemplo, mantêm entre si redes de contato, por meio de grupos de WhatsApp, onde se produz precariamente uma “auto-imagem” coletiva. Tais grupos, inclusive, muitas vezes reúnem motoristas de diferentes estados, de modo que os trabalhadores nem se conhecem — ali estão… Despersonalizados, como se diz, reduzidos à condição comum de “entregador da Rappi”, o proletário “puro”, talvez, se é o que se procura. Os grupos de WhatsApp servem também, claro, para contornar coletivamente a ausência de condições mínimas de trabalho, mas quando, então, esses mesmos motoristas aparecem numa ação coletiva, reivindicando aumento no valor pago por entrega ou incorporando-se a uma multidão maior insurgente, aquela auto-organização cotidiana precária de grupo é então mobilizada e refuncionalizada. No entanto, tais mecanismos forjados no cotidiano massacrante para fazer frente à pressão dessocializadora constituem também, muitas vezes, meios de produzir mais engajamento no trabalho. Páginas de trabalho que proliferam no Facebook, intituladas “frentistas da depressão”, “trabalhadores de telemarketing da depressão”, “estoquistas da depressão” etc. veiculam simultaneamente memes irônicos sobre a rotina absurda de trabalho com conteúdos motivacionais para produzir ainda mais engajamento neste mesmo absurdo. Não se pode mais conspirar tranquilamente no tempo livre, se é que algum dia isto foi possível. Essa dualidade dos instrumentos de resistência coletiva produz o inconveniente de que eles não aparecem como tais, pois estamos longe, aqui, de um repertório de métodos de luta que um dia se colecionou no meio sindical e que apareciam aos próprios olhos dos trabalhadores como meios de luta exatamente, e também instrumentos constitutivos de uma auto-imagem coletiva.
Seria incorreto, portanto, afirmar que não há trânsito ou qualquer continuidade entre os momentos de conflito aberto — localizados ou nas ruas, em insurgências massivas — e a “normalidade”, quando o enfrentamento torna-se novamente invisível, subterrâneo. É que a fronteira entre formas de associação voltadas para a luta coletiva e aquelas destinadas a engajar ainda mais o trabalhador na exploração se esfumaçou. Decorre daí, talvez, o modo pelo qual revoltas como aquela dos gilets jaunes na França escalam imediatamente, assumindo sem qualquer mediação formas insurrecionais (sem antes e depois). Isto pode ajudar a explicar a longevidade impressionante dos protestos de rua recentes no Chile, por exemplo. A perspectiva de interromper o conflito aberto e retornar à normalidade depende diretamente da possibilidade de recolher algum “saldo” da experiência, sobretudo organizativo. Isto está fora de cogitação porque a normalidade, hoje, aparece como o negativo absoluto da insurreição, e esta “não pode deixar nada de exterior a si própria” (Debord) [4].
Concluindo
Neste instante, em que nós somos o epicentro da Covid-19 e não há qualquer ação coordenada e racional por parte dos governos, a dessocialização predominante nas relações de trabalho revela-se insuportável aos olhos de muitos, produzindo o desejo de conservar vínculos de solidariedade, por menores que sejam, externos à conflituosidade própria das relações de exploração, na medida em que estas últimas aparecem em toda a sua destrutividade, patente no fato de que as pessoas, afinal, continuam circulando e se contaminando porque precisam trabalhar. A pandemia funciona como um choque de realidade, no sentido de revelar o quanto a esquerda, de modo geral, se mantém externa ao mundo do trabalho contemporâneo. Não é outra coisa que explica a mistificação aqui e acolá de certas noções esquemáticas, como a ideia de uma “auto-disciplina” geral do proletariado que se confunde com uma estranha “dualidade de poder” — estranha, pois atingida num passe de mágica, “saltando” por cima da luta contra os capitalistas no terreno imediato das relações de exploração, atingindo diretamente uma situação de organização da quarentena de baixo pra cima. A verdade simples de que os trabalhadores não estão em condição de se organizar enquanto classe imediatamente para se proteger da contaminação e da morte é insuportável, de modo que um dado elementar da realidade é simplesmente abolido. Se a hipótese desenvolvida neste texto estiver correta, é inevitável concluir que o proletariado, hoje, em larga medida, não dispõe de modelos de associação — de moradores, sindicais etc. — a que possa recorrer para se opor de forma significativa à barbárie resultante do aumento do contágio do vírus. A solidariedade real só pode existir como um lampejo no interior do conflito aberto. Que o mínimo de coesão social depende da manutenção do conflito é algo que se aprende observando o próprio funcionamento do bolsonarismo, como já dito acima. A coesão mínima do bolsonarismo depende diretamente do conflito que Bolsonaro trava no interior das instituições; depende demais, inclusive. O conflito que procuramos é de outra natureza, mas nem por isto menos essencial à nossa sobrevivência política.
Notas
[1] Com algumas diferenças importantes, em artigo muito interessante Manolo desenvolveu noção análoga — que li após ter escrito estas linhas —, chamando o modus operandi do governo Bolsonaro de “fascismo acuado”. A imagem de um governo acuado e impedido de governar por forças inimigas no interior do próprio Estado seria mais do que simples delírio persecutório de Bolsonaro, como sugerem alguns, assinalando uma diferença justamente naquilo que se entende por “governar”. Teria alguns reparos a fazer a esta noção, que talvez fique claro no decorrer do texto que segue; em todo caso, creio que a formulação de Manolo avança justamente no sentido de não contentar-se com a simples afirmação de que o bolsonarismo sequestra a revolta difusa da sociedade brasileira, esforçando-se também por delinear melhor as formas específicas pelas quais se opera este sequestro.
[2] Segundo Lula, “Monstro do coronavírus veio para demonstrar a necessidade do Estado”.
[3] Fever Struggle, Wildcat strikes sweep across the United States.
[4] Em artigo curto, porém preciso, intitulado “O enigma chileno (e o nosso)”, Silvio Pedrosa formulou o enigma do seguinte modo: “… quando olhamos para as semelhanças entre o Brasil de 2013 e o Chile de 2019 isso me parece claro. Por que agora? Por que em junho? E sem uma análise das subjetividades sociais do Chile contemporâneo, seu outubro me parece tão ininteligível quanto nosso junho. Pois lá, como aqui, as imagens são de uma multidão que se levanta sem muitas mediações (as bandeiras são mapuches ou em sua maioria do próprio país)”. Silvio propõe esta análise das “subjetividades sociais” no Chile e no Brasil para além de uma análise fria das contradições econômicas, já que estas últimas, sozinhas, não explicariam porque a revolta eclodiu naquele momento e nem as formas específicas que assumiu. A mediação da subjetividade social me parece realmente central, embora o artigo de Silvio não forneça qualquer indicação de como proceder a esta análise. Sustento que a subjetividade social que emergiu em Junho no Brasil e em Outubro no Chile só pode ser compreendida se procurada no interior das relações contemporâneas de trabalho, mais especificamente nos mecanismos de resistência e enfrentamento silenciosos que os trabalhadores desenvolvem no terreno das relações de exploração.
[*] Nota do Passa Palavra: a referência é a Dias Toffoli, ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia, deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, e João Dória, atual governador do estado de São Paulo.
[**] Nota do Passa Palavra: o dado oferecido no texto refere-se à contagem de quando o texto foi escrito. No momento em que publicamos já são mais de 255 mil mortes por Covid-19 no Brasil segundo informações do Ministério da Saúde.
O autor da fotografia de destaque é Oleg Gekman. A outra fotografia pertence a Nadya.



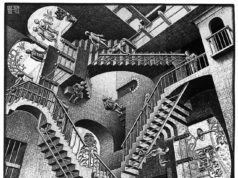




A esquerda não está alheia aos conflitos. Ela apenas está os buscando em outro lugar. Não mais no mundo do trabalho, e sim no BBB.
O titulo poderia ser; Notas em defesa da revolta popular.
Outro título muito bom poderia ser: Revolta popular, a tática do limite
O Conselho Editorial aprovou 4 notas de repúdio, além disso, após mais uma vakinha no Catarse, está exultante com o potencial libertário da nova aquisição da Editora, novíssima e anarquista Ricota DX-2330, com a qual se espera arduamente o fortalecimento dos libertárilos em todo território ocupado pelo Estado Brasileiro.
Após passar de 16.000 seguidores no Twiter, O Professor espera dar um basta na extrema direita, irá duplicar suas postagens, exceto quando houver jogo do Palmeiras.
Pedalante, O Homem que Copia, segue distribuindo zines e dicas virtuais sobre como não morrer este ano atropelado.
Mais uma preta morre, em seu velório apenas o funcionário do cemitério com o ofício com timbre do serviço social.
A hashtag do momento é #genocida , a despeito das ruas vazias, a luta continua.
A centralidade do conflito parece ser, nada mais, nada menos, que a centralidade da tática abordada em um antigo artigo nesse site:
“O almejado “centro da classe”, então, tem que ser seduzido, só isso. Para o flerte dar certo, as organizações precisam ensaiar táticas efetivas, faíscas em busca do gás incendiário da rebeldia popular. Além disso, vejam, o capital é uma totalidade, não basta produzir, é preciso realizar o valor. O espaço de produção não é então o único lugar com potencialidade de ruptura das bases que sustentam o sistema. Qualquer interrupção na distribuição das mercadorias já coloca o sistema em crise e traz a sombra do colapso. O essencial é que a treta se espalhe, sem primazia de um “sujeito” que seja em si mesmo mais ou menos revolucionário devido a sua colocação na estrutura produtiva.”
https://passapalavra.info/2016/01/107453/
Aos autores eu pediria que enunciassem os pretensos interlocutores, com que teses e práticas estão debatendo exatamente, que localizassem as posições mencionadas a não ser que pretendam apenas um diálogo interno a algum grupo próximo desse site.