Por Jan Cenek
Entre 1967 e 1968, com quase 70 anos e praticamente cego, o escritor argentino Jorge Luis Borges proferiu palestras sobre literatura em Harvard. Posteriormente, as palestras foram transcritas e reunidas no livro Esse ofício do verso. São textos saborosos. A memória e a erudição de Borges impressionam. Ele cita e comenta textos e versos de cabeça. Coloca-se mais como leitor do que escritor. Deixa a impressão de que poucos leram tanto quanto ele. Discute tradução, metáforas, música das palavras. Diz que os poetas deveriam ser anônimos, porque ele próprio às vezes descobria que estava apenas citando, involuntariamente, em seus escritos, palavras lidas em outros autores. Confessa ter enganado amigos atribuindo metáforas a antigos persas e nórdicos, porque ninguém as aceitaria e diria que eram um “primor” se soubesse que tinham sido elaboradas por um “reles contemporâneo”. Questão interessante e polêmica é concepção de Borges sobre o romance. Ele afirma que foi principalmente por preguiça que nunca escreveu um romance, mas não só. Diz nunca ter lido um romance sem sentir “certo fastio”, o que teria a ver com o “recheio” das obras. Para Borges, bons contos – por exemplo, de Henry James e Rudyard Kipling – são tão complexos e mais prazerosos do que longos romances. Para o escritor argentino, o romance estava em declínio e tendia a desaparecer, apesar dos experimentos interessantes como o deslocamento temporal e a possibilidade da história ser contada por personagens diferentes. Borges se coloca a favor da épica, não somente por uma suposta superioridade do verso sobre a prosa, mas porque no futuro contar uma história se reencontraria com o canto, reabilitando os poetas. Borges se incomodava porque nos romances prevalece a “aniquilação de um homem” e a “degradação do caráter”, enquanto na épica os heróis eram exemplos para os demais.
Marx não escreveu especificamente sobre estética, mas em vários textos registrou ideias que permitem pensar a arte a partir do materialismo histórico. Ao tomar contato com o argumento de Borges, segundo o qual o contar uma história se reencontraria com o canto, reabilitando a épica, lembrei de alguns trechos em que Marx diz mais ou menos o contrário. Estão na Contribuição à crítica da Economia Política. Marx pergunta se Aquiles é compatível com a pólvora, se as musas não desaparecem diante da régua do tipógrafo, assim como haviam desaparecido as condições necessárias para a poesia épica. Mais à frente, no mesmo texto, afirma que a dificuldade não está em relacionar a arte ao desenvolvimento social, questão mais difícil é pensar por que obras antigas proporcionam prazer estético, além de conterem, sob certos aspectos, o valor de normas e modelos inalcançáveis (penso, por exemplo, em Borges atribuindo metáforas a antigos persas e nórdicos, porque ninguém as aceitaria se soubesse que tinham sido elaboradas por um “reles contemporâneo”). Marx prossegue citando os gregos: “Por que a infância histórica da humanidade, ali onde alcançou o seu mais belo florescimento, numa etapa de desenvolvimento para sempre encerrada, não haveria de exercer um eterno fascínio?” O encanto da arte grega não estaria em contradição com o débil desenvolvimento da sociedade em que floresceu, era, antes, o produto de condições sociais “insuficientemente maduras”, que não retornariam e que eram as únicas que poderiam ter gerado aquele encantamento.
Voltemos ao romance. Iniciemos com uma definição. Milan Kundera [1] entende o romance como “a grande forma de prosa em que o autor, através dos egos experimentais (personagens), examina até o fim alguns grandes temas da existência.” Borges afirma que o “recheio” dos romances causava-lhe “certo fastio”. A questão é que bons romances não precisam ser recheados, antes pelo contrário. Sabe-se, com Juan Rulfo e Graciliano Ramos, que escrever, inclusive e talvez principalmente no caso dos romances, tem muito mais a ver com cortar e enxugar do que com rechear. Rulfo [2]: “No começo, você deve escrever levado pelo vento, até sentir que está voando. A partir daí, o ritmo e a atmosfera se desenham sozinhos. É só seguir o voo. Quando você achar que chegou aonde queria chegar é que começa o verdadeiro trabalho: cortar, cortar muito.” Graciliano [3]: “Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa.” Se é assim, bons romances formam uma totalidade orgânica, inseparável e irredutível, que prescinde de recheios.
Pensando em Madame Bovary, parece-me que a potência estética pode estar justamente no que algum desavisado [4] talvez chamasse de “recheio” do romance, mas que é inseparável do texto. Histórias sobre adultérios são comuns. Mas em Madame Bovary são misturadas “imagens voluptuosas a elementos sagrados”, produzindo uma espécie de “poesia do adultério” – as palavras entre aspas são do promotor que levou Flaubert para o banco dos réus por ter escrito o romance [5]. Há uma passagem saborosa com a tal “poesia do adultério”, que enfurece os moralistas, é quando Emma Bovary se encontra com o amante numa igreja:
“León, a passos lentos, caminhava rente à parede. Nunca a vida lhe parecera tão boa. Ela chegaria dentro de pouco tempo, adorável, agitada, espiando atrás de si os olhares que a seguiam – e com seu vestido de folhos, seu lornhão dourado, suas botinas finas, com toda a elegância que ele ainda não saboreava e com a inefável sedução da virtude que sucumbe. A igreja, como uma gigantesca alcova, disporia-se em torno dela; as abóbodas inclinariam-se para recolher na sombra a confissão de seu amor; os vitrais resplandeceriam para iluminar seu rosto e os incensórios queimariam para que ela aparecesse como um anjo, no vapor dos perfumes.”
A acusação formal contra Flaubert atesta a força do romance. Fazer dois amantes se encontrarem numa igreja, como se fosse uma alcova preparada especialmente para o casal… Falar da “inefável sedução da virtude que sucumbe” dentro de uma igreja… Seria possível ir tão longe em um conto ou em um poema? Que outra arte, senão o romance, permitiria uma provocação tão iconoclasta? Intimado pelo tribunal a dizer em quem se baseou para criar a grande adúltera, Flaubert respondeu “Emma Bovary sou eu”. Em certo sentido, era mesmo, frequentaram os mesmos ambientes, leram os mesmos livros, sentiram o mesmo tédio, que, diga-se de passagem, o escritor propositalmente faz o leitor experimentar ao passar pelo que algum desavisado talvez definisse como o “recheio” do romance.
Se o tempo presente é de homens partidos, como escreveu Drummond, é difícil imaginar que contar e cantar uma história possam se reconciliar, como quer Borges. A “aniquilação de um homem” e a “degradação do caráter”, que incomodam o escritor argentino, não estão no romance, estão na realidade, que enlouqueceu Dom Quixote, aniquilou Anna Karenina, metamorfoseou Gregor Samsa [6].
Enquanto existir capitalismo, entendido como um modo de produção que desenvolve as forças produtivas da sociedade contrapondo-as aos indivíduos, o romance seguirá existindo como campo privilegiado de expressão, como possibilidade de recriar a vida e a sociedade. Haverá sempre alguém disposto a explorar algum aspecto da existência e, para isso, o romance é a ferramenta mais apropriada, inclusive porque nele é possível integrar a poesia, a filosofia e outros saberes. Não há arte melhor equipada para captar o estranhamento produzido pela separação dos produtores em relação aos meios de produção. Ou, como nos termos de Milan Kundera [7]: “na época da divisão excessiva do trabalho, da especialização desenfreada, o romance é um dos últimos lugares onde o homem ainda pode guardar relações com a vida em seu conjunto.” Se é assim, não é coincidência o romance ter se desenvolvido paralelamente ao capitalismo: enquanto este promove uma intensa divisão do trabalho e dos saberes, aquele resiste quase como uma última trincheira.
Vou mais além e fecho com uma intuição. Mesmo a possível superação do capitalismo não significa necessariamente a superação do romance, entendida como reencontro do contar com o canto, reabilitação dos poetas ou como queiram chamar e definir. Consigo imaginar a superação do capitalismo. Tenho dificuldade para imaginar a superação do romance.
Notas
[1] A definição citada está no livro A arte do romance, no ensaio Sessenta e três palavras.
[2] A citação de Juan Rulfo está na nota do tradutor, Eric Nepomuceno, numa edição de bolso (BestBolso) do romance Pedro Páramo.
[3] A comparação da escrita com o ofício das lavadeiras de Alagoas foi feita por Graciliano Ramos numa entrevista concedida em 1948.
[4] Não sei se Borges iria tão longe a ponto de criticar o “recheio” de Madame Bovary. Sendo assim, o “desavisado” não se refere ao escritor argentino.
[5] Boas sacadas sobre a escrita de Flaubert, como a que reproduzi, estão no livro A orgia perpétua, de Mario Vargas Llosa. Sobre a grande adúltera, relida depois de ler Llosa, escrevi Emma Bovary: a condenação perpétua.
[6] Para uma leitura sobre a relação trabalho e saúde em A metamorfose, de Franz Kafka, ver Gregor Samsa: insegurança e adoecimento de um trabalhador.
[7] O trecho citado está no livro A arte do romance, no ensaio Anotações inspiradas por Os sonâmbulos


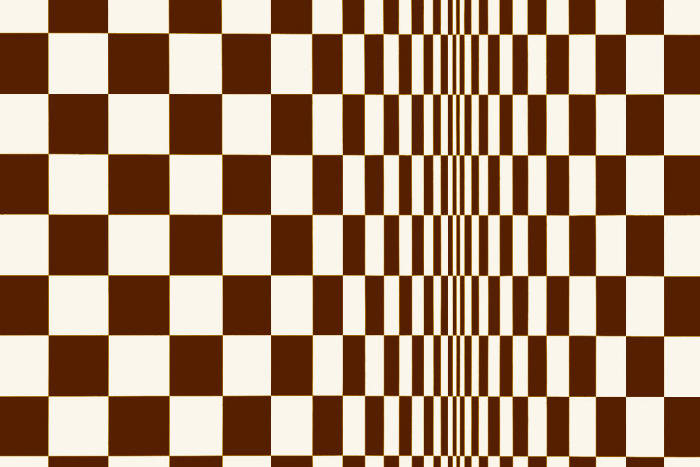
São sempre muito gostosas essas reflexões sobre o Romance, Jan Cenek. Forma lliterária consolidada que tem seu momento histórico próprio, penso que o Romance deve permanecer como memória e testemunho do tempo. Mas, desaparecido o capitalismo, acredito que, mais que memória e testemunho do tempo em museus do futuro, o Romance seja praticado ainda com propriedade como lugar de um novo tempo, então sem a velocidade das metas de produtividade que só não ultrapassa a brevidade do conto, a despeito do gigantismo de Borges e outros mestres (é bom levar em conta as idiossincrasias de Borges, que durante muito tempo rejeitou Cervantes e seu Dom Quixote sem um bom argumento). Os cortes e enxugamentos de Rulfo e Graciliano são como o cinzel que talha o mármore no trabalho lento do escultor, e não abreviação ou encurtamento da linguagem romanesca. Milan Kundera, em “A lentidão”, citando o romancista Vivant Denon, descreve a produção da memória como o florescer de um tempo que corre devagar na obra do setecentista. Superada a forma capitalista e suas metas de produtividade, o homem pode recuperar algo que perdeu e que ficou como um “negativo” no balanço das perdas e ganhos, como o que ficou como essa doce memória da infância dos princípios da civilização citada por Marx. Se isso vai de encontro às esperanças de Borges quanto à recuperação da forma épica, é algo muito mais específico e, portanto, muito mais difícil dizer.
De essência empírico-analítica, filho do seculo XX, o romance kunderiano me parece ser a forma romanesca adequada ao espírito do tempo. Ainda que o tempo mude, o Romance é um camaleão.
Adriano, obrigado pelo comentário. Também gosto bastante de reflexões sobre o romance.
Depois do envio da coluna acima li um livro interessante, Sonhos da periferia. O autor, Sergio Miceli, compara a intelectualidade argentina à brasileira nas primeiras décadas do século XX. O argumento é que no Brasil “foi se configurando um regime de cooptação pelo Estado”. Enquanto na Argentina a intelectualidade foi financiada pelo mecenato privado. Borges, por exemplo, começou a ganhar destaque na Revista SUR, que era subsidiada pela burguesia argentina, que, por sua vez, se sentia muito mais próxima das burguesias europeias do que das questões sociais, políticas e existenciais presentes no próprio país. Daí certa tendência à arte pela arte, ou coisa do tipo. Sergio Miceli não vai por esse caminho, mas me ocorreu e talvez seja uma possibilidade para se pensar: até que ponto a implicância de Borges com o romance tem a ver com o distanciamento das questões sociais, políticas e existenciais do povo argentino, presente o mecenato privado que financiava a intelectualidade e no próprio Borges?
Outro ponto. No livro A arte do romance, no ensaio A herança depreciada de Cervantes, Kundera afirma: “não quero profetizar os caminhos futuros do romance, que ignoro totalmente; quero somente dizer que, se o romance tem de desaparecer realmente, não é porque esteja no fim de suas forças, mas porque se encontra em um mundo que não é mais o seu.” Ou seja, ao contrário de Borges, Kundera reafirma a potência do romance. Mas o que seria, para o escritor tcheco, um mundo que não é mais o do romance, essa “sabedoria da incerteza”? Seria um mundo de certezas absolutas, precisaria ser totalitário a ponto de substituir totalmente o “riso do demônio” (de desaprovação) pelo “riso dos anjos” (de aprovação), teria que eliminar a necessidade de explorar grandes temas da existência, precisaria integrar a ponto de esconder a eterna ambiguidade da vida. Difícil imaginar que afundaremos tanto assim.