Cesare Casarino (entrevistador) e Antônio Negri (entrevistado)
Prefácio do tradutor: esta entrevista com Antonio Negri, feita por Cesare Casarino, foi publicada originalmente em língua inglesa no livro In praise of commons: a conversation on philosophy and politics (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008), de autoria dos dois. Casarino escreveu uma descrição de seu conteúdo: “[…] entrevista focada nas três décadas mais cruciais na definição das trajetórias intelectuais e políticas de Negri. O que mais me preocupou aqui, em meu papel de entrevistador, foi investigar a complexa relação de interações entre suas primeiras experiências como aluno, professor, pensador, escritor e militante político. É aqui que Negri relata o início de sua pesquisa filosófica (que vai de Georg Lukács a Karl Marx, de G. W. F. Hegel a René Descartes, da filosofia kantiana do Direito ao historicismo alemão articulado em Heinrich von Treitschke, Friedrich Meinecke, Wilhelm Dilthey e Max Weber), bem como de seus compromissos políticos (desde breves envolvimentos com o catolicismo militante e com organizações políticas socialistas até suas visitas ao bloco soviético e seu trabalho nas fábricas petroquímicas do nordeste italiano). O que se depreende dessa investigação é que, para Negri, os domínios da filosofia e da política sempre foram inseparáveis e mutuamente determinantes”. Da nossa parte, morto o homem, resta sua obra. Consideramos esta entrevista importante porque, como num pequeno bildungsroman, Negri é chamado por Casarino a recuar até seus anos formativos e avaliar seu impacto sobre sua carreira posterior. Por isso mesmo, a entrevista pincela com um quê de humanidade um filósofo considerado um difícil, vago, esotérico, cujos estranhos engajamentos políticos parecem destoar do que alguns pensam ser suas teorias. As notas de rodapé simples são de Casarino; as notas indicadas com NdoT são da tradução ao português, feita por Manolo.
Cesare Casarino: Gostaria de começar pedindo que você refletisse sobre os momentos e eventos mais significativos de sua formação política e filosófica a partir da década de 1950.
Antonio Negri: Além das marcas indeléveis deixadas pela guerra quando eu era criança, meu primeiro momento de politização como adulto ocorreu durante meu breve envolvimento com a Azione Cattolica [Ação Católica] no início da década de 1950 [1]. Naquela época, eu já estava estudando filosofia na Universidade de Pádua. Mas enquanto o departamento de filosofia de lá era dominado por interpretações bastante convencionais da doutrina tomista, com os padres esquerdistas da Azione Cattolica discutíamos a teologia relacionando-a imediatamente a questões políticas: trazíamos a questão da luta de classes para a teologia de uma forma que já antecipava a teologia da libertação dos anos 1960. Éramos um grupo heterogêneo e entusiasmado; se bem me lembro, Umberto Eco fazia parte dele, entre outros. É claro que algum bispo acabou percebendo o que estava acontecendo, dissolveu nosso grupo de discussão, expulsou os padres relevantes e assim por diante.
CC: Além dessas leituras teológicas, o que você estava lendo naquela época? Quais leituras se mostraram particularmente importantes para você?
AN: Foi naqueles anos que comecei a receber um bom treinamento em filosofia. Comecei a ler imediatamente fontes primárias, e isso é algo pelo qual tenho de agradecer aos meus professores de filosofia da época. Lembro-me de que li muito bem os gregos durante esse período, especialmente Platão e, um pouco menos, Aristóteles.
CC: Você estava lendo esses pensadores já no ensino médio?
AN: Sim, estou falando do ensino médio agora. Foi também nessa época que li Santo Agostinho e os clássicos da Renascença italiana, incluindo Marsilio Ficino, bem como figuras mais recônditas, como Leonardo Bruni [2].
CC: E quanto a Giordano Bruno?
AN: No que diz respeito a Giordano Bruno, todos os dias eu não via a hora de a escola acabar para poder voltar correndo para casa à noite e ler seus livros lá!
CC: E Spinoza?
AN: Essa também foi a época em que comecei a estudar Spinoza. Depois disso, lidei com Kant e Hegel. Fiz tudo isso enquanto ainda estava no ensino médio; devo dizer que estudamos todos esses pensadores muito bem lá. Depois disso, continuei com estudos mais avançados em nível universitário e, embora eu estivesse em um departamento administrativo, eles nos faziam ler fontes primárias. Havia, por exemplo, um excelente professor que se definia como existencialista cristão – seu nome era Stefanini – e que me apresentou a Martin Heidegger já na década de 1950: isso era algo muito estranho de se fazer na Itália naquela época – e não só na Itália! Ele nos deu a oportunidade de ler Sein und Zeit [Ser e Tempo], bem como vários ensaios, como se fosse a coisa mais normal do mundo – e, embora criticasse ferozmente esses textos, ele nos deu a chance de lê-los. Da mesma forma, várias pessoas que estavam lá já estavam agitadas e estimuladas por Ludwig Wittgenstein. Isso tudo para dizer que houve uma grande desordem em minha educação: meus estudos foram dispersos e caóticos. Isso se deveu a vários fatores. Em primeiro lugar, a tragédia da guerra, bem como várias mortes na família, foram terrivelmente importantes para mim naquela época e tiveram o efeito de despertar em mim um grande desejo pela vida, um desejo feroz de conhecer o mundo: essa foi a época, portanto, em que viajei por todo o mundo em busca de experiências de todos os tipos. Além disso, tive a sorte de ganhar uma bolsa de estudos para a Scuola Normale di Pisa [3] no final do ensino médio, mas, na época, minha mãe estava muito doente e eu era o único que podia ficar em casa com ela, portanto, não pude ir. No entanto, eles imediatamente me ofereceram uma bolsa de estudos para um programa de intercâmbio com a École Normale em Paris para uma data posterior. Então, em 1954, fui para Paris por um ano inteiro, onde estudei com Jean Hyppolite e comecei minha tese sobre o jovem Hegel.
CC: Mas e quanto aos seus estudos em Pádua? Você interrompeu seus estudos lá para ir a Paris?
AN: Sim, eu fiz isso. Depois voltei para Pádua e me formei em 1956, antes do que deveria. Fiz meus estudos muito rapidamente. Sempre tive a sorte de ser um excelente aluno: essa é uma daquelas coisas muito estranhas em minha vida que nunca consegui entender! Eu realmente era um nerd [secchione]! E eu usava essa minha qualidade para economizar tempo, já que naquela época a ideia de economizar tempo e de crescer rapidamente era extremamente importante. De qualquer forma, Paris constituiu um parêntese em meus estudos, o que acelerou e antecipou muitos de meus desenvolvimentos futuros. Quando voltei a Pádua, decidi não me formar com a tese sobre Hegel que havia escrito em Paris e, em vez disso, escrevi outra tese, que tratava do historicismo alemão, ou seja, de Dilthey, Treitschke, Weber e Meinecke. No início, publiquei apenas as partes que tratavam de Dilthey e Meinecke em 1959; reescrevi e publiquei as partes que tratavam de Weber somente muito mais tarde, em 1967 [4]. Nesse meio tempo, minha tese sobre Hegel foi transformada em um livro e publicada em 1958. E, entre 1958 e 1959, traduzi os textos de Hegel de 1802 para o italiano, que foram publicados em 1962. Portanto, nesse período, devorei grandes quantidades de conhecimento filosófico: segui o que era fundamentalmente uma trajetória dialético-humanista. Se eu olhar para trás, para essa trajetória do ponto de vista dos resultados que ela produziu – o que talvez não seja a maneira correta de fazer isso -, acho que o que eu estava procurando naquele período era uma fuga de uma época que, então, eu estava absolutamente convencido de que constituía seus valores como tantas enteléquias, como tantas formas de fechamento. Eu estava procurando uma maneira de sair do moderno. É por isso que fiquei tão irritado com as tentativas de criar uma philosophia universalis, que experimentei em todos aqueles filósofos tomistas, filósofos cristãos ou filósofos da lei natural que me cercavam e que eram hegemônicos no departamento de filosofia em Pádua. E foi também por isso que comecei a criar fortes laços com os filósofos franceses e alemães que conheci durante as viagens e que me ajudaram a desenvolver uma direção que poderia ser caracterizada como algum tipo de humanismo existencialista – ou, talvez, fenomenológico.
CC: Você diz que nesse período devorou grandes quantidades de conhecimento filosófico. Mas o que se destacou? O que foi mais formativo para você naquela época?
AN: É claro que havia Hegel – que, devo dizer, estudei muito bem. Ele foi o pivô, a grande passagem, e eu teria de contar com ele e lutar contra ele nos últimos anos. Ao mesmo tempo, havia Sartre. Nesse sentido, não acho que minha formação tenha sido muito original. Qualquer pessoa que tivesse uma mente alerta e viva na época tinha basicamente essa mesma formação. Depois disso, li Freud, embora deva acrescentar que a psicanálise permaneceu sempre estranha para mim – e não sei se isso é um limite ou uma vantagem. Enquanto isso, durante todo esse período, estranhamente eu também estava envolvido na análise da linguagem. Essa é a época em que as correntes de pensamento neoempiristas estão sendo introduzidas na Itália: elas estavam fundamentalmente ligadas ao pragmatismo, do qual continuo gostando bastante em alguns aspectos, tendo lido muito John Dewey, William James e Charles Peirce naquela época. E então chegaram os ingleses. Em particular, muitos de meus amigos foram para Oxford – e eu também estive lá por um breve período – e começamos a ler Wittgenstein juntos, o que para nós era como ler James Joyce: nos reuníamos em torno desses textos sem conseguir entender nada! Então, começamos avaliando sua poética, seus ritmos. Mas depois houve aquele louco do Enzo Paci – um existencialista no início e depois um fenomenologista – que veio para Pádua e nos energizou muito. Seu círculo – que acabou fundando a revista Aut Aut – tornou-se muito importante para mim, especialmente porque fiz muitos amigos lá que reencontrei mais tarde no contexto da militância política. Enquanto estava em Pádua, Paci empreendeu um projeto filosófico muito estranho: ele tentou juntar fenomenologia, husserlianismo e wittgensteinianismo. É claro que não deu certo, mas, mesmo assim, nos permitiu estudar Wittgenstein em profundidade pela primeira vez. De qualquer forma, a questão é que – embora todas essas leituras fossem extremamente importantes para mim, e eu fosse terrivelmente apaixonado por elas, e construísse toda a minha vida, amizades e até mesmo amores em torno delas – eu estava, no entanto, procurando por algo mais, por algo prático. Eu sentia a enorme necessidade de transformar todos esses estudos em algo prático. Em especial, minha breve passagem pelo catolicismo me mostrou que era possível vincular pensamento e ação.

CC: Você está se referindo ao seu tempo na Azione Cattolica, certo?
AN: Sim. O que mais me interessava na época era tentar pensar em formas de comunidade que nos permitissem ir além da crise de valores que eu havia vivenciado, primeiro como criança durante a guerra e, depois, como adulto, na miséria do mundo ao meu redor após a guerra. Essa foi a primeira vez, em outras palavras, que a problematização do comum surgiu e se tornou uma questão para mim. O que é uma comunidade? O que é estar junto? O que é nos expressarmos juntos? O que é dar uma mão? O que é caridade? O que é o amor ao próximo? O que é agir de acordo com todas essas perguntas?
CC: Parece-me que o que está em jogo no que você está dizendo é uma concepção de como viver o pensamento. Você pode falar mais sobre essa necessidade que sentiu de levar suas investigações teóricas a todos os outros aspectos da experiência vivida?
AN: Acho que todos nós buscamos um resultado prático para nossos estudos – caso contrário, nos sentiríamos insatisfeitos. No meu caso, não tive escolha: fui forçado a buscar resultados práticos pela enorme confusão da época, que não era apenas teórica, mas também humana. Durante a Guerra Fria, na Itália, não tínhamos nenhuma noção do que poderia ser a vida em comum, do que poderia ser a vida política. Algo que foi muito importante para mim – e que, de certa forma, constituiu um momento decisivo em minha vida teórica – foi o fato de que me tornei comunista antes de me tornar marxista. Gradualmente, tornei-me comunista sem saber o que era marxismo. Ou melhor, eu conhecia o marxismo na forma em que o havia aprendido na escola: lá ele me foi ensinado como materialismo dialético puro e simples, como um dogma que não me interessava de forma alguma.
CC: Você diz que se tornou comunista antes de se tornar marxista. Essa avaliação é totalmente retroativa? Em outras palavras, na época, você se considerava comunista sem ser marxista? Você se considerava comunista em vez de marxista?
AN: Não, eu me considerava um comunista por pensar que também era marxista. De qualquer forma, eu certamente não me considerava comunista; ao contrário, sentia que estava me tornando comunista. Imediatamente após a expulsão da Azione Cattolica, de fato, entrei para o PSI [Partido Socialista Italiano] – sem, no entanto, participar de nenhuma de suas atividades políticas. Foi somente por volta de 1958 que comecei a me envolver com a política. Esse também foi o ano em que fui aprovado no exame que me permitiu começar a lecionar em nível universitário [esame di abilitazione alla libera docenza], e fui aprovado ao apresentar meu livro sobre o jovem Hegel. Esse foi um livro que se baseou em Lukács e, em particular, em seu principal livro sobre o jovem Hegel. Mas não é como se eu tivesse plagiado Lukács: minha pesquisa havia começado com Hyppolite e com a análise francesa de Hegel. Para ter uma ideia de como eu estava realmente fascinado pelo hegelianismo, imagine que o livro que se tornou fundamental para mim naquela época foi História e consciência de classe, de Lukács. Veja bem, depois que Grigory Zinoviev o condenou na Internacional Comunista de 1923, essa obra foi tirada de circulação; no entanto, encontrei uma cópia na biblioteca de Munique, passei muito tempo estudando-a e decidi traduzi-la para o italiano. No final, porém, foi Giovanni Piana, um amigo meu, que a traduziu pouco tempo depois.
CC: Você está caracterizando esse período de sua vida como uma fase hegeliana, durante a qual Lukács, em particular, foi crucial para você. Mas o senhor já era crítico do hegelianismo e da dialética naquela época? Ou foi só mais tarde, na década de 1960, que o senhor começou a criticar o pensamento dialético?
AN: Essa crítica ocorreu mais tarde. Minha situação teórica na década de 1950 era tal que esses eram os únicos instrumentos à minha disposição: continua-se a usá-los e, ainda assim, está-se profundamente insatisfeito com eles. Então, aqui estava essa coisa chamada dialética: às vezes funcionava; e outras vezes parecia ser uma chave falsa, uma solução falsa. Ela abria qualquer porta – e somente uma chave falsa abre todas as portas possíveis. Faltava-lhe uma concepção de singularidade. Tinha uma relação muito pouco clara com a questão da natureza. Faltava-lhe o antagonismo radical. Em suma, o hegelianismo era reacionário. Mas era assim precisamente porque era reativo com relação a questões reais e importantes – e é por isso que sempre acreditei que é somente com os reacionários que se aprende o que é mais fundamental. Embora isso me incomodasse, continuei a usar o hegelianismo porque era uma filosofia da modernidade. O que acabou me fazendo desconfiar do hegelianismo foi o fato de que ele não tinha nenhum obstáculo interno; em vez disso, havia apenas limites que sempre podiam ser superados. Era extremamente difícil trazer a materialidade prática de volta a esses esquemas filosóficos. Lembre-se também de que, na época, a corrente hegemônica de pensamento na Itália ainda era a gentiliana [5]. Esse poderoso substrato cultural estava em toda parte: vivia na filosofia teórica, no historicismo, bem como no cinismo do PCI [Partido Comunista Italiano]. Aliás, esse também era o caso do gramscismo: o que nos estava sendo oferecido era precisamente um gramscismo gentiliano. De qualquer forma, acho que, no final das contas, é historicamente correto dizer que Antonio Gramsci se alimentou muito mais de Gentile do que de Benedetto Croce. Embora, é claro, Gramsci estivesse tentando desesperadamente usar esses esquemas dentro de uma prática comunista – porque essa é precisamente a prática que força a pessoa a confrontar tal materialidade. No final das contas, a prática comunista era bem diferente dessa coisa que permitia que você se sublimasse, superasse, caísse de cabeça para baixo, desse cambalhotas no ar e voltasse para baixo sempre perfeitamente de pé.
CC: Você está dizendo, em outras palavras, que começou a ficar insatisfeito com a dialética porque ela tornava tudo muito fácil?
AN: Sim, exatamente, tudo era muito fácil. E, de fato, eu escrevia muito rápido naquela época!
CC: Quando você leu Gramsci pela primeira vez?
AN: Eu sempre leio Gramsci! E sempre mal! Não havia como se livrar dele. Não havia um filme que você pudesse assistir sem já ter sido informado pelos críticos: “Este é um exemplo clássico do uso hegemônico de tal e tal conceito!” Não havia uma peça de teatro a que você pudesse ir sem ter recebido vinte páginas de Gramsci para ler com antecedência! Tudo isso era realmente sufocante e terrivelmente dogmático. Mas o mais absurdo era o fato de que, de alguma forma, Gramsci havia inevitavelmente previsto e aprovado cada movimento político do partido comunista!
CC: Acho interessante que, ao delinear sua Bildung, o senhor ainda não tenha mencionado Marx nem uma vez sequer. Devo supor, então, que o senhor só leu Marx muito mais tarde?
AN: Comecei a ler Marx em 1962. Por volta de 1959 – após o livro sobre Hegel e após as traduções de Hegel – eu havia embarcado em dois outros projetos: Comecei a trabalhar com a revista Quaderni Rossi [Cadernos Vermelhos] e, ao mesmo tempo, comecei a escrever um grande estudo sobre o formalismo dos juristas kantianos. A propósito, foi também nessa época que comecei a me envolver significativamente com o Partido Socialista em Pádua. Minha pesquisa sobre a jurisprudência kantiana me levou por longos períodos de tempo à Alemanha, onde precisei consultar arquivos. Mas, ao mesmo tempo, esse projeto me levou várias vezes a Turim e à biblioteca Martinetti: Piero Martinetti era um professor kantiano da Universidade de Turim que havia coletado uma enorme quantidade de textos de filósofos do Direito kantianos do final do século XVIII. E foi enquanto eu estava em Turim para minha pesquisa que conheci Raniero Panzieri e Renato Solmi pela primeira vez. O que estou tentando dizer é que meu baricentro intelectual mudou repentinamente: enquanto até então ele estava localizado entre Pádua e Milão, e tinha sido marcado pela fenomenologia, bem como por esse estranho hegelianismo lukacsiano, agora ele se deslocava para Turim e para Panzieri – e foi Panzieri quem insistiu para que eu lesse Marx.

CC: Então, depois dessa fase lukacsiana-hegeliana, o senhor se interessou pela jurisprudência kantiana. Por quê? O que era tão atraente na filosofia do Direito para o senhor naquele momento? Em outras palavras, havia algo no kantianismo que talvez o tenha ajudado a se afastar da dialética?
AN: Em primeiro lugar, comecei minha carreira acadêmica ensinando filosofia do Direito e, é claro, estudei um pouco de jurisprudência, especialmente Direito romano e Direito constitucional. O que me interessava era a formação, o surgimento, da dialética. A tese principal de meu livro sobre o jovem Hegel era que o pensamento político havia sido central e fundamental na formação de Hegel: a questão crítica era entender como Hegel havia confrontado as várias formas e modos do formalismo kantiano. Em Kant, a lei é definida como uma forma que organiza certas relações sociais. Em Hegel, essa forma se torna uma transformação: ao mesmo tempo em que organiza esses vários elementos, ela os transforma e os eleva a um nível mais alto de constituição social e de constituição espiritual. O que me interessava era verificar que tipos de alternativas haviam surgido dentro do kantianismo, entendido como aquele local absolutamente central no qual todas as correntes político-filosóficas – e, portanto, também jurídicas – da época haviam convergido. O que comecei a escavar no kantianismo, portanto, foram as várias maneiras pelas quais os filósofos do Direito – e especialmente os juristas práticos que dirigiram e moldaram as codificações maciças que estavam ocorrendo na época – interpretaram a forma kantiana, ou seja, a qualificação jurídica dos fatos sociais.
CC: De certa forma, isso é o que você estava dizendo antes, quando falou sobre sua necessidade de encontrar resultados práticos para suas investigações teóricas. Nesse caso também, o que parece tê-lo interessado mais na problemática kantiana foi precisamente a maneira pela qual a filosofia do Direito foi imediatamente traduzida para a prática jurídica por meio de um processo de codificação.
AN: Um problema teórico adquire algum sentido somente quando passa para o real. Nesse caso específico, o problema teórico era indissociável da Revolução Francesa. O subtítulo de meu estudo sobre a jurisprudência kantiana era “Um estudo sobre a gênese do conceito de forma nos juristas kantianos de 1789 a 1802” – e 1802 foi considerado o momento em que a constituição da dialética de Hegel atingiu sua plena maturidade. Eis o que descobri: havia aqueles que apreendiam a forma kantiana como um transcendental pertencente à lei natural, ou seja, como um transcendental que se repete eternamente – como Leo Strauss sustentaria mais tarde em nossa época; havia aqueles que a entendiam em termos neokantianos, ou seja, em termos de comunidade (à la Charles Taylor), bem como em termos de contrato (à la John Rawls); havia aqueles que a historicizavam em termos hermenêuticos, como, por exemplo, Friedrich von Savigny. E depois veio Hegel. E Hegel tirou todos eles do palco ao dizer: “Não, meus caros senhores, o que temos aqui são os diferentes níveis da constituição histórica do social, que mudam vez após vez e nos fornecem, a cada vez, novos paradigmas para a interpretação da complexidade social.” Esse estudo, em outras palavras, era extremamente relevante para nossa situação contemporânea: na verdade, ele teve um enorme sucesso e me proporcionou a contratação definitiva como professor imediatamente, em 1963, aos trinta anos de idade. Foi quando deixei de ser membro da faculdade de Direito e me mudei para o Departamento de Ciência Política, onde me tornei professor de Doutrina do Estado, que era o nome sob o qual a filosofia do Direito era ensinada no Departamento de Ciência Política.
CC: No entanto, gostaria de voltar a Marx e ao marxismo.
AN: Minha necessidade do marxismo surgiu do desejo de entender o real. Escolhi adotar o hegelianismo lukacsiano provavelmente porque acreditava que ele me daria a chance de confrontar o real. Essa escolha, em outras palavras, foi motivada pela crença de que a filosofia e a política devem andar juntas, que os valores de formação de comunidade são o telos do processo dialético, que a dialética, afinal, permite analisar as coisas, ou seja, interpretar as coisas como relações sociais. Em suma, o hegelianismo de esquerda constituiu minha primeira introdução ao marxismo. Mas a introdução mais importante ao marxismo que tive foi por meio de meu relacionamento com Panzieri. E ao redor dele havia outras figuras que também se tornaram importantes para mim: Solmi – que na época estava traduzindo Benjamin e também os Grundrisse; Giovanni Pirelli – um homem extraordinário que pertencia à família Pirelli, que basicamente financiou todos nós, que tinha um conhecimento fantástico do Terceiro Mundo e, em particular, da África, e com quem aprendi muito sobre as lutas anticoloniais; e, é claro, Franco Fortini. Por meio de Panzieri, também conheci Vittorio Foa – o principal organizador sindical em Turim, que me apresentou ao mundo da FIAT -, bem como Mario Tronti, Alberto Asor Rosa e Romano Alquati, todos os quais se tornaram extremamente importantes para mim. Devo confessar que, apesar de estar realmente fascinado por todas essas figuras e pelo que elas tinham a dizer, eu era muito cauteloso e prudente quando entrei em contato com esse mundo pela primeira vez. Mas isso também se deveu ao fato de que, na época, eu tinha de lidar com uma série de questões práticas urgentes, como o início da minha carreira universitária, a decisão de me casar (o que fiz em 1961), etc. Nesse meio tempo, fui eleito pelas listas do Partido Socialista para o conselho municipal de Pádua em 1960 – sem fazer campanha e, de fato, sem fazer muita coisa, na verdade. Os socialistas de Pádua eram esquerdistas dentro do Partido Socialista: eles haviam feito uma aliança com o Partido Comunista em nível local e acabariam se tornando parte do PSIUP [Partido Socialista Italiano da Unidade Proletária] [6] Isso significa que, quando as revoltas de 1960 ocorreram, eu me vi na linha de frente fazendo todo tipo de trabalho político. E, como prêmio, fui enviado para a URSS. Também estive lá com Armando Cossutta, Abdon Alinovi e Pio La Torre [7] . De qualquer forma, essa foi uma viagem realmente perturbadora.
CC: Em que aspectos foi assim? Você poderia ser mais específico?
AN: Fiquei completamente perturbado com os contatos que tive com o Partido Comunista de lá. Veja bem, durante a década de 1950, estive várias vezes na Iugoslávia: em 1956, participei de uma importante conferência sobre autogestão em Belgrado; mais tarde, participei de um longo seminário sobre métodos de gestão nas economias socialistas em Dubrovnik. Isso quer dizer que tive algum contato com os ambientes políticos e os discursos dos países socialistas. Mas meu impacto com a URSS foi, no entanto, traumático: eu era fundamentalmente um comunista, e lá me vi diante de um mundo de burocratas. Fomos recebidos primeiramente por Mikhail Suslov – que era, na verdade, o gerente da ideologia soviética – e depois por vários outros oficiais do partido que lidavam com o Ocidente. Mais tarde, fomos levados a uma espécie de sanatório no Mar Negro, que estava cheio de burocratas comunistas que não faziam outra coisa a não ser comer. De qualquer forma, acabei tendo uma reação psicossomática feroz a esse ambiente: tive um caso terrível de asma e quase morri. Quando melhorei, fui para Leningrado e depois voltei para a Itália, curado de qualquer simpatia pelos resultados do projeto soviético.
CC: E quando você voltou para a Itália?
AN: O evento mais importante desse período para mim foi meu envolvimento com os Quaderni Rossi, que estava em processo de pesquisa sobre a classe trabalhadora. A primeira coisa que aprendi nesse contexto foi exatamente como conduzir uma enquete operária [inchiesta operaia] [8]. Comecei a usar minha posição privilegiada como secretário do Partido Socialista em Pádua para conhecer e trabalhar com os organizadores sindicais, para fazer o máximo de contatos possíveis com os trabalhadores e para apresentar meus amigos a esse mundo. Eu era movido pela curiosidade: queria entender exatamente o que era o trabalho, quais eram suas formas de organização, o que era a classe trabalhadora, o que era exploração, o que era salário etc. E foi nesse momento que comecei a ler Marx. Estudei sistematicamente todas as suas obras ao longo de dois anos – e ainda tenho e uso as anotações que fiz na época. E a leitura de Marx coincidiu com o fim do meu hegelianismo. Em seguida, embarquei em diferentes projetos de pesquisa, embora não tenha publicado nada entre 1962 e 1969.
CC: Por que o fato de ler Marx marcou uma ruptura com Hegel?
AN: Porque comecei a ver o marxismo não como o fim da história, mas como uma alternativa à modernidade. Marx não estava aperfeiçoando a modernidade. Ele não nos apresentou um ideal que exaltaria o não-Estado em oposição ao Estado, que promoveria o comunismo como uma força orgânica em oposição ao reino do indivíduo comunalizado. Não, Marx não era nada disso: ele já era algo diferente disso. O que Marx defendia era o fato de que as lutas – ou melhor, as atividades – são o que produzem e fazem o mundo. Tudo o mais para mim – e o hegelianismo acima de tudo e em primeiro lugar – começou a parecer o elemento conclusivo e, de fato, o fim da filosofia, começou a parecer um esquema mistificador, como uma tela. Comecei a sair desse mundo hegeliano, a ir mais a fundo e a entrar no real. Minha grande dúvida cartesiana, minha grande cesura husserliana consistiu precisamente em ir para a frente das portas da fábrica para verificar o que realmente estava acontecendo lá. Mas o que percebi ali também foi o fato de que O Capital de Marx provavelmente precisava ser reescrito, e que essa reescrita precisava partir da descoberta da subjetividade, de uma investigação dessa subjetividade. A fábrica foi uma aventura extraordinária para mim. Curiosamente, essa também foi a época em que basicamente parei de viajar: todas as minhas descobertas e explorações se concentraram nas fábricas de Porto Marghera [9]. Naquela época, esse era meu lugar favorito: Porto Marghera havia sido construído no final da Primeira Guerra Mundial, mas foi no final da década de 1950 e no início da década de 1960 que as grandes fábricas de produtos químicos e as refinarias de petróleo foram construídas lá. Fui apresentado a esse mundo por amigos meus que eram organizadores de sindicatos socialistas e que eram uma minoria marginalizada ali: aquela área, na verdade, era um reduto democrata cristão, e encontrar um emprego nessas fábricas era considerado um imenso privilégio. Tenho certeza de que você conhece essas situações clássicas da sua Sicília natal. De qualquer forma, não havia organizações sindicais na área; ou melhor, as organizações sindicais existiam, mas eram, em sua maioria, externas à fábrica – e quando eram internas, eram muito corruptas, ou seja, tinham sido reunidas pelo chefe para atender à necessidade de fingir que havia alguma forma de diálogo e mediação. À medida que me familiarizava com esse ambiente, comecei a convidar meus amigos de Turim (Panzieri, Foa etc.) e os companheiros que trabalhavam comigo na Universidade de Pádua (Massimo Cacciari, Luciano Ferrari Bravo e, muito mais tarde, Lauso Zagato) para virem às nossas reuniões de fábrica. Nesse meio tempo, fundei um jornal chamado Progresso Veneto [O progresso do Vêneto] e convidei muitos desses jovens trabalhadores da fábrica para descrever e, de fato, promover suas lutas. E, como eu disse anteriormente, esses foram os anos – de 1962 a 1969 – em que parei de escrever.
CC: Deleuze escreve em algum lugar que sempre foi fascinado pelas lacunas na vida dos pensadores, pelos longos períodos de silêncio durante os quais eles não escreviam ou publicavam. E certamente ele deve ter tido Foucault em mente, entre outros; ele deve ter se referido àqueles longos oito anos após a publicação do primeiro volume da História da sexualidade, durante os quais Foucault interrompeu seu projeto planejado e reorientou toda a sua pesquisa. De qualquer forma, Deleuze afirma que é justamente nessas lacunas que acontece o mais importante. Você acha que esse também foi o seu caso?
AN: Talvez sim. A fábrica era meu arquivo, e era um arquivo excepcional. Minha pesquisa consistia em chegar em frente à porta da fábrica às 5h da manhã e ficar lá até as 8h, distribuindo folhetos, conversando e me embebedando de grappa com os trabalhadores, cercado pela densa névoa de inverno e pelo insuportável cheiro de óleo. Depois, eu ia dar aulas na universidade em Pádua. E depois voltava a Porto Marghera às 17 horas para me reunir novamente com os trabalhadores e escrever os panfletos que distribuiríamos no dia seguinte. Naquela época, havia cerca de sessenta mil operários na área.

CC: Enquanto você estava envolvido nesse tipo de ativismo político, o que estava ensinando na universidade?
AN: Acho que eu estava ministrando cursos sobre a teoria do planejamento estatal. Basicamente, minha pesquisa sempre se desenvolveu da seguinte maneira: ensino primeiro o que escrevo depois; mas depois que escrevo um livro, não o ensino nem o leio novamente! De qualquer forma, naquela época eu estava tentando construir um modelo teórico para analisar e entender aqueles incríveis vinte anos de desenvolvimento econômico e de lutas políticas na Europa: as décadas de 1950 e 1960. Na época, eu tinha muito contato com os estudiosos da escola da regulação de Paris (como Michel Aglietta, Benjamin Coriat, etc.) e encontrei muitos paralelos entre o projeto deles e o meu, embora eles fossem fundamentalmente economistas, enquanto eu estava trabalhando na morfologia dos sistemas sociojurídicos e sociopolíticos. Ao mesmo tempo, eu estava iniciando uma crítica da tradição da filosofia do direito público, ou seja, os principais textos do constitucionalismo alemão, de Carl Gerber a Carl Schmitt; os pensadores do formalismo jurídico, como Hans Kelsen; bem como os grandes constitucionalistas e filósofos americanos do Direito público, como Oliver Holmes, Benjamin Cardozo etc. Isso é basicamente o que eu estava ensinando na época. Naqueles anos, não fiz filosofia até 1968, quando comecei a escrever meu livro sobre René Descartes, publicado em 1970 [10].
CC: Mas como exatamente você chegou a Descartes a partir dessas investigações sobre a constituição jurídica da forma-Estado?
AN: Entre essas investigações e o estudo sobre Descartes, escrevi um ensaio sobre a gênese do Estado moderno como forma de me preparar para o último – um ensaio que também foi resultado do meu envolvimento com a escola dos Annales, que eu estava lendo na época. No entanto, esses também eram elementos que eu estava juntando para poder me distanciar deles. Em outras palavras, eu não gostaria que a história que estou contando se tornasse teleológica. Não gostaria de dar a impressão de que toda a minha pesquisa na época estava, de alguma forma, aguardando a chegada de 1968. E, no entanto, é verdade que havia algum tipo de destino no que eu estava fazendo! É um pouco assustador, na verdade. Tudo o que fiz de 1958 a 1968 foi realmente uma grande propedêutica para a luta de classes.
CC: Em outras palavras, você chegou a 1968 com todos os instrumentos apropriados para dar sentido à forma-Estado e ao seu aparato repressivo.
AN: Sim, é claro! Mas, veja bem, a forma-Estado é a luta de classes.
CC: O que você quer dizer exatamente? Ao longo de sua história, o marxismo tem se concentrado principalmente na análise da luta de classes, enquanto muitas vezes negligenciou a análise do Estado. E mesmo quando a questão do Estado foi submetida a um escrutínio analítico, essa análise geralmente foi mantida separada da questão da luta de classes. Mas, para você, a forma-Estado e a luta de classes são, de alguma forma, a mesma coisa? Quando e como o senhor chegou a essa conclusão?
AN: Naquela época, eu estava seguindo dois caminhos diferentes ao mesmo tempo. Por um lado, perseverei na análise da luta de classes. Grande parte dessa análise foi realizada por meio da investigação do mundo dos trabalhadores da fábrica em Porto Marghera, como expliquei anteriormente. No entanto, junto com essa investigação, estudei muita sociologia relevante. Quando, por exemplo, notei em 1962 uma enorme onda de greves selvagens nas fábricas da FIAT em Turim, comecei a pesquisar a literatura sociológica e descobri que, alguns anos antes, um livro detalhando esse tipo de fenômeno havia sido publicado na Inglaterra. Essa descoberta me incentivou a descobrir se fenômenos semelhantes já haviam sido analisados nos EUA. E, de fato, foi então que tomei conhecimento do Facing Reality – um grupo de trotskistas norte-americanos que, no final da década de 1930, havia rompido com Trotsky e decidido dedicar todo o seu tempo e esforço às fábricas. Todos eles eram rank and file [11] e escreveram uma série de análises esplêndidas sobre os movimentos de classe dentro das fábricas. O que me interessou especialmente foi o fato de que estavam lidando com fábricas fordistas e, em particular, com fábricas de petróleo e produtos químicos. Tomei conhecimento delas na Socialisme ou Barbarie – a revista que Cornelius Castoriadis e Claude Lefort publicavam em Paris, que se tornou meu pão de cada dia naquele período. Essa pesquisa se desenvolveu ainda mais quando nós – ou seja, Ferrari Bravo, Alquati e eu – começamos a estudar a autodestruição, ou melhor, a autocrítica do funcionalismo americano e a passagem para a análise de conflitos. Todos esses diferentes elementos culturais foram investigados e, em última análise, direcionados para nosso objetivo principal, ou seja, foram reunidos para entender o que exatamente aconteceu na fábrica. Por outro lado, também estávamos estudando os clássicos da teoria do Estado, embora eu tenha começado a me interessar pela teoria jurídica soviética bem tarde: Li Evgeny Pashukanis, por exemplo, na década de 1970. De qualquer forma, a questão é que meu método de pesquisa sempre consistiu em partir, em primeiro lugar, de um fenômeno que se deseja explicar: por exemplo, vê-se que, de repente, o Estado intervém num determinado conjunto de relações sociais ou, talvez, que o capital exerce pressão sobre o Estado para garantir que tal intervenção aconteça; mas, então, nota-se também que as coisas não acontecem realmente da maneira que o Estado ou o capital planejaram; em vez disso, o que acontece na verdade é uma mediação entre a luta de classes e o que quer que seja que o Estado e o capital estavam procurando em primeiro lugar; então se vê que esses mecanismos se espalham gradualmente pelas articulações da ação administrativa do Estado; e, portanto, se vê a lei se transformar diante de seus olhos num procedimento de conflito, ou seja, em uma gestão codificada de conflitos. Assim, por um lado, avançamos em nossa investigação sobre a fábrica e, por outro, estudamos as formas – jurídicas e outras – por meio das quais o Estado administra o conflito. Em outras palavras, estávamos estudando a luta de classes de dois pontos de vista opostos ao mesmo tempo.
CC: E isso explica a necessidade de se aprofundar em vários domínios disciplinares diferentes simultaneamente.
AN: Sim, sempre trabalhei em um contexto totalmente interdisciplinar. Por exemplo, acho que nunca estudei um texto jurídico sem manter textos historiográficos e sociológicos por perto.
CC: Sem dúvida, esse também deve ter sido o método de Marx. Parece que, para levar a sério a luta de classes, é preciso realizar pesquisas interdisciplinares, que a luta de classes gera interdisciplinaridade!
AN: Sim, e essa é uma das razões pelas quais Marx se tornou tão importante para mim. Naqueles anos, realmente sentíamos que estávamos descobrindo um novo Marx – e esse certamente não era o Marx do primeiro livro de O Capital, volume 1. Sempre achei Marx muito irritante quando ele conta todas essas histórias sobre a forma da mercadoria. É claro que são todas histórias verdadeiras! Mas, para entendê-las, é preciso chegar a elas apenas mais tarde, ou seja, após a análise da luta de classes! Caso contrário, tudo o que nos resta é a versão de Derrida sobre a mercadoria! De qualquer forma, nosso estudo de Marx estava imediatamente relacionado à análise da luta de classes e respondia diretamente às realidades da luta. Sempre atuávamos em duas frentes simultaneamente: o trabalho político na fábrica e o trabalho teórico na fábrica – e insistíamos loucamente em relacionar os dois. Não havia reunião que não começasse com uma análise do que estava ocorrendo na fábrica naquele momento específico; ou, como costumávamos dizer na época: “Quem não faz investigações na fábrica não tem o direito de falar.” Foi assim que nasceu toda uma nova geração de intelectuais que não tinham mais nada a ver com o Partido Comunista. Exceto por aquelas breves “férias” na URSS, eu nunca tive nada a ver com o Partido Comunista. Não me considero particularmente libertário! Não sou nem um pouco anarquista! Gosto muito de disciplina e de grupos que se organizam para chegar a um entendimento comum. Adoro o fato de existirem organizações que colocam ordem em todos os aspectos da realidade! O que eu absolutamente detesto é que tudo isso possa ser feito de maneira estúpida! Dito isso, minha avaliação da URSS não é totalmente negativa. Enquanto assistia ontem àquele bando de idiotas que governam nosso mundo no G8 em Gênova, não pude deixar de pensar: “Gostaria que a URSS ainda estivesse por aqui!” Sei que é cruel e absurdo dizer uma coisa dessas, mas…
CC: Vamos passar para a década de 1970.
AN: Você acha que eu já terminei com a década de 1960? Foi um período tão rico! Você não tem ideia do que significou, por exemplo, viajar de Porto Marghera para todas as outras grandes fábricas de petróleo e produtos químicos da Itália – de Gela, na Sicília, a Porto Torres, na Sardenha, de Milão a Tarento etc. – e reunir grupos de companheiros em todos esses lugares. Sem dúvida, 1962 foi o momento crucial e o ponto de não retorno para muitos de nós. Foi quando o gato selvagem se soltou: os trabalhadores deixaram a fábrica da FIAT em Turim e tomaram as ruas – e então tivemos três ou quatro dias de confrontos ferozes com a polícia por toda a cidade, especialmente na Piazza Statuto. A questão é que essa greve foi fundamentalmente uma revolta contra os sindicatos: ela foi conduzida contra a FIAT, mas seu principal alvo em termos de efeito foram os sindicatos, que, na opinião geral, estavam enganando os trabalhadores. E foi aí que começaram a nos acusar duramente de todo tipo de coisa: foi a primeira vez que nos chamaram de fascistas…
CC: De onde surgiram essas acusações?
AN: Eles vieram do Partido Comunista, da CGIL [Confederação Geral Italiana do Trabalho] e do L’Unità [12] . Eles foram muito gentis conosco! De qualquer forma, foi também nesse momento que a merda bateu no ventilador nos Quaderni Rossi: foi quando Panzieri ficou assustado, pois entendeu de repente que o caminho político que estávamos seguindo no jornal nos levaria completamente para fora dos movimentos tradicionais dos trabalhadores. Veja bem, ele era dez ou quinze anos mais velho do que eu e tinha vivido nesses movimentos: tinha sido o chefe do Partido Socialista na Sicília, tinha trabalhado nos sindicatos etc. Por isso, ele ficou assustado. Entre outras coisas, ele também era um dos editores da editora Einaudi; durante esse período, publicou muitas obras politicamente radicais, mas começou a receber enormes pressões da imprensa para que parasse de fazê-lo. Basicamente, a maioria das pessoas que nos olhava de fora via um bando de selvagens! Nunca consegui entender como consegui ser contratado como professor efetivo; quero dizer, eles sabiam perfeitamente quem eu era e o que estava fazendo. De qualquer forma, eles acabaram me fazendo pagar por isso. Mais tarde, me fizeram pagar por tudo de uma vez. Suponho que eles me deram estabilidade na tentativa de me cooptar. Tenho certeza de que você sabe como esses mecanismos de cooptação funcionam: eles pedem que você seja fiel à corporação, ou então…
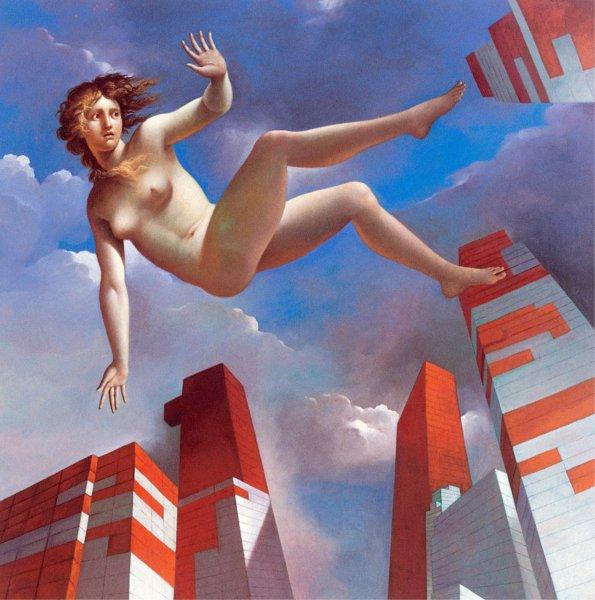
CC: Ainda mais hoje em dia, quando a universidade está sendo reestruturada de acordo com modelos corporativos – especialmente, mas não exclusivamente, nos EUA. Em outras palavras, suspeito que o tipo de cooptação que você experimentou na época era bem diferente do tipo corporativo atual, que talvez seja mais sutil e, no final, mais eficaz.
AN: De qualquer forma, depois desse primeiro rompimento com Panzieri, nosso grupo – ou seja, principalmente Tronti, Asor Rosa, Cacciari, Ferrari Bravo e eu – fundou a revista Classe Operaia [Classe Operária], que esteve ativa de 1963 a 1966 e que marcou a fundação, ou melhor, a consolidação do operaismo italiano. Em seguida, houve outra ruptura quando Tronti e alguns outros decidiram se filiar novamente ao Partido Comunista – que haviam deixado quando eram muito jovens. Nesse ponto, em 1967, fizemos uma última tentativa e fundamos mais uma revista, a Contropiano, que durou apenas um ano, porque 1968 marcou o fim da propedêutica operária e, de fato, marcou o fim de toda propedêutica. Portanto, foi assim que chegamos a 1968. Mas também devo salientar que todos nós chegamos a 1968 de forma diferente. Veja, por exemplo, Ferrari Bravo. Ele era um pouco mais jovem do que eu – pois nasceu em 1940, enquanto eu nasci em 1933 – e ainda era estudante quando o conheci. O que mais me chamou a atenção nele foi o fato de que já era uma forma de vida diferente, que já pertencia a uma época diferente da minha: ele não tinha vivido a guerra. E a guerra no norte da Itália tinha sido particularmente intensa e complexa: além de ter sido uma guerra contra os fascistas, a luta dos partisanos no Norte também tinha sido uma guerra de classes. De qualquer forma, Luciano não havia vivido esse período. Ele era – como costumava dizer – um comunista nato. Ele não tinha necessidade de se aprofundar em si mesmo, de se desligar do passado. Esse também era o caso de Cacciari, que era mais jovem que Ferrari Bravo: eu o conheci quando ele tinha dezessete anos e, na verdade, posso dizer que basicamente o criei! Foi uma estranha revelação encontrar pessoas tão extraordinárias: no início da década de 1960, conheci toda uma geração jovem que já havia atingido o nível de desenvolvimento político e teórico que eu tive de lutar tanto para alcançar. Eles haviam chegado lá quase que naturalmente e sem nenhum esforço: simplesmente estavam lá – e estavam prontos para a grande aventura de 1968. É exatamente quando olhamos para aquela geração que percebemos melhor a loucura da repressão política que varreu a Itália na década de 1970: uma geração extraordinária de intelectuais – que também foi a primeira geração do pós-guerra – foi varrida, destruída.
CC: Talvez este seja um bom momento para falar sobre os anos 1970. Como você vivenciou essa década? Como ela foi diferente para você das duas décadas anteriores que discutimos?
AN: Em primeiro lugar, comecei a escrever novamente – e o fiz por razões que têm a ver fundamentalmente com meu envolvimento em movimentos políticos. Com o estudo sobre Descartes, comecei a introduzir certos critérios historiográficos em minha pesquisa: por exemplo, foi nesse trabalho que elaborei pela primeira vez um conceito que se tornou cada vez mais importante para mim, a saber, o conceito das duas modernidades [13]. Eu via o projeto de Descartes – sua “ideologia razoável” – precisamente como uma tentativa de mediação entre essas duas modernidades. Devo dizer, no entanto, que meus argumentos naquele trabalho ainda estavam bastante confusos, assim como minha primeira tentativa de crítica a Hegel no início da década de 1960 não havia sido muito bem definida e articulada. Todos esses conceitos ainda não eram precisos: eles começaram a aparecer no estudo sobre Descartes graças ao meu envolvimento com um certo tipo de historiografia, mas ainda eram um tanto incertos. De qualquer forma, o ponto é que, depois de lidar com Descartes, comecei a escrever – e continuei a fazê-lo por um longo período de tempo – estritamente com base nas necessidades do movimento: em certo sentido, eram escritos feitos sob encomenda. Esse foi o caso de meus escritos sobre o New Deal, bem como de todos os panfletos que agora estão reunidos em Books for Burning e que, no final, constituíram o principal motivo pelo qual me mandaram para a prisão [14]. Durante esse período, também reuni um volume de ensaios com o título La forma stato: Per la critica dell’economia politica della Costituzione [A forma estado: Para uma crítica da economia política da Constituição] [15]. Entre esses ensaios, um em particular foi extremamente importante para mim, a saber, “Il lavoro nella Costituzione” [O trabalho na Constituição], que também foi coletado em Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form [16]. Nunca é demais enfatizar o quanto esse ensaio foi crucial e fundamental em meu desenvolvimento político. Na verdade, eu o escrevi em 1962-63, mas o guardei na gaveta até 1977, quando finalmente o publiquei, inserindo-o em La forma stato.
CC: Por que você esperou tanto tempo para publicá-lo? Por que sentiu a necessidade de esperar?
AN: Eu estava realmente assustado – é por isso! Esse ensaio foi muito importante para mim porque nele eu pude, pela primeira vez, levar a crítica do trabalho até a Constituição, desarticular o aparato constitucional usando a crítica do trabalho como uma alavanca, criticar o papel desempenhado pelo conceito burguês de trabalho na formação jurídica do Estado.
CC: O que exatamente o assustou em tudo isso?
AN: Eu estava com medo de que meus argumentos não se sustentassem; estava com medo de não ter conseguido torná-los teoricamente coerentes. Tenha em mente que, quando você tem uma boa ideia, precisa ter cuidado ao divulgá-la.
CC: Em outras palavras, o senhor finalmente publicou o ensaio somente quando os próprios desenvolvimentos históricos confirmaram e apoiaram seus argumentos. Essa é uma avaliação justa do que está detalhando aqui?
AN: Sim, é verdade. Hoje, no entanto, eu provavelmente não seria tão prudente quanto fui na época – e não porque tenha me tornado particularmente imprudente, mas porque agora eu seria mais capaz de reconhecer que algo tão novo para mim indicaria uma passagem, sinalizaria a antecipação de um novo período. Esse primeiro ensaio foi precisamente a primeira peça escrita que antecipava e já pertencia a um período distinto em minha pesquisa que, na verdade, começou apenas quinze anos depois e que se caracterizava por uma tentativa de levar a crítica do trabalho às suas conclusões mais extremas e lógicas. É por isso que aquele ensaio foi tão fundamental para mim: nele, ao criticar a Constituição italiana e revelar o paradoxo de uma república fundada no trabalho [17], eu havia atacado as próprias raízes da forma de Estado do New Deal, que é a república fundada na relação entre big business e big labor [18].
CC: Essa crítica ao trabalho já havia surgido no início da década de 1960, mas teve de esperar até meados da década de 1970 para ser totalmente articulada.
AN: Sim, embora essa crítica já estivesse em andamento em meu ensaio sobre John Maynard Keynes e o New Deal. E sempre associarei esse ensaio a uma história engraçada, um evento peculiar. Em 1968, eu, juntamente com os outros editores da Contropiano, organizamos um pequeno simpósio sobre Keynes na Universidade de Pádua e convidamos vários grupos de companheiros para participar. Tínhamos programado vários trabalhos: em particular, Ferrari Bravo apresentou um trabalho muito importante sobre as formas jurídico-administrativas do New Deal, cujas teses principais imediatamente possibilitaram e foram posteriormente confirmadas e apoiadas pelo meu “Keynes and the capitalist theory of the State”, que agora é um capítulo do Labor of Dionysus [19]. De qualquer forma, a questão é que, enquanto o simpósio estava acontecendo, ocorreu a primeira ocupação estudantil da universidade: os alunos invadiram a sala de aula em que estávamos reunidos e nos expulsaram! Na época, achei que era uma bela coincidência! Se bem me lembro, foi Alisa Del Re – que mais tarde se tornaria minha assistente de ensino – que entrou na sala de aula e interrompeu nossa reunião, gritando: “Fora! Fora! Todos vocês! Fora!” Todos nós saímos muito animados e fomos continuar nossa discussão em outro lugar. Assim, 1968 coincidiu com a primeira conclusão de uma pesquisa que havia se desenvolvido silenciosamente por dez anos. E então veio a década de 1970, que foram anos de luta política.

CC: O que eu acho interessante é que as teses que o senhor apresentou pela primeira vez no início da década de 1960 e retomou em meados da década de 1970 surgiram como resultado direto de seu envolvimento contínuo com o movimento dos trabalhadores em Porto Marghera, e que só mais tarde seu estudo de Marx e dos Grundrisse confirmou essas teses.
AN: Sim, é isso mesmo.
CC: Em outras palavras, foram os movimentos políticos que o levaram a Marx, e não o contrário. Esse fato, por si só, é claro, não explica a natureza de seus argumentos em relação aos Grundrisse em Marx além de Marx – que você publicou em 1979 [20]; no entanto, parece-me que é um fato importante a ser levado em consideração ao estudar e avaliar esse trabalho. O que o senhor pensa sobre isso? Poderia falar sobre a gênese de Marx além de Marx?
AN: Eu vinha defendendo que alguém traduzisse os Grundrisse para o italiano já em meados da década de 1960. Então, um de nossos companheiros – Enzo Grillo – assumiu essa tarefa e a tradução foi finalmente publicada em 1976. Essas páginas do Grundrisse que tratam da questão das máquinas, no entanto, já haviam sido traduzidas por Solmi, e nós as publicamos na segunda edição dos Quaderni Rossi. Portanto, embora eu já tivesse estudado e trabalhado nos Grundrisse na década de 1960, foi finalmente apenas em 1977 e 1978 que comecei a escrever sobre esse texto – e as circunstâncias que me levaram a escrever sobre ele são significativas por si só. Tive de fugir da Itália para Paris por causa de um primeiro mandado de prisão relacionado aos eventos de Bolonha de março de 1977 [21]. Chegando lá, encontrei um emprego imediatamente na Universidade de Paris VII, onde continuei meu trabalho com a Escola de Regulamentação: realizamos pesquisas sobre as questões de imperialismo e troca desigual e, enquanto eu lidava com os aspectos jurídicos da pesquisa, eles lidavam com os aspectos econômicos. (A propósito, esses eram os mesmos tópicos em que Ferrari Bravo estava trabalhando na Universidade de Pádua na época). Foi exatamente quando eu estava trabalhando nessas questões que Althusser me convidou para dar uma série de palestras sobre os Grundrisse: ele sabia que estávamos trabalhando nesse texto na Universidade de Pádua; ele achava que a maneira como esse texto havia sido lido em Paris até aquele momento era simplesmente horrível; por isso, insistiu que o reintroduzíssemos e o discutíssemos novamente lá. Eu aceitei, e essas foram as palestras que constituíram a maior parte de Marx além de Marx. A moral da história é que sempre que me obrigam a abandonar a prática política, não me resta outra coisa a fazer a não ser começar a escrever novamente! Eu já disse aos juízes muitas vezes: “Por que vocês querem me forçar a escrever? Não me coloquem na cadeia e me deixem em paz, para que eu não precise escrever!”
CC: Deixando essas importantes circunstâncias de lado por enquanto, poderia ser mais específico em relação à gênese política e conceitual de Marx além de Marx? Como o senhor concebeu esse trabalho? Quais foram exatamente as relações entre suas experiências políticas e os argumentos dessa obra?
AN: Em Marx além de Marx, resumi, do ponto de vista teórico, tudo o que havia feito na década de 1970, sem a retórica militante. Esse trabalho – que foi concebido fundamentalmente como um comentário sobre os Grundrisse – me permitiu, pela primeira vez, criar vínculos em toda uma série de diferentes elementos de análise: análise da metodologia, análise das lutas, análise dos ciclos, análise das classes, análise do Estado.
CC: Mas como os Grundrisse permitiram que você reunisse todas essas coisas? Por que foi esse texto em particular, em vez de outros, que lhe permitiu fazer isso?
AN: Se os Grundrisse constituíram tamanha condição de possibilidade para mim, isso se deveu, talvez, à própria natureza do texto: os Grundrisse, na verdade, foram uma sonda formidável, extraordinária que Marx mergulhou nos fenômenos reais de seu tempo.
CC: O senhor está se referindo especificamente à crise financeira de 1857, que estava se desenrolando enquanto Marx escrevia os Grundrisse?
AN: Sim, é claro, é em meio a tudo isso que nasce a teoria marxiana da revolução. De fato, para compreender plenamente a importância dos Grundrisse para mim, é preciso ter em mente que a década de 1970 não só viu o avanço político e a intensificação de nossas lutas, mas também marcou o momento em que descobrimos que as estruturas capitalistas haviam passado por profundas transformações. A partir do início da década de 1970, a iniciativa capitalista voltou a funcionar e foi forçada a dar grandes saltos. Vários fatores contribuíram para isso: em primeiro lugar, 1968; em segundo lugar, a derrota dos EUA no Vietnã; em terceiro lugar, o grande desenvolvimento das lutas dos trabalhadores; quarto, a crise do petróleo – entendida como a primeira expressão da vitória dos movimentos anticoloniais e como uma formidável exigência de que as receitas globais fossem redirecionadas para o Sul; em quinto lugar, a brilhante manobra americana pela qual o dólar foi desvinculado do ouro – uma manobra que abriu caminho para a desregulamentação desenfreada e que, com efeito, decretou que o dinheiro tem valor apenas na medida em que é trocado ou, dito de outra forma, apenas na medida em que é sobredeterminado pelo poder. Essa complexa configuração de eventos teve como resultado, por um lado, o desbloqueio do poder da classe trabalhadora e, por outro lado, forçou o capital a se deslocar e a sair de seu território tradicional. O que exacerbou essa situação, do ponto de vista da classe trabalhadora, foi o fato de que os sindicatos simplesmente se recusaram a ver que algo havia mudado e negaram completamente a existência desses novos fenômenos e realidades, mesmo quando os trabalhadores, e especialmente as novas gerações de trabalhadores, estavam vivendo-os. Em particular, os trabalhadores das fábricas começaram a testemunhar de imediato a informatização exponencial do processo de trabalho, bem como a crescente dependência do capital em relação aos circuitos sociais de produção. Em outras palavras, à medida que a fábrica começou a passar por profundas reestruturações, toda a sociedade começou a ser transformada em uma fábrica: o capital saturou o social por completo. Foi durante esse período que apresentei pela primeira vez minhas teses sobre o surgimento do que chamei de trabalhador socializado [operaio sociale] [22]. E essa foi a segunda vez em minha vida que me chamaram de fascista! Eles me acusaram de ser contra os sindicatos porque eu estava afirmando que um novo tipo de força de trabalho estava surgindo. A linha política sindicalista, na melhor das hipóteses, era uma tentativa de trazer todas essas pessoas, todas essas novas formas de subjetividade, de volta à fábrica. Mas os sindicatos simplesmente não tinham força para fazer isso. Nossa linha política era bem diferente: achávamos que era muito melhor tentar se antecipar a esses novos processos dentro do capitalismo; achávamos que era muito melhor tentar antecipar esses desenvolvimentos para poder organizar esse novo tipo de força de trabalho externa – isto é, externa à fábrica. De qualquer forma, discuti esses desenvolvimentos em detalhes em outro lugar [23]. Voltemos agora aos Grundrisse. No contexto da conjuntura histórica e política que acabei de delinear, nossa leitura dos Grundrisse constituiu também uma tentativa de recuperar e reelaborar o volume d’O Capital sobre circulação, no qual Marx começou a entender e prever essa socialização da produção. Enquanto o primeiro volume de O Capital havia sido fundamental na década de 1960, foram os Grundrisse e o segundo volume de O Capital que se tornaram fundamentais na década de 1970. De certa forma, a pesquisa que estávamos realizando na década de 1970 visava corrigir algumas lacunas cruciais em O Capital, a saber, os capítulos que faltavam sobre o salário e o Estado. Foi somente mais tarde – na era do império – que o terceiro volume de O Capital tornou-se relevante.
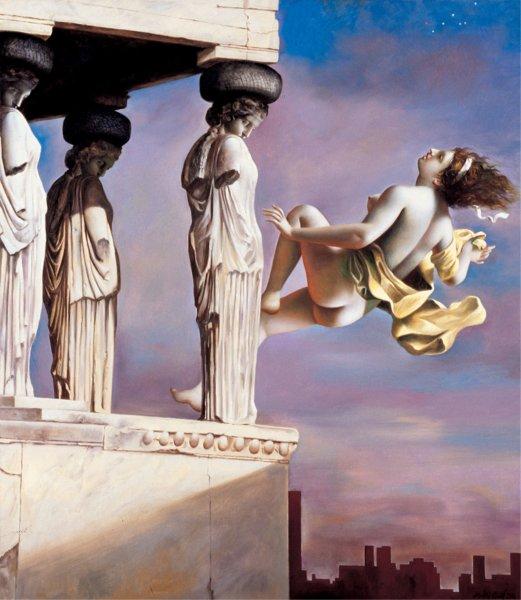
Notas:
[1] A Azione Cattolica Italiana é uma organização católica não clerical italiana que desempenhou um papel social e político especialmente importante no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Suas origens remontam à fundação da Società della Gioventù Cattolica Italiana (Sociedade da Juventude Católica Italiana) em 1867.
[2] Leonardo Bruni (1370-1444), estudioso multifacetado, historiador e figura política, é considerado uma das figuras mais importantes do movimento intelectual humanista. Situado entre o Humanismo e o Renascimento, Marsilio Ficino (1433-99) foi um dos mais importantes filósofos de sua época, cujas obras tiveram uma profunda influência no pensamento renascentista em toda a Europa.
[3] A Scuola Normale di Pisa é um famoso instituto de pesquisa em Pisa, fundado em 1810 por Napoleão como uma filial da École Normale Supérieure de Paris.
[4] Antonio Negri, Saggi sullo storicismo tedesco: Dilthey e Meinecke (Milão: Istituto Giangiacomo Feltrinelli, 1959); idem, “Studi su Max Weber (1956-1965)”, em Annuario bibliografico di Flosofia del Diritto (Milão: A. Giuffrè, 1967).
[5] Giovanni Gentile (1875-1944), filósofo hegeliano e figura política, dominou a vida intelectual italiana durante a primeira metade do século XX, juntamente com Benedetto Croce (1866-1952).
[6] O PSIUP nasceu em 1964 de uma cisão de esquerda do Partido Socialista.
[7] Cossutta, Alinovi e La Torre eram figuras proeminentes do Partido Comunista Italiano na época.
[8] No meio político em que Negri atuava na época, o termo inchiesta operaia designava a pesquisa sobre a classe trabalhadora conduzida do ponto de vista das realidades e dos projetos dos próprios trabalhadores, bem como envolvendo os próprios trabalhadores, em oposição ao tipo de pesquisa que era conduzida do ponto de vista das necessidades do Estado ou do capital, do ponto de vista das organizações sociais de esquerda, como o Partido Comunista, ou do ponto de vista dos discursos teóricos e metodológicos tradicionais das ciências sociais acadêmicas.
[9] Porto Marghera está localizado do outro lado da lagoa de Veneza.
[10] Antonio Negri, Descartes politico o della ragionevole ideologia (Milão: Feltrinelli, 1970).
[11] NdoT: a expressão rank and file foi usada por Negri em inglês, fato sublinhado por Casarino. Rank and file worker, em inglês, traduz-se para o português como “trabalhador de base”, “trabalhador comum”. O Merriam-Webster define rank and file como “pessoal alistado nas forças armadas; indivíduos que constituem o corpo de uma organização, sociedade ou nação, diferentemente dos líderes”.
[12] O CGIL foi e continua sendo o sindicato mais poderoso da Itália; tradicionalmente, ele tinha vínculos estreitos com o Partido Comunista. O L’Unità foi fundado por Gramsci em 1924 como o jornal oficial do Partido Comunista.
[13] Para a mais recente reelaboração do argumento sobre as duas modernidades, consulte Michael Hardt e Antonio Negri, Empire (Cambridge: Harvard University Press, 2000), pp. 69-92, bem como “On Empire”, no mesmo livro de onde esta entrevista foi retirada.
[14] Antonio Negri, Books for Burning: Between Civil War and Democracy in 1970s Italy, trans. Arianna Bove, Ed Emery, Timothy S. Murphy e Francesca Novello, org. Timothy S. Murphy (Londres: Verso, 2005).
[15] Antonio Negri, La forma Stato: per la critica dell’economia politica della Costituzione (Milão: Feltrinelli, 1977).
[16] Michael Hardt e Antonio Negri, Labor of Dionysus: a critique of the State-form (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), 53-136. NdoT: existe uma tradução brasileira deste livro (O trabalho de Dionísio: para a crítica do Estado pós-moderno. Rio de Janeiro: Pazulin/UFRJ, 2004) que mutilou a obra: foram traduzidos apenas seus capítulos 1, 6 e 7, sem nenhum aviso editorial de que a tradução não era integral, e nenhuma discussão sobre as razões da mutilação; com isso, os capítulos mencionados por Negri a seguir permanecem inéditos em português.
[17] O primeiro artigo da Constituição italiana é “A Itália é uma República fundada no Trabalho”.
[18] NdoT: Casarino destaca que “‘big business’ e ‘big labor’ estão em inglês no original”; com isso ressaltou que Negri usou a expressão big labor (no contexto, algo como “trabalho forte”, “trabalhadores fortes”, “sindicatos fortes”) em contraposição a big business (“grandes empresas”, “grandes negócios”).
[19] Hardt e Negri, Labor of Dionysus, 23-51. NdoT: este é um dos capítulos mutilados na tradução brasileira de 2004.
[20] NdoT: existe tradução integral da obra para o português (Marx além de Marx: ciência da crise e da subversão – caderno de trabalho sobre os Grundrisse. São Paulo: Autonomia Literária, 2016).
[21] Em março de 1977, durante confrontos entre a polícia e os estudantes da Universidade de Bolonha, um estudante foi morto pela polícia, o que provocou tumultos em toda a cidade por vários dias.
[22] O termo operaio sociale (trabalhador socializado) designa as novas formas de trabalho e de composição de classe pertencentes ao processo de produção pós-fordista, em oposição ao operaio massa (trabalhador em massa) dos modelos taylorista e fordista de produção e organização industrial. Para uma visão geral concisa dos argumentos e periodizações correspondentes a esses termos, consulte o ensaio de Negri “Twenty Theses on Marx: Interpretation of the Class Situation Today”, em Marxism beyond Marxism, ed. Saree Makdisi, Cesaree Makdisi. Saree Makdisi, Cesare Casarino e Rebecca Karl, trans. Michael Hardt (Nova York: Routledge, 1996), 154-56.
[23] Ibid., 149-80, e especialmente 164-78.
As artes que ilustram o texto são da autoria de Carlo Maria Mariani (1931-).








O autonomista soteropolitano acertou na mosca.
Gostaria de destacar um trecho importante desta entrevista, ressaltado em outra oportunidade por LeoV:
“A fábrica era meu arquivo, e era um arquivo excepcional. Minha pesquisa consistia em chegar em frente à porta da fábrica às 5h da manhã e ficar lá até as 8h, distribuindo folhetos, conversando e me embebedando de grappa com os trabalhadores, cercado pela densa névoa de inverno e pelo insuportável cheiro de óleo. Depois, eu ia dar aulas na universidade em Pádua. E depois voltava a Porto Marghera às 17 horas para me reunir novamente com os trabalhadores e escrever os panfletos que distribuiríamos no dia seguinte. Naquela época, havia cerca de sessenta mil operários na área.”
Agora, imagine-se fazer a mesma coisa, todos os dias, por dez anos. Novamente: dez anos. No mínimo.
Além disso, Negri não fazia sozinho suas “visitas a arquivo”: além de outros a fazer o mesmo, havia os trabalhadores com quem dialogava, e com cuja experiência, em diálogo e construção conjunta de ação, aprendia.
Os livros? As leituras? Como professor da Universidade de Pádua, aliás um dos mais jovens do corpo docente, certamente Negri estava obrigado a preparar aulas, e portanto a ler, e a ler muito. Mas a entrevista mostra como e por quê, no trabalho político, as leituras estavam orientadas pela prática, pelo que se via e se descobria nas fábricas de Porto Marghera.
Marghera, aliás, descobri também eu muito recentemente, está a meia hora de carro de Pádua, onde Negri ensinava. Vejam: https://maps.app.goo.gl/w8pgrVpYLrbr9YMu6
Mal comparando, e guardadas as devidas proporções, é como se alguém naqueles mesmos anos 1960 desse aulas na Universidade Federal da Bahia (UFBA), mas mantivesse uma rotina diária de panfletagem no Centro Industrial de Aratu (CIA) — sendo que não há Veneza à frente ou Marghera atrás, só uma vasta área erma em volta.
Em resumo: como fica evidente nesta entrevista de um dos mais conhecidos operaristas italianos, num trabalho político não há metodologia milagrosa, qualquer que seja o nome que se lhe dê, capaz de substituir o labor lento, paciente, constante e sistemático de diálogo e agitação, sempre adaptado às circunstâncias de tempo e lugar.
Certamente essa foi uma das fontes que ficaram na minha memória sobre o Negri viajar cotidianamente de Pádua para Porto Marghera para distribuir panfletos às 5 da manhã. Eu havia lido esse livro de entrevista com ele quando foi publicado. O exemplar se encontra desde 2010 na biblioteca da FFLCH na USP.