Por Miguel Serras Pereira
A questão que hoje aqui quero levantar, a título por assim dizer preliminar, tem a ver com a concepção herdada do(s) marxismo(s) e boa parte da tradição anarquista e libertária que atribui a uma classe universal — identificada em termos por vezes divergentes de autor para autor ou linha de pensamento para linha de pensamento — a tarefa de superar a sociedade de classes e/ou a dominação hierárquica do capitalismo.
É que creio que, ainda quando entendida a classe como agente em processo de construção através da acção política, formular em termos de classe a luta contra a sociedade de classes, a luta contra a dominação classista e hierárquica governante, abre a porta a equívocos e obscurece o traço distintivo e fundamental de uma alternativa democrática ao capitalismo. Esse traço distintivo fundamental — a acção instituinte de relações de poder igualitárias, de exercício igualitário aberto a todos sobre as decisões que os governam em sociedade — é, sem dúvida e necessariamente anti-classista, e inclui (embora não se esgote nelas) as relações sociais de produção. Mas é por isso mesmo que me parece preferível precisá-lo falando, por exemplo, em termos de cidadania comum, cidadania da gente comum, e de superação da distinção estrutural e permanente entre governantes e governados em todos os domínios submetidos ao poder do Estado. Com efeito — e para citar alguém de quem me sinto decididamente solidário e muito próximo —, se tanto a “classe trabalhadora mundial e unificada” como a “renovada identidade da classe trabalhadora” em processo de construção têm por definição a vocação de se extinguir no momento em que logrem afirmar-se como governantes ou acedam ao exercício do poder, teremos de concluir que não preexistem como realidade ou classe “em si”, nem persistem como classe ou identidade de classe, a partir do momento em que o seu poder se institui, o que significa também que ficaremos, então, sem saber ao certo do que falamos quando falamos da “classe trabalhadora mundial e unificada” ou da sua “renovada identidade”.[1]
Por outras palavras, e recorrendo a uma analogia pertinente, se é difícil encontrarmos uma crítica mais certeira do multiculturalismo do que aquela que, uma vez mais o João Bernardo nos oferece, quando escreve, por exemplo no mesmo ensaio-manifesto que acima referi: “Tudo somado, os multiculturalistas propõem-se preservar apenas identidades e culturas já estabelecidas e recusam a priori uma cultura [mundial e unificadora] em processo de construção”, concluindo que se trata, por isso, “de combater o multiculturalismo, tomando as mesmas matérias-primas culturais que ele pretende congelar no estado actual e na fragmentação geográfica, e construir com elas algo de muito diferente ou oposto, uma realidade nova e mundialmente integradora. É a luta do futuro contra a conversão do presente num mosaico de tradições”. Pois bem, não se segue daqui que seja necessário fazer corresponder a uma classe ou grupo social precisos e dados de antemão o sujeito histórico da transformação revolucionária. Bem pelo contrário, ao que me parece: podemos e, a meu ver, devemos pensar antes que a construção do agente é, desenvolvendo-se com ela, inseparável da transformação visada a partir, não de uma classe ou grupo universal que já o fosse antes de o ser, mas da grande maioria dos homens e mulheres que somos, assumindo como cidadãos comuns um projecto de autonomia e autogoverno que nos permita concebermo-nos e agirmos como responsáveis pelas leis e instituições que nos vinculam. Nesta perspectiva, a haver agente revolucionário identificável, este seria o conjunto dos cidadãos comuns empenhados na instituição da sua cidadania como governante. Ao mesmo tempo que esta cidadania governante se definiria como exercício livre, igualitário e responsável do poder político (incluindo evidentemente as áreas do trabalho, da economia, etc. entre os assuntos vitais da cidade) por aqueles mesmos que governa ou que através dele se governam. Assim, a divisa da “cidadania governante” preservaria e aprofundaria, ao mesmo tempo que a reformularia, mas retomando a sua verdade permanente, a universalização proposta pela velha divisa: “A emancipação dos trabalhadores há-de obra dos mesmos trabalhadores”.
Q.E.D.
[1] João Bernardo, Sobre a Esquerda e as Esquerdas, ensaio-manifesto publicado no Passa Palavra em 2014 e acessível aqui


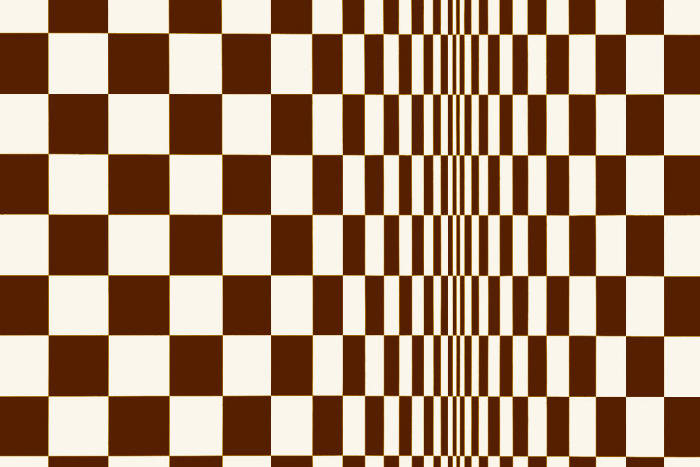
Q.E.D.: afinal, essa gororoba socialreformista está mais para Cornelius Bookchin do que para Murray Castoriadis – ou será o vice-versa?
Miguel,
No segundo de uma série de artigos recentemente publicada neste site com o título Anticapitalismo. Anti o quê?, observei o afã com que a esquerda contemporânea oculta as relações sociais de trabalho. Isto é tanto mais fácil quanto hoje as disparidades nos sistemas laborais são muito acentuadas, indo desde formas ainda aparentadas com as velhas oficinas artesanais e passando pelo taylorismo, que foi uma novidade há mais de um século, até à uberização enquanto expressão última do toyotismo. Em vez de chamar a atenção para o que existe de fundamental e de comum sob esta diversidade, que é a exploração de mais-valia, a esquerda — aquilo a que por preguiça vocabular continua a chamar-se esquerda — prefere abandonar a esfera das relações sociais de produção e falar só em termos de distribuição de rendimentos e de consumo. Essa esquerda já não reivindica a alteração das relações de trabalho, mas apenas que se ganhe mais uns dinheiritos aqui, mais uns beneficiozinhos acolá.
Mas, alheando-se das relações de produção e colocando as questões no plano dos rendimentos e do consumo, aquela esquerda confunde os estratos de trabalhadores qualificados com as camadas inferiores ou médio-inferiores de gestores e com os patrões menos abonados. Esta confusão de estratos de classes sociais opostas é uma das condições para o desenvolvimento do fascismo pós-fascista. É nesse meio social confuso que grassam identitarismos e ecologias.
Ora, discorrer em termos de cidadania ou de gente comum ou de quaisquer outras noções equivalentes é alimentar essa confusão entre estratos de classes sociais opostas. É especialmente importante hoje, numa época em que os sistemas de trabalho são muito diversificados, definir com clareza os limites das classes e as oposições entre elas.
E é aqui que a aparente distinção entre governantes e governados confunde mais do que esclarece. Eu admito, como tu sabes e como alguns leitores do Passa Palavra sabem também, que as empresas são, todas elas, dotadas de soberania. Por isso denomino o conjunto das empresas como Estado Amplo. É-se cidadão perante o Estado Restrito, mas perante o Estado Amplo ou se é explorado ou se é explorador. Os gestores, porém, são adeptos da discrição e do silêncio ideológico, a tal ponto que The Economist, num artigo recente, criticava a tendência manifestada ultimamente por vários chefes de empresa para se pronunciarem em público sobre questões de política corrente. Sensatamente, The Economist aconselhava-os a gerir e a estar calados. Para os gestores é essencial que os trabalhadores continuem a julgar que são governados pelos governos, sem cogitarem quem governa os governos.
No que diz respeito às relações de exploração e, portanto, à classe trabalhadora, precisamos antes de mais de noções rigorosas e não difusas.
João Bernardo,
há aqui talvez uma divergência real, mas não irresolúvel. Como sabes, eu próprio me tenho valido noutros textos da tua concepção do Estado Restrito e do Estado Amplo como ponto de partida e/ou de apoio das minhas posições. O problema que surge agora tem talvez a ver com o facto de eu conceber os dois Estados como duas formas de poder político, dois conjuntos de aparelhos politicamente governantes da forma capitalista da sociedade de classes. E de, ao mesmo tempo, pensar que a distinção estrutural e permanente (classista e estatal) entre governantes e governados ser mais fundamental do que a dela derivada oposição entre exploradores e explorados, primar sobre ela. Por outras palavras, muito esquematicamente, penso assim que a base da sociedade de classes e da sua economia são relações hierárquicas de poder político — em vez de conceber que as relações de poder têm origem no domínio económico, penso que são as relações sociais de produção que têm subjacente relações políticas hierárquicas, ou são um seu caso, momento e domínio particular. Ainda quando as relações hierárquicas governantes não se apresentem como políticas — como acontece em várias sociedades pré-capitalistas, ou na sociedade capitalista com a naturalização e despolitização da economia e das suas instituições. Este último aspecto é confirmado, de resto, pela tua observação final: “The Economist, num artigo recente, criticava a tendência manifestada ultimamente por vários chefes de empresa para se pronunciarem em público sobre questões de política corrente. Sensatamente, The Economist aconselhava-os a gerir e a estar calados. Para os gestores é essencial que os trabalhadores continuem a julgar que são governados pelos governos, sem cogitarem quem governa os governos”. E, pelo meu lado, quando insisto na cidadania governante, é evidente que não descuro que o seu exercício ou investirá formas de democratização radical do governo da economia ou não terá sentido.
João Bernardo,
para precisar um pouco melhor os termos da nossa discussão, acrescentarei ao que disse na minha resposta anterior ao teu comentário, que, se entendermos o terreno político como aquele que se reporta ao governo e instituições governantes da polis, a substituição pela cidadania governante da distinção hierárquica estrutural e permanente entre governantes e governados supera, justifica e conserva a oposição que estabeleces entre exploradores e explorados — bem como outras oposições e contradições afins (entre representantes e representados, ou dirigentes e executantes, por exemplo). Supera-a, justifica-a e conserva-a, ou reitera-a, contanto que saibamos ver, como me parece que devemos, que a centralidade da economia capitalista (ou, mais geralmente, classista) como instância governante fundamental é politicamente mantida e reproduzida na base da instituição de relações de poder hierárquicas que são outros tantos casos da distinção estrutural e permanente entre governantes e governados que é o traço decisivo de todas as sociedades classistas. Por fim, a alternativa da cidadania governante aponta para as formas institucionais e de governo da cidade numa sociedade que produza e socialize os seus membros — os institua — como iguais, capazes de governar e ser governados, ou, se preferes, como iguais que fazem da participação igualitária, regular e responsável, no governo a condição do reconhecimento do mesmo governo como legítimo.
O Miguel Serras Pereira está certo quando afirma que a própria economia capitalista assenta sobre bases políticas e que a própria gestão das empresas é uma modalidade de poder político, mas a exploração é algo mais: a exploração consiste na expropriação dos frutos do trabalho de uma classe por outra ou outras, expropriação esta que em sociedades pré-capitalistas resultava predominantemente da atuação de instituições políticas num sentido restrito, dado que a organização do trabalho cabia aos próprios trabalhadores, enquanto que no capitalismo se reveste de feições puramente econômicas na maior parte do tempo e os próprios capitalistas organizam o trabalho dos trabalhadores. Esse é o problema do texto acima: opor “o conjunto dos cidadãos comuns” à dominação hierárquica do capitalismo, mas sem que seja colocado o problema de como constituir e conservar relações de trabalho de novo tipo, não baseadas na transferência do produto do trabalho da classe produtora a outra ou outras, possibilita que a manutenção de relações de exploração dê origem a novas formas de dominação hierárquica e por aí a uma nova etapa de desenvolvimento do capitalismo ou a um novo modo de produção pós-capitalista igualmente baseado na exploração e na dominação hierárquica. Essa possibilidade resulta do fato de que, no momento em que a classe produtora se recusar a continuar sujeita à exploração econômica, tornar-se-á necessário que a classe ou as classes exploradoras imponham algum tipo de dominação hierárquica: se novas relações de produção não forem criadas, essa tarefa caberá inelutavelmente a alguns dos cidadãos comuns. A classe trabalhadora ainda é o sujeito revolucionário e deverá continuar a sê-lo porque só ela poderá desenvolver um novo sistema de trabalho, como aliás ela já vêm demonstrando em diversos processos revolucionários ao longo do tempo, nos quais ocorreram tentativas de inaugurar novas relações de trabalho simultaneamente à eliminação de todas as formas de dominação política. O texto acima coloca tudo em termos demasiadamente abstratos, mas, na concretude das lutas sociais, é assim que tem sido nos momentos em que as revoluções chegam ao seu ponto mais avançado. E nessas ocasiões é a classe trabalhadora o grupo social que conduz as transformações.
Fagner Enrique,
reconheço não ter “colocado o problema de como constituir e conservar relações de trabalho de novo tipo, não baseadas na transferência do produto do trabalho da classe produtora a outra ou outras”, e reconheço também que tudo o que escrevi não pode ignorar a necessidade de o colocar. Terei de voltar a ele noutra ocasião. Para já, limitar-me-ei a resumir a questão nos seguintes termos:
De facto, os actuais “governos representativos” e os seus diversos órgãos de exercício oficiais estão longe, cada vez mais longe, de ser as únicas instituições efectivamente governantes. Boa parte do poder político, se entendermos por este o poder de editar normas e tomar decisões que vinculam o conjunto dos cidadãos, é exercido à margem dos representantes eleitos e das magistraturas políticas explícitas, bem como dos aparelhos daquilo a que o JoãoBernardo chama o Estado Restrito, na esfera decisiva dita da “economia”. Assim, a repolitização explícita desta – tanto ao nível macro do planeamento e orientações estratégicas, como ao nível da empresa e do trabalho quotidiano – é uma condição necessária e primeira da democratização nos termos em que acima a entendo. Não há democratização efectiva do exercício do poder político governante que não passe pela democratização da economia. E, por fim, em vista da da repolitização democrática da economia política do capitalismo, parece-me evidente que a igualização dos rendimentos, inseparável democratização do mercado , segundo o princípio de um voto por cidadão, dificilmente deixará de ser um seu momento e/ou condição essencial. A propósito deste último aspecto (democratização dos “salários” — que deixariam de o ser — e da democratização do mercado), remeto para a tradução recentemente disponibilizada pela Fundación Andreu Nin de um artigo co-assinado por C. Castoriadis e D. Mothé, publicado em 1974, e cuja pertinência continua a ser a máxima: Autogestión y jerarquía, ( https://fundanin.net/2019/11/23/autogestion-y-jerarquia/?fbclid=IwAR2qxwvJIlMUIUUPtAmRngopAh5AS2sd92zml6Rwugv0Gb92F7qIvqAsXMs )