O curto prazo pode fazer pensar em uma vitória parcial, ao mesmo tempo que os efeitos mais duradouros não prometem, necessariamente, qualquer vitória. A história ainda está para ser escrita. Por Marcelo Lopes de Souza
Leia a 1ª parte e a 2ª parte deste artigo.
Retornando à questão do “papel secundário” dos movimentos urbanos: quais as suas causas?
Retorne-se à pergunta feita no início deste artigo: por que os movimentos urbanos têm sido ou pelo menos foram, nas duas últimas décadas, no Brasil, tão menos expressivos, em comparação com os do campo? Tudo indica que a resposta reside na própria maior complexidade sócio-espacial das cidades, especialmente das grandes cidades e metrópoles, em comparação com o campo: a complexidade dos interesses envolvidos é muito maior e, também por conta disso, muito maior é a chance de dispersão dos esforços e de não integração entre agendas e atores (individuais e coletivos). O fato de o solo urbano ser, para os pobres, basicamente um espaço-suporte (habitação, circulação — a reprodução da força de trabalho), e apenas marginal e “transversalmente” um meio de produção (assim utilizado para complementar a renda familiar em um espaço anexo à moradia ou, até mesmo, como “ponto de venda” em meio ao espaço público), favorece, juntamente com a multiplicidade e as barreiras econômicas e ideológicas/simbólicas entre ocupações, níveis de status e modos de vida, que as agendas e as lutas de atores específicos como favelados, moradores de loteamentos irregulares, moradores de bairros formais, ativistas de hip-hop, sindicalistas, sem-teto, feministas, ambientalistas e outros tantos sejam difíceis de ser coerentemente (mas sem subordinações apriorísticas e reducionismos) articuladas em prol de uma sinergia sociopolítica (consulte-se, para uma discussão mais profunda sobre esse assunto, SOUZA, 2006: Cap. 4 da Parte II).
 Há, ainda, um outro provável fator explicativo: o efeito de, por assim dizer, “drenagem de recursos e energia” exercido sobre os movimentos sociais pelo Partido dos Trabalhadores, nas décadas anteriores. O PT representou, quando de sua criação em 1980, uma relativa novidade, como foi notado por vários autores: um partido comprometido com a via institucional/parlamentar sem deixar, por isso, de ser de esquerda; um partido saído da luta de sindicatos de trabalhadores e fortemente influenciado pela esquerda católica (comunidades eclesiais de base etc.), não sendo nem social-democrata nem stalinista, e tampouco trotskista (a despeito da presença de agrupamentos trotskistas em seu interior); um partido que não era nem “reformista” nem, por outro lado, revolucionário no estilo leninista. Esse partido, que a muitos parecia tão adequado aos novos tempos de “transição para a democracia” no Brasil do início da década de 1980, mostrou-se, desde o começo, bastante talhado para ser uma espécie de interlocutor privilegiado e eventual parceiro institucional-governamental dos movimentos sociais, diferindo a sua prática do feitio “duro” dos partidos leninistas, que sempre tenderam a encarar os movimentos como simples “correias de transmissão” a serviço da agremiação partidária. O orçamento participativo de Porto Alegre ilustra perfeitamente a disposição que o PT apresentou de patrocinar, articulado com movimentos sociais e por eles inspirado, algumas experiências importantes de ampliação da margem de manobra para a participação da população no interior da “democracia” representativa. Essa abertura teve, porém, dois lados. A atração exercida pelo partido e pelos canais participativos institucionais por ele patrocinados foi tão grande que poderia ser comparada — seja aqui permitida uma metáfora astronômica — à atração exercida por “buraco negro” sobre a energia e a matéria situada em suas imediações: o PT desempenhou o papel de um “buraco negro” na vida sociopolítica brasileira, e muito especialmente nas cidades, sugando as energias e os recursos humanos da sociedade civil e canalizando-os para a militância partidária e instâncias participativas atreladas aos governos comandados pelo partido. Ao decair e “corromper-se” — fato que não deve ser visto como mero “acidente ético-institucional”, mas sim como uma decorrência largamente inevitável da própria instituição partido, com suas limitações e seus condicionamentos derivados do seu contexto potencial ou real de atuação, o Estado capitalista —, o PT deixou atrás de si uma paisagem de desolação. As virtudes do PT (particularmente visíveis durante a primeira década ou década e meia após sua criação) foram, simultaneamente, uma coisa boa e uma armadilha — uma armadilha com a qual as organizações dos movimentos sociais não estavam preparadas para lidar. Justamente a mais exuberante em matéria de movimentos nos anos 1970 e 1980, a cena urbana foi, de longe, a que mais sentiu os efeitos da drenagem de energias criativas e organizacionais bem como do declínio (ético-)político-ideológico do partido na virada do século XX para o século XXI.
Há, ainda, um outro provável fator explicativo: o efeito de, por assim dizer, “drenagem de recursos e energia” exercido sobre os movimentos sociais pelo Partido dos Trabalhadores, nas décadas anteriores. O PT representou, quando de sua criação em 1980, uma relativa novidade, como foi notado por vários autores: um partido comprometido com a via institucional/parlamentar sem deixar, por isso, de ser de esquerda; um partido saído da luta de sindicatos de trabalhadores e fortemente influenciado pela esquerda católica (comunidades eclesiais de base etc.), não sendo nem social-democrata nem stalinista, e tampouco trotskista (a despeito da presença de agrupamentos trotskistas em seu interior); um partido que não era nem “reformista” nem, por outro lado, revolucionário no estilo leninista. Esse partido, que a muitos parecia tão adequado aos novos tempos de “transição para a democracia” no Brasil do início da década de 1980, mostrou-se, desde o começo, bastante talhado para ser uma espécie de interlocutor privilegiado e eventual parceiro institucional-governamental dos movimentos sociais, diferindo a sua prática do feitio “duro” dos partidos leninistas, que sempre tenderam a encarar os movimentos como simples “correias de transmissão” a serviço da agremiação partidária. O orçamento participativo de Porto Alegre ilustra perfeitamente a disposição que o PT apresentou de patrocinar, articulado com movimentos sociais e por eles inspirado, algumas experiências importantes de ampliação da margem de manobra para a participação da população no interior da “democracia” representativa. Essa abertura teve, porém, dois lados. A atração exercida pelo partido e pelos canais participativos institucionais por ele patrocinados foi tão grande que poderia ser comparada — seja aqui permitida uma metáfora astronômica — à atração exercida por “buraco negro” sobre a energia e a matéria situada em suas imediações: o PT desempenhou o papel de um “buraco negro” na vida sociopolítica brasileira, e muito especialmente nas cidades, sugando as energias e os recursos humanos da sociedade civil e canalizando-os para a militância partidária e instâncias participativas atreladas aos governos comandados pelo partido. Ao decair e “corromper-se” — fato que não deve ser visto como mero “acidente ético-institucional”, mas sim como uma decorrência largamente inevitável da própria instituição partido, com suas limitações e seus condicionamentos derivados do seu contexto potencial ou real de atuação, o Estado capitalista —, o PT deixou atrás de si uma paisagem de desolação. As virtudes do PT (particularmente visíveis durante a primeira década ou década e meia após sua criação) foram, simultaneamente, uma coisa boa e uma armadilha — uma armadilha com a qual as organizações dos movimentos sociais não estavam preparadas para lidar. Justamente a mais exuberante em matéria de movimentos nos anos 1970 e 1980, a cena urbana foi, de longe, a que mais sentiu os efeitos da drenagem de energias criativas e organizacionais bem como do declínio (ético-)político-ideológico do partido na virada do século XX para o século XXI.
 Nem tudo é, porém, desalentador no panorama que se tem à frente. É importante atentar para as lições dos piqueteros argentinos e sem-teto, demonstrando que o “hiperprecariado” (os desempregados crônicos, os subempregados…) pode atuar como uma força crítica, e não, basicamente, apenas como coadjuvante das forças reacionárias, como sugeriram, em outro contexto histórico-espacial, Marx e Engels. E mais: o “hiperprecariado” pode ter um papel proativo relevante, ao lado de outros segmentos sociais. Com base nisso, uma outra reflexão que a experiência dos piqueteros e sem-teto (entre outros) sugere, reflexão essa ainda mais ampla, é a seguinte: um desafio notável parece ser o de demonstrar que os movimentos sociais urbanos não são “estruturalmente secundários”, como explicitamente pensava o Manuel Castells da época de La question urbaine (CASTELLS, 1972) e como, parcialmente e de maneira mais implícita que explícita, continuou pensando o Castells de The City and the Grassroots (CASTELLS, 1983). Se, no La question urbaine, Castells achava que, apesar de conjunturalmente importantes, os movimentos urbanos seriam sempre limitados enquanto não se atrelassem organicamente à luta operária (e aos partidos que organizam essa luta), em The City and the Grassroots Castells visualizou os movimentos urbanos contemporâneos como reações “locais” (e menos ou mais localistas…) à globalização e à (relativa) pasteurização de valores e modos de vida a ela associados. Se a ressalva do Castells de 1972 soa “velha” hoje em dia, a mensagem do Castells de 1983, apesar de vinculada a alguns avanços (como a maior valorização da dimensão espacial), no geral apresenta o agravante, pelos termos em que foi colocada, de que o autor nem sequer atribui aos movimentos um papel importante na superação do sistema — pela razão de que a superação do sistema não está mais no horizonte político-filosófico do Castells de 1983 (e cada vez menos esteve depois disso), mas sim algo como avanços locais e quase que incrementais. À luz da conjuntura política e ideológica internacional atual, essa postura soa um tanto “realista” e possui, ao mesmo tempo, um “charme pós-moderno”. Mas, ao mesmo tempo, é um modo neoconservador de subestimar o que se passa nos interstícios, e de subestimar o acaso, o inesperado, o imprevisível, o improvável… De subestimar, enfim, a criatividade e a astúcia populares, bem como a sua capacidade de indignação e resistência. É claro que reações criativas, indignadas e de grande capacidade de resistência não são sempre “revolucionárias”, podendo ser meramente adaptativas e até reforçar iniquidades. Mas… quem disse que precisam ser só isso?
Nem tudo é, porém, desalentador no panorama que se tem à frente. É importante atentar para as lições dos piqueteros argentinos e sem-teto, demonstrando que o “hiperprecariado” (os desempregados crônicos, os subempregados…) pode atuar como uma força crítica, e não, basicamente, apenas como coadjuvante das forças reacionárias, como sugeriram, em outro contexto histórico-espacial, Marx e Engels. E mais: o “hiperprecariado” pode ter um papel proativo relevante, ao lado de outros segmentos sociais. Com base nisso, uma outra reflexão que a experiência dos piqueteros e sem-teto (entre outros) sugere, reflexão essa ainda mais ampla, é a seguinte: um desafio notável parece ser o de demonstrar que os movimentos sociais urbanos não são “estruturalmente secundários”, como explicitamente pensava o Manuel Castells da época de La question urbaine (CASTELLS, 1972) e como, parcialmente e de maneira mais implícita que explícita, continuou pensando o Castells de The City and the Grassroots (CASTELLS, 1983). Se, no La question urbaine, Castells achava que, apesar de conjunturalmente importantes, os movimentos urbanos seriam sempre limitados enquanto não se atrelassem organicamente à luta operária (e aos partidos que organizam essa luta), em The City and the Grassroots Castells visualizou os movimentos urbanos contemporâneos como reações “locais” (e menos ou mais localistas…) à globalização e à (relativa) pasteurização de valores e modos de vida a ela associados. Se a ressalva do Castells de 1972 soa “velha” hoje em dia, a mensagem do Castells de 1983, apesar de vinculada a alguns avanços (como a maior valorização da dimensão espacial), no geral apresenta o agravante, pelos termos em que foi colocada, de que o autor nem sequer atribui aos movimentos um papel importante na superação do sistema — pela razão de que a superação do sistema não está mais no horizonte político-filosófico do Castells de 1983 (e cada vez menos esteve depois disso), mas sim algo como avanços locais e quase que incrementais. À luz da conjuntura política e ideológica internacional atual, essa postura soa um tanto “realista” e possui, ao mesmo tempo, um “charme pós-moderno”. Mas, ao mesmo tempo, é um modo neoconservador de subestimar o que se passa nos interstícios, e de subestimar o acaso, o inesperado, o imprevisível, o improvável… De subestimar, enfim, a criatividade e a astúcia populares, bem como a sua capacidade de indignação e resistência. É claro que reações criativas, indignadas e de grande capacidade de resistência não são sempre “revolucionárias”, podendo ser meramente adaptativas e até reforçar iniquidades. Mas… quem disse que precisam ser só isso?
Apesar disso tudo, os piqueteros nos oferecem também outras lições, referentes aos riscos de cooptação por parte do Estado — como, infelizmente, ocorreu com uma parte do movimento nos últimos anos (as organizações e os ativistas “kirchneristas”, ou seja, cooptados pelo projeto e pelas forças políticas associadas ao Presidente Nestor Kirchner e, depois, sua esposa, Cristina). E há, também, as importantes lições dos sem-teto brasileiros (desafios postos pelo tráfico de drogas… concorrência com organizações mais ou menos conservadoras, como associações de moradores… não importar “receitas” dos sem-terra…). Além do mais, há a experiência rica dos “eventos” e das organizações que têm como palco e cenário privilegiados as grandes cidades do “Primeiro Mundo” (e também do “Terceiro”), notadamente o “movimento por uma outra globalização”.
Um relevante protagonismo que a ortodoxia marxista não previa (e muito menos preconizava) − mas que tampouco deve ser saudado sem ressalvas
Se se considera a tradição do pensamento marxiano e marxista, está-se diante, ao se levar em conta a realidade brasileira das últimas décadas, de uma curiosa inversão. É sabido que Marx e Engels tinham pouco apreço pelo campesinato. Em alguns escritos chegaram mesmo a demonstrar, em relação a ele, um ligeiro desprezo e uma certa dose de desconfiança. Por exemplo, referindo-se, no Manifesto Comunista, ao papel civilizatório da burguesia, assim se exprimiram:
A burguesia submeteu o campo ao domínio da cidade. Criou cidades enormes, aumentou num grau elevado o número da população urbana face à rural, e deste modo arrancou uma parte significativa da população à idiotia [Idiotismus] da vida rural. [E, prosseguindo com uma sintomática analogia:] E do mesmo modo que tornou dependente o campo da cidade, tornou dependentes os povos bárbaros e semibárbaros dos civilizados, os povos agrícolas dos povos burgueses, o Oriente do Ocidente. (MARX e ENGELS, 1982a:111)
Sobre o papel político do campesinato, seus comentários em diversas obras, como o próprio Manifesto e O 18 brumário de Louis Bonaparte, não deixam margem a dúvidas:
Os camponeses detentores de parcelas constituem uma massa imensa, cujos membros vivem em situação idêntica, mas sem que entre eles existam múltiplas relações. O seu modo de produção isola-os uns dos outros, em vez de os levar a um intercâmbio mútuo. […] A parcela, o camponês e a família; e ao lado, uma parcela, um outro camponês e uma outra família. Umas quantas destas constituem uma aldeia, e umas quantas aldeias, um Departamento. Assim se forma a grande massa da nação francesa, pela simples adição de grandezas do mesmo nome, do mesmo modo como, por exemplo, um saco com batatas forma um saco de batatas. Na medida em que milhões de famílias vivem em condições econômicas de existência que as separam pelo seu modo de viver, pelos seus interesses e pela sua cultura dos das outras classes e as opõem a estas de um modo hostil, aquelas formam uma classe. Na medida em que subsiste entre os camponeses detentores de parcelas uma conexão apenas local e a identidade dos seus interesses não gera entre eles nenhuma comunidade, nenhuma união nacional e nenhuma organização política, não formam uma classe. São, portanto, incapazes de fazer valer o seu interesse de classe em seu próprio nome, quer por meio de um Parlamento, quer por meio de uma Convenção. Não podem representar-se, antes têm que ser representados. (MARX, 1982:502-3)
E, voltando ao Manifesto:
As camadas médias, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, todos eles, face ao declínio combatem a burguesia para assegurar a sua existência como camadas médias. Não são, pois, revolucionárias, mas conservadoras. (MARX e ENGELS, 1982a:116)
E, páginas adiante, ao criticarem o “socialismo pequeno-burguês”, à época muito forte na França:
Em países como a França, onde a classe camponesa perfaz muito mais da metade da população, era natural que escritores que se apresentaram a favor do proletariado e contra a burguesia aplicassem à sua crítica do regime burguês o critério da pequena burguesia e do pequeno campesinato, e tomassem o partido dos operários a partir da posição da pequena burguesia. Assim se formou o socialismo pequeno-burguês. (MARX e ENGELS, 1982a:128)
Os excertos acima são, decerto, suficientes para ilustrar o ponto. De um ângulo marxista clássico, uma situação na qual os trabalhadores do campo — largamente organizados em torno da controvertida categoria “camponeses”, ainda que, obviamente, inseridos em um contexto muito distinto e apresentando características em parte muito diferentes daquelas delineadas por Marx e Engels em meados do século XIX —, em vez de virem a reboque do “proletariado” (notadamente do operariado industrial), assumem um papel de nítida liderança, cria um embaraço teórico. [1]
É bem verdade que Marx e Engels admitiram, acompanhando a efervescência pré-revolucionária no Império Russo da segunda metade do século XIX, que a tradicional comunidade aldeã russa poderia constituir-se em um ponto de partida para um ulterior desenvolvimento sob a forma de propriedade comunista, com a possibilidade, portanto, de que se passasse diretamente do “comunismo primitivo” ao pós-capitalismo. Entretanto, eles não deixaram de ressalvar: desde que a revolução na Rússia se tornasse “[…] o sinal de uma revolução proletária no Ocidente, de modo que ambas se completem” (MARX e ENGELS, 1982b:98). O campesinato deveria vir a reboque do operariado, política e ideologicamente, por maior que pudesse ser a sua relevância em circunstâncias particulares. A liderança rumo ao socialismo haveria de caber ao proletariado, nunca ao campesinato. [2]
 É razoável pensar que a muito maior complexidade das cidades, em particular das metrópoles e grandes cidades, em matéria de interesses e conflitos, seja um fator decisivo para explicar essa situação. Ainda se fazem necessários, contudo, mais esforços para refletir com profundidade sobre as causas desse aparente paradoxo.
É razoável pensar que a muito maior complexidade das cidades, em particular das metrópoles e grandes cidades, em matéria de interesses e conflitos, seja um fator decisivo para explicar essa situação. Ainda se fazem necessários, contudo, mais esforços para refletir com profundidade sobre as causas desse aparente paradoxo.
O problema que desejei ressaltar não foi, porém, o das formas de se acomodar a interpretação da práxis e do papel preeminente dos sem-terra em meio aos demais movimentos sociais brasileiros da atualidade de modo a preservar uma “coerência teórica” — deixo esse tipo de esforço, de bom grado, aos intelectuais de corte marxista diretamente comprometidos com esse movimento e suas organizações. O que quero aqui salientar é, para além da questão (em si mesma relevante) das causas desse quadro, o problema relativo às suas consequências. Até que ponto a ascendência organizacional e estratégica exercida pelo MST sobre uma organização de trabalhadores urbanos (empregados e desempregados) como o MTST pode conduzir a equívocos, por conta de uma visão excessivamente simplificada (e mesmo reducionista e estereotipada) acerca da dinâmica sócio-espacial na grande cidade e das relações cidade-campo? É bem verdade que o MTST buscou ou tem buscado “emancipar-se” intelectualmente do MST, e em parte parece ter conseguido: por exemplo, perdeu importância a problemática (embora parcialmente interessante) ideia dos “assentamentos rururbanos”, oficialmente advogada pelo MTST, no passado, como modelo privilegiado de organização espacial. [3] Contudo, esse é só um aspecto. É difícil, para uma organização relativamente pequena como o MTST, ainda por cima originária do próprio MST, não ter em seu irmão maior e mais velho, com todo o seu poderio, uma referência de sucesso e, por tabela, também uma referência organizacional e política… Ou, então, resistir ao assédio de partidos políticos de tipo leninista, como, aliás, já vem ocorrendo, mais recentemente…
Complexidade de uma onda de protestos política e ideologicamente disputada
Em artigo publicado n’O Estado de São Paulo de 19/06/2013, o festejado antropólogo Roberto da Matta, a despeito de não ser propriamente um gênio da pesquisa social crítica (ou, quem sabe, justamente por isso), conseguiu resumir bem uma parte da interpretação da classe média a respeito da onda de protestos de junho de 2013: “[…] uma surpreendente onda de tumultos motivada pela total inércia dos governantes diante do caos que todos vivemos nas cidades brasileiras, sem transporte urbano, com um nível de criminalidade que tangencia o da guerra civil e pela impossibilidade de usar o automóvel por falta de espaço e educação cívica.” Com todos os estereótipos habituais e um indisfarçado viés de classe, Da Matta sintetizou, mesmo não tendo sido essa sua intenção, os sentimentos difusos da pequena burguesia das grandes e médias cidades. Claro está que isso nada tem a ver com crítica anticapitalista, assim como as objeções ao governo do PT e aos partidos se deram, em grande medida, “pela direita” (de um modo neoconservador e, não raro, [proto]fascista), e não “pela esquerda”. Esse espírito foi capturado, ainda no calor dos acontecimentos, por PASSA PALAVRA (2013a e 2013b).
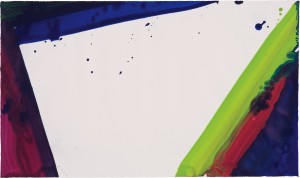 Inicialmente o sentido parecia ser quase unívoco: o espaço público (entendido não como vago sinônimo de “cena pública” ou “esfera pública”, mas sim em sua expressão geográfica, de espaço material de ruas e praças), amiúde “público” de maneira puramente formal, na condição de espaço de coletivo quotidiano gerido e mantido pelo Estado, adquiriu uma rara visibilidade. Tornou-se público em sentido forte, sociopoliticamente. Aos poucos, porém, a violência não só da polícia, mas também de manifestantes (em geral, [proto]fascistas) contra manifestantes (em geral, de esquerda, seja a esquerda partidária ou a libertária), foi minando, sob o signo da intolerância e do ódio, a dimensão verdadeiramente pública daquele modo de vivenciar o espaço de circulação de todos os dias. Sintomaticamente, assustado com os rumos da onda de protesto, o MPL decidiu, em 21 de junho, não convocar novos atos, por temer contribuir, involuntariamente, com a escalada de cooptação da mobilização por setores conservadores. Entre o dia 6 de junho, quando o MPL levou cerca de 2.000 pessoas às ruas de São Paulo contra o aumento da tarifa de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,20, e o dia 21 do mesmo mês, duas coisas ocorreram: a ampliação da mobilização e dos protestos em escala nacional, alcançando muitas cidades, inclusive cidades médias e do interior do país; e, ao mesmo tempo, a ampliação da agenda de resistência e protesto de uma forma que a enriquecia mas, em parte, igualmente a descaracterizava, e em certo sentido negava a essência crítico-radical do conteúdo das forças políticas que originalmente chamaram à mobilização.
Inicialmente o sentido parecia ser quase unívoco: o espaço público (entendido não como vago sinônimo de “cena pública” ou “esfera pública”, mas sim em sua expressão geográfica, de espaço material de ruas e praças), amiúde “público” de maneira puramente formal, na condição de espaço de coletivo quotidiano gerido e mantido pelo Estado, adquiriu uma rara visibilidade. Tornou-se público em sentido forte, sociopoliticamente. Aos poucos, porém, a violência não só da polícia, mas também de manifestantes (em geral, [proto]fascistas) contra manifestantes (em geral, de esquerda, seja a esquerda partidária ou a libertária), foi minando, sob o signo da intolerância e do ódio, a dimensão verdadeiramente pública daquele modo de vivenciar o espaço de circulação de todos os dias. Sintomaticamente, assustado com os rumos da onda de protesto, o MPL decidiu, em 21 de junho, não convocar novos atos, por temer contribuir, involuntariamente, com a escalada de cooptação da mobilização por setores conservadores. Entre o dia 6 de junho, quando o MPL levou cerca de 2.000 pessoas às ruas de São Paulo contra o aumento da tarifa de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,20, e o dia 21 do mesmo mês, duas coisas ocorreram: a ampliação da mobilização e dos protestos em escala nacional, alcançando muitas cidades, inclusive cidades médias e do interior do país; e, ao mesmo tempo, a ampliação da agenda de resistência e protesto de uma forma que a enriquecia mas, em parte, igualmente a descaracterizava, e em certo sentido negava a essência crítico-radical do conteúdo das forças políticas que originalmente chamaram à mobilização.
Não obstante tudo isso, seria um grave equívoco reduzir a evolução e os desdobramentos da onda de protestos a um “sequestro” político-ideológico generalizado de uma mobilização que, no princípio, tinha, pelo menos indiretamente, um “conteúdo de classe” definido (leia-se: estudantes e jovens politizados e na sua maioria de classe média revelando elevada consciência crítica e uma pauta solidária com os interesses objetivos dos trabalhadores), e que, paulatinamente, foi virando um fenômeno marcado pelo “nacionalismo”, pelos sentimentos “pequeno-burgueses” e mesmo “[proto]fascistas”. Restringir-se interpretativamente a isso significará, a meu ver, que as dificuldades para separar o joio do trigo e valorizar os aspectos positivos da mobilização popular — por imposição de lentes tradicionais, comuns até mesmo na esquerda não partidária — estarão turvando a visão e impedindo que se percebam os ganhos potenciais da incorporação (talvez efêmera, mas talvez nem sempre) de “novos personagens que entram em cena”, para lembrar novamente o título do livro de Eder Sader. Com sensibilidade, um observador dos acontecimentos (que assinou com o pseudônimo “Vermelho e Preto”), em meio a um longo comentário postado a propósito de um dos textos do Passa Palavra sobre a “Revolta dos Coxinhas”, assim advertiu:
Do milhão de pessoas que saíram às ruas, a esmagadora maioria usava verde e amarelo. Eram os “Coxinhas”, como dizem. Levantavam cartazes contra a corrupção. Muitos desfilavam, tirando fotos para postar no Facebook. Mas a juventude que “concretamente” temos é essa, e não outra. A maioria deles sente a merda em que estamos afundados. Grande parte das reivindicações era por saúde e educação. Muitos jovens gays mostraram suas caras sem máscaras. As ruas se abriram outra vez, e isso é uma grande conquista!
Moral da história: o contrário da ingenuidade não precisam e nem devem ser a rabugice e o excesso de temor. Segundo Pablo Ortellado, citado em matéria de 24/06/2013 da Folha de S. Paulo, a grande mídia — entre outros fatores —, pela maneira como pautou os protestos em meados de junho, colaborou para atrair agentes não de esquerda (ou mesmo conservadores) para as ruas. Isso teve, provavelmente, um peso significativo, ao lado dos demais fatores que estão por trás da ampliação da agenda de demandas e do leque de manifestantes: o conservadorismo de grande parte da juventude, mesclado com sentimentos difusos de indignação e recusa (de parte) do status quo. Quanto a esse conservadorismo, é certo que o espectro do “[proto]fascismo” (ou “fascismo quotidiano”) sempre ronda movimentos de massa sem conteúdo anticapitalista definido. Não seria prudente subestimar esse perigo. Contudo, superestimá-lo também seria nefasto, por nos levar a fechar os olhos e o coração para novos agentes e os aspectos positivos dessa liberação de energia social contida, em nome de um modelo demasiado restritivo de “boa mobilização de classe” e “agenda política coerente”. Com prós e contras, com coisas ótimas e péssimas, com pressupostos e implicações em parte entusiasmantes, em parte preocupantes (ou até lamentáveis), o povo foi para as ruas e teve lugar uma notável onda de mobilização e protestos. Se vamos conseguir extrair lições equilibradas — e, mais fundamentalmente, quais serão os desdobramentos de médio e longo prazos de tudo isso —, eis aí algo que a história se encarregará de responder.
 É lícito presumir que a muito maior complexidade sócio-espacial das cidades (em comparação com o campo), que vem dificultando um protagonismo e uma influência maior dos movimentos sociais urbanos de conteúdo anticapitalista, contribuiu, por outro lado, para o caráter extremamente heterogêneo e amorfo da onda de protestos de junho de 2013 nas cidades brasileiras — e, levando-se em conta a correlação de forças hoje existente no Brasil, para a crescente visibilidade de forças neoconservadoras em meio à onda de protestos. A hegemonia político-ideológica conservadora, é bem verdade, não se impôs de forma absoluta; mas a maré montante do conservadorismo e do moralismo pequeno-burguês foi real, e apenas explicitou algo que estava, o tempo todo, nos subterrâneos do tecido social, e que podia ser visualizado ou auscultado quando de pesquisas de opinião a propósito de temas como “diminuição da maioridade penal”, “introdução da pena de morte”, “natureza e papel do MST” e outros tantos.
É lícito presumir que a muito maior complexidade sócio-espacial das cidades (em comparação com o campo), que vem dificultando um protagonismo e uma influência maior dos movimentos sociais urbanos de conteúdo anticapitalista, contribuiu, por outro lado, para o caráter extremamente heterogêneo e amorfo da onda de protestos de junho de 2013 nas cidades brasileiras — e, levando-se em conta a correlação de forças hoje existente no Brasil, para a crescente visibilidade de forças neoconservadoras em meio à onda de protestos. A hegemonia político-ideológica conservadora, é bem verdade, não se impôs de forma absoluta; mas a maré montante do conservadorismo e do moralismo pequeno-burguês foi real, e apenas explicitou algo que estava, o tempo todo, nos subterrâneos do tecido social, e que podia ser visualizado ou auscultado quando de pesquisas de opinião a propósito de temas como “diminuição da maioridade penal”, “introdução da pena de morte”, “natureza e papel do MST” e outros tantos.
Evidenciando uma vez mais o óbvio, há duas formas de se contrapor ao “centro” (que, no Brasil atual, e nos vários níveis de governo, comumente vai da “centro-esquerda” à “centro-direita”): “pela esquerda” e “pela direita”. Na onda de protestos de junho de 2013, as duas formas estiveram presentes. O fato de ambas atacarem o tal “centro” não poderia, jamais, nos levar a confundi-las; mas tampouco deveríamos reduzir os eventos a uma ou a outra — motivados, nós, das esquerdas, pelo medo do vetor conservador. Os protestos foram uma mescla tensa e oscilante de tendências diferentes e em parte opostas. Do ponto de vista do acúmulo ou não de avanços, o curto prazo pode fazer pensar em uma vitória parcial, ao mesmo tempo que os efeitos mais duradouros não prometem, necessariamente, qualquer vitória. A história ainda está para ser escrita, e é imprescindível que, no universo das forças anticapitalistas, se amplie a consciência de que, se autocríticas forem feitas e certas lições aprendidas, nosso papel, como coautores dessa história, pode fazer com que um determinado potencial — associado à presença de atores novos e suas pautas no espaço público —, que a muitos ainda parece sobretudo negativo, se mostre com o tempo mais matizado e aproveitável.
Notas
[1] Uma aparente exceção é representada pelo maoísmo, que conferiu aos camponeses um papel de grande destaque, por razões evidentes (já que a economia chinesa era basicamente agrária). Na verdade, o que o maoísmo fez foi, em parte, generalizar uma peculiaridade da situação da própria China. Esse tipo de “adaptação” promovido por Mao pode ser considerado, sem embargo, como aberrante relativamente à tradição marxista clássica, incluído aí o próprio pensamento marxiano.
[2] De um ponto de vista anarquista clássico, por outro lado, já não haveria maiores embaraços teóricos, dada a tendência, comum a muitos anarquistas do século XIX, de se referirem ao campesinato em termos antes carinhosos e simpáticos que depreciativos. No entanto, é o marxismo, e não o anarquismo clássico, que fornece uma parte essencial do substrato político-filosófico que anima a organização MST…
[3] Os “assentamentos rururbanos” estariam localizados na periferia ou na franja rural-urbana das grandes cidades, permitindo às famílias de trabalhadores manter algum tipo de ocupação propriamente urbana mas, ao mesmo tempo, desenvolver uma agropecuária de subsistência (pequenos cultivos e pequenas criações de animais). Uma rápida análise crítica dessa proposta foi oferecida pelo autor em SOUZA (2006:307-8).
Referências bibliográficas
CASTELLS, Manuel (1972): La question urbaine. Paris: François Maspero.
———- (1983): The City and the Grassroots. A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley e Los Angeles: University of California Press.
MARX, Karl (1982 [1852]): O 18 brumário de Louis Bonaparte. In: MARX/ENGELS: Obras escolhidas [Tomo I]. Moscou e Lisboa: Edições Progresso e Edições “Avante!”.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich (1982a [1848]): Manifesto do Partido Comunista. In: MARX/ENGELS: Obras escolhidas [Tomo I]. Moscou e Lisboa: Edições Progresso e Edições “Avante!”.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich (1982b [1882]): Prefácio à (segunda) edição russa de 1882 [do Manifesto do Partido Comunista]. In: Obras escolhidas. Moscou e Lisboa: Edições Progresso e edições “Avante!”.
PASSA PALAVRA (2013a): 20 de junho: A Revolta dos Coxinhas. (Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra em 21/06/2013).
———- (2013b): Uma nação em cólera: A Revolta dos Coxinhas. (Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra em 21/06/2013).
SOUZA, Marcelo Lopes de (2006): A prisão e a ágora. Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Ilustrações: obras de Sam Francis.
Os leitores portugueses que não percebam certos termos usados no Brasil
e os leitores brasileiros que não entendam outros termos usados em Portugal
encontrarão aqui um glossário de gíria e de expressões idiomáticas.







