Conjugando o duplo processo de difusão pelos doutrinadores e de apropriação pelas massas, a ecologia converteu-se no principal lugar-comum dos nossos dias. Por João Bernardo
A ecologia é hoje uma corrente tão vasta e os seus defensores são tão numerosos que qualquer um pode escapar-se das críticas dizendo que elas não o incluem. Além de ser um movimento de opinião a ecologia até pode ser ainda uma ciência, e há especialistas desta ciência que não partilham as teses geralmente defendidas pelo movimento ecológico. Situações deste tipo ocorrem sempre que as multidões se apropriam de um núcleo de ideias, esbatendo certos aspectos e realçando outros e, neste processo, conferindo a tudo um denominador comum.
1.
 A ecologia permeou a tal ponto as opiniões que se converteu numa verdade incontroversa, bastando-lhe como justificativa a sua própria divulgação. É difícil duvidar quando todos pensam o mesmo. A ecologia veio substitur o antigo espírito cívico, e se outrora havia uma moral a presidir ao trato entre seres humanos, hoje há uma moral que pretende gerir as relações entre a humanidade e o que se considera natureza. A mentalização começa cedo e nas escolas, até nas creches, onde antes se ensinava o comportamento cívico, ensina-se hoje obrigatoriamente o comportamento ecológico. Os lugares-comuns mudaram de plano.
A ecologia permeou a tal ponto as opiniões que se converteu numa verdade incontroversa, bastando-lhe como justificativa a sua própria divulgação. É difícil duvidar quando todos pensam o mesmo. A ecologia veio substitur o antigo espírito cívico, e se outrora havia uma moral a presidir ao trato entre seres humanos, hoje há uma moral que pretende gerir as relações entre a humanidade e o que se considera natureza. A mentalização começa cedo e nas escolas, até nas creches, onde antes se ensinava o comportamento cívico, ensina-se hoje obrigatoriamente o comportamento ecológico. Os lugares-comuns mudaram de plano.
A criação de uma ideologia de massas é um processo complicado, que requer tanto uma iniciativa consciente e planificada dos novos doutrinadores como uma disposição das massas para receberem a nova doutrina e se apropriarem dela.
O capitalismo gerou sociedades muito complexas, em que as cisões entre classes são ao mesmo tempo conexões de classes e em que os conflitos vão a par da formação de elos e redes de afinidade. Por este motivo as ideias, quando se difundem, ultrapassam o meio social que as gerou. A tão repetida tese de Marx e Engels de que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante é incompleta. É também errada no mecanismo unidireccional que supõe, porque as classes dominantes apropriam-se igualmente das ideias dos explorados, convertem-nas e moldam-nas, assim como o mesmo se passa em sentido contrário. A ideologia dominante é uma teia imbricada de ideias provenientes das várias classes opostas, e é este o cimento ideológico da sociedade. Quando ideias de proveniência diversa se fundem numa amálgama cujos componentes têm uma origem indestrinçável, surge o lugar-comum, que é a modalidade mais forte de enraizamento ideológico. É este o estado que a ecologia atingiu hoje.
Mas a formação de uma ideologia generalizada não ocorre apenas no plano das grandes massas, alheio às decisões individuais, e no caso da ecologia os doutrinadores originários tomaram providências para assegurar a difusão das suas ideias. O Clube de Roma é um bom exemplo, fundado em 1968 e reunindo em diversos países empresários, altos gestores, figuras da tecnocracia científica e políticos. Constituindo-se ao mesmo tempo como um think tank e um lobby, ou seja, um centro de estudos e um órgão de pressão, o Clube de Roma actuou em dois níveis, tanto encomendando pesquisas especializadas como incentivando a divulgação junto ao grande público dos temas ecológicos e das teses do decrescimento económico. Este tipo de dupla actuação foi adoptado por outras instituições e assegurou a difusão da ecologia, permitindo-lhe, na época oportuna, ser assimilada por um número cada vez maior de pessoas, que a converteram na grande ideologia dos nossos dias.
Por um lado, os ecologistas consolidaram a sua posição nos meios académicos. Contornando o facto de serem muitíssimo minoritários entre os cientistas das áreas da física, da química e da economia e de serem minoritários também entre os da biologia e da agronomia, os ecologistas fundaram departamentos próprios. Normalmente os departamentos nas universidades e nos centros de pesquisa obedecem à divisão por áreas de conhecimento, quaisquer que sejam as ideias e as perspectivas de análise dos seus membros; os departamentos criados pelos ecologistas, porém, reúnem apenas pessoas com as mesmas ideias e perspectivas de análise comuns. Evidentemente que nestes departamentos os ecologistas têm o exclusivo das opiniões e estão protegidas da crítica interna. Conseguiram deste modo revestir-se de uma aura académica, de que sem isso nunca teriam beneficiado. Por outro lado, eles penetraram em força no meio jornalístico, o que lhes deu ocasião para se colocarem de permeio entre questões científicas complexas e a sua banalização para consumo do grande público. Simplificando ao ponto de adulterarem, ocultando opiniões contrárias e empregando a referência a um departamento universitário como se fosse o argumento último, os jornalistas permitiram à minoria de universitários ecologistas obter o prático monopólio da opinião pública. É preciso lembrar que os jornalistas ocupam uma situação privilegiada, porque sem saberem nada em especial aprenderam a técnica de escrever ou falar sobre tudo em geral.
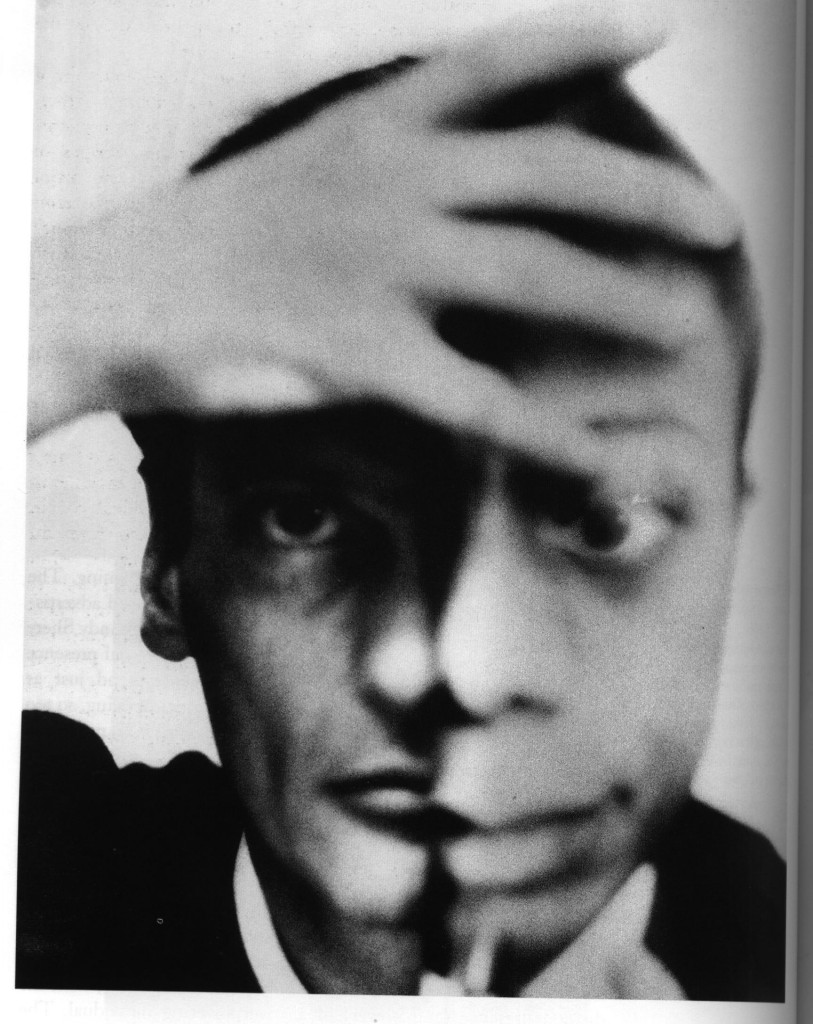 E assim uma seita, que na esfera científica é marginal e contestada, conseguiu adquirir a hegemonia ideológica, porque não são os cientistas quem forma a opinião, mas os jornalistas. Conjugando o duplo processo de difusão pelos doutrinadores e de apropriação pelas massas, a ecologia converteu-se no principal lugar-comum dos nossos dias. Sustentável somou-se à lista dos termos esvaziados de qualquer conteúdo preciso e repetidos ritualmente. A partir deste momento os processos adquirem um automatismo interno e o simples facto de a ecologia ser a ideologia maioritária é considerado como garantia da sua correcção.
E assim uma seita, que na esfera científica é marginal e contestada, conseguiu adquirir a hegemonia ideológica, porque não são os cientistas quem forma a opinião, mas os jornalistas. Conjugando o duplo processo de difusão pelos doutrinadores e de apropriação pelas massas, a ecologia converteu-se no principal lugar-comum dos nossos dias. Sustentável somou-se à lista dos termos esvaziados de qualquer conteúdo preciso e repetidos ritualmente. A partir deste momento os processos adquirem um automatismo interno e o simples facto de a ecologia ser a ideologia maioritária é considerado como garantia da sua correcção.
A ecologia permeou todo o espectro político, desde a direita mais à direita até à esquerda mais à esquerda, porque nenhum candidato a eleições está disposto a perder votos por se posicionar contra o lugar-comum. É um sintoma da debandada ideológica do marxismo que até pequeninos partidos e grupos sem quaisquer esperanças eleitorais recorram à ecologia como isca para os raros adeptos. Os ecologistas afirmam-se em todo o mundo como uma das maiores forças políticas do nosso tempo, se não mesmo a maior, ocupando uma posição análoga à que os eugenistas detiveram na primeira metade do século passado. Ernst Haeckel, o fundador da ecologia — pelo menos quem lhe cunhou o nome — formulou a definição de que «a política é biologia aplicada», para algumas décadas depois os seguidores de Hitler, que se situavam num campo que fora também o de Haeckel, anunciarem que «o nacional-socialismo não é mais do que biologia aplicada». Do mesmo modo, os tecnocratas ecologistas pretendem que a política passe a ser ecologia aplicada, o que lhes permitiria, por um lado, impor à sociedade os pretensos limites que consideram existir na natureza e, por outro lado, efectuar o policiamento da própria natureza. Nunca o sonho tecnocrático havia aspirado a tamanhos horizontes.
2.
Em qualquer ideologia de massas, a diversidade de opiniões, longe de a enfraquecer, assegura-lhe plasticidade. Para funcionarem, as ideologias, tal como a linguagem, requerem um certo grau de ambiguidade, de modo a que cada pessoa, em cada momento, as possa entender da maneira que lhe é mais oportuna ou mais favorável. O lugar-comum não se define no perímetro da ideologia, onde se situam interpretações diferentes e em alguns aspectos opostas, mas na teia que liga todas essas interpretações nos mesmos pressupostos.
Simplificando muito os contrastes que garantem a flexibilidade ideológica da ecologia, ressalto duas posições extremas. Por um lado, há quem diga que a ecologia se destina a salvar a humanidade do capitalismo e, por outro lado, há quem diga que se destina a salvar o planeta da humanidade.
O que existe de comum entre estas duas posições é a noção de que o carácter nocivo do capitalismo advém não da exploração da força de trabalho mas da depredação dos recursos naturais. A tendência à crescente acumulação de capital é entendida como uma tendência a gastar cada vez mais o solo e o subsolo e a deteriorar a atmosfera. Explica-se assim a deslocação de sentido da palavra explorar, que em vez de caracterizar as relações, internas ao capitalismo, entre os patrões e os trabalhadores passa a caracterizar as relações entre a economia capitalista, considerada na sua unidade, e o meio ambiente. Um dos exemplos mais ridículos desta deslocação de sentido é dado pela Ley de Derechos de la Madre Tierra, Lei dos Direitos da Mãe Terra, promulgada pelo governo boliviano em Dezembro de 2010, que chega ao ponto de estipular, no Artigo 9, alínea d: «São deveres das pessoas naturais e jurídicas, públicas ou privadas: […] Assumir práticas de produção e hábitos de consumo em harmonia com os direitos da Mãe Terra».
 É por este viés que da tese de que a ecologia se destina a salvar a humanidade do capitalismo se transita para a tese de que a ecologia se destina a salvar o planeta da humanidade. Se o capitalismo for entendido como uma unidade e as relações de exploração forem consideradas não como a clivagem fundamental mas como uma simples fricção interna daquela unidade, então o capitalismo fica confundido com a humanidade. Em ambos os casos o principal antagonismo é o que oporia a sociedade humana à natureza, considerando-se que o sistema económico tem, ou pode ter, um efeito destrutivo sobre a natureza e que a tecnologia industrial eleva esse efeito destrutivo a um grau sem precedentes.
É por este viés que da tese de que a ecologia se destina a salvar a humanidade do capitalismo se transita para a tese de que a ecologia se destina a salvar o planeta da humanidade. Se o capitalismo for entendido como uma unidade e as relações de exploração forem consideradas não como a clivagem fundamental mas como uma simples fricção interna daquela unidade, então o capitalismo fica confundido com a humanidade. Em ambos os casos o principal antagonismo é o que oporia a sociedade humana à natureza, considerando-se que o sistema económico tem, ou pode ter, um efeito destrutivo sobre a natureza e que a tecnologia industrial eleva esse efeito destrutivo a um grau sem precedentes.
Esta suposição implica necessariamente duas ordens de ideias. Em primeiro lugar, admite-se que perante uma sociedade activa exista uma natureza passiva, gerando-se nesta assimetria um antagonismo. Em segundo lugar, conclui-se dessa assimetria que quanto mais desenvolvida for uma técnica, maior será o seu efeito destrutivo. Com frequência estas duas noções acarretam uma terceira, a de que as sociedades com tecnologias rudimentares, assim como não exerceriam efeitos destrutivos sobre a natureza, também seriam internamente harmónicas.
Estas noções constituem o núcleo ideológico do lugar-comum da ecologia e vou analisar criticamente cada uma delas.
3.
A ideia de que haja um antagonismo fundamental entre as sociedades e a natureza leva necessariamente a secundarizar as contradições existentes no interior de cada uma destas esferas. Supõe-se que para além das divergências de interesses que separam os exploradores e os explorados, a sociedade que os reúne esteja provida de uma tecnologia oposta ao meio natural que a rodeia.
 É curioso como a velha dualidade do Bem e do Mal se identificou com esta oposição. Os arqueólogos que têm tentado reconstituir as concepções vigentes no neolítico e os pesquisadores que se dedicam à análise das narrações mitológicas consideram que um dos elementos fundadores das ideologias arcaicas era a oposição entre o mundo civilizado e o espaço selvagem. Na época que estudei mais detalhadamente, durante o regime senhorial europeu, as áreas de cultivo regular, tanto o intensivo, em redor das habitações, como o extensivo, mais distante, opunham-se à área não cultivada, aos bosques e pântanos. E era a área dominada tecnicamente pela sociedade, onde vigorava a agricultura, que se identificava com o Bem e gradualmente se cristianizou, enquanto que os incultos, lugar de todos os perigos, se identificavam com o Mal, vivendo ali pessoas dotadas de poderes maléficos. As caçadas a que os monarcas e demais grandes senhores procediam regularmente nos bosques e outras áreas incultas — ou as pescarias, no caso de Luís o Pio — não eram, como frequentemente se pensa, um exercício guerreiro, mas uma extensão quase ritual do mundo dominado pelas técnicas sobre o mundo selvagem, da ordem sobre a desordem, do Bem sobre o Mal. De igual modo, os animais ferozes aprisionados de que alguns soberanos se rodeavam não eram uma antecipação dos jardins zoológicos mas a exibição do triunfo da ordem social sobre a desordem selvagem. O mesmo carácter tinham, no Egipto antigo, as expedições dos faraós no deserto e o seu séquito de feras aprisionadas.
É curioso como a velha dualidade do Bem e do Mal se identificou com esta oposição. Os arqueólogos que têm tentado reconstituir as concepções vigentes no neolítico e os pesquisadores que se dedicam à análise das narrações mitológicas consideram que um dos elementos fundadores das ideologias arcaicas era a oposição entre o mundo civilizado e o espaço selvagem. Na época que estudei mais detalhadamente, durante o regime senhorial europeu, as áreas de cultivo regular, tanto o intensivo, em redor das habitações, como o extensivo, mais distante, opunham-se à área não cultivada, aos bosques e pântanos. E era a área dominada tecnicamente pela sociedade, onde vigorava a agricultura, que se identificava com o Bem e gradualmente se cristianizou, enquanto que os incultos, lugar de todos os perigos, se identificavam com o Mal, vivendo ali pessoas dotadas de poderes maléficos. As caçadas a que os monarcas e demais grandes senhores procediam regularmente nos bosques e outras áreas incultas — ou as pescarias, no caso de Luís o Pio — não eram, como frequentemente se pensa, um exercício guerreiro, mas uma extensão quase ritual do mundo dominado pelas técnicas sobre o mundo selvagem, da ordem sobre a desordem, do Bem sobre o Mal. De igual modo, os animais ferozes aprisionados de que alguns soberanos se rodeavam não eram uma antecipação dos jardins zoológicos mas a exibição do triunfo da ordem social sobre a desordem selvagem. O mesmo carácter tinham, no Egipto antigo, as expedições dos faraós no deserto e o seu séquito de feras aprisionadas.
A ecologia, mantendo aquela dualidade, inverteu-lhe o sentido, e é agora o Mal que se identifica com a sociedade provida de técnicas, enquanto a natureza alheia à humanidade é identificada com o Bem. No entanto, as técnicas surgiram em boa medida para defender a sociedade da natureza. Se o governo boliviano evoca a Mãe Terra, a esmagadora maioria da população, sobretudo antes do desenvolvimento da indústria, chamar-lhe-ia madrasta.
É que a natureza não é passiva perante a sociedade. A natureza tem uma história sem para isso precisar do homo faber, uma história feita de criação e destruição. A física, a química, a biologia, mesmo quando não se pretendem uma história natural, traçam as linhas dessa evolução acidentada, que faz com que as sociedades humanas possam sentir a natureza como agressora, se não for contida dentro dos limites construídos pela tecnologia. Por isso a natureza, considerada em si, é um mito.
Quando, no século II antes da nossa era, numa época em que se obtiveram consideráveis progressos nas técnicas mecânicas, o filósofo estóico Panætius de Rodes defendeu que a actividade manual dos seres humanos é capaz de completar a natureza, criando como que uma nova natureza, ele definiu exactamente a função do homo faber, aquele que muda a sociedade e muda a natureza, alterando-as ambas e conjugando-as de novas maneiras. Passados dezassete séculos, quando a ciência começou a tornar-se experimental, o que asseguraria ao desenvolvimento das técnicas uma base segura, Francis Bacon anunciou no Novum Organum, rapidamente considerado um clássico metodológico, que «a técnica é o homem acrescentado à natureza». Esta definição implica, como observou Jean-François Revel, «que a natureza sem a técnica humana não seria a natureza».
Escrevi noutro lugar que, se fosse definir os limites da natureza, usaria termos equivalentes aos da coisa em si de Kant, ou seja, daquilo que, mantendo-se exterior à acção humana, não pode ser conhecido, porque o ser humano só pensa e conhece a sua própria actuação. A natureza é um mito porque existe apenas em inter-relação com a acção humana, quer esta acção se deva à necessidade de proteger a sociedade quer à ambição de ampliar a esfera social. A todos os desequilíbrios inerentes à natureza devemos somar mais um, o da acção social, que, sendo sempre contraditória, só pode entender-se como um desequilíbrio determinante de desequilíbrios.
4.
Se a tecnologia é o conjunto organizado de instrumentos que modificam a sociedade e a natureza, é compreensível que os ecologistas, depois de postularem a existência de uma natureza passiva perante a agressão humana, deduzam que quanto mais desenvolvidas forem as técnicas, maior será o seu efeito destrutivo.
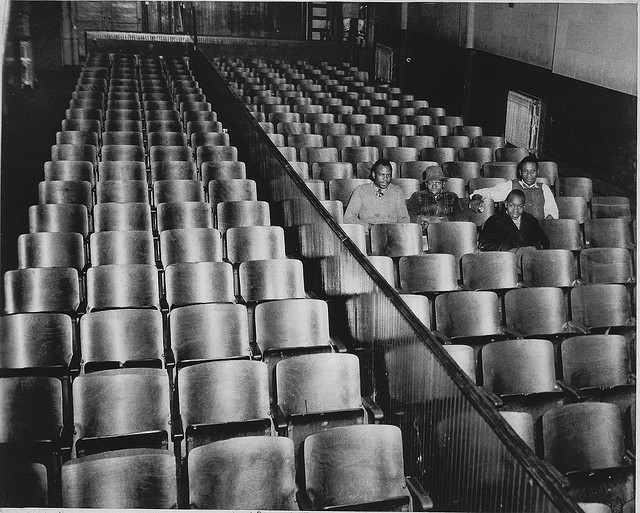 Na realidade, passou-se exactamente o contrário. Proporcionalmente ao nível de produção pretendido, as técnicas mais rudimentares são as que ocasionam efeitos secundários mais consideráveis e perturbam áreas mais vastas. É conveniente não esquecer o primeiro membro da regra, proporcionalmente ao nível de produção pretendido. Qualquer leitor familiarizado com os aspectos práticos da história económica conhece exemplos ilustrativos. Considero esclarecedor, por isso gosto de citá-lo, o caso das pedreiras esgotadas em períodos muito curtos porque quando os instrumentos de pedra ficavam com o gume embotado, em vez de serem afiados deitavam-se fora e fabricavam-se novos, e aquele pequeno grupo humano tinha de partir para outra área, com tudo o que isto acarretava. Não menos elucidativas são as técnicas de caça que implicavam incendiar uma floresta num dia em que o vento levasse o fogo em direcção a um precipício, de modo que os animais, para fugirem às chamas, se despenhavam e morriam em massa e, como não se conheciam ainda técnicas de conservação dos alimentos, o desperdício era colossal. Se dispusesse de espaço podia alinhar um sem número de exemplos, todos indicando a validade da mesma regra.
Na realidade, passou-se exactamente o contrário. Proporcionalmente ao nível de produção pretendido, as técnicas mais rudimentares são as que ocasionam efeitos secundários mais consideráveis e perturbam áreas mais vastas. É conveniente não esquecer o primeiro membro da regra, proporcionalmente ao nível de produção pretendido. Qualquer leitor familiarizado com os aspectos práticos da história económica conhece exemplos ilustrativos. Considero esclarecedor, por isso gosto de citá-lo, o caso das pedreiras esgotadas em períodos muito curtos porque quando os instrumentos de pedra ficavam com o gume embotado, em vez de serem afiados deitavam-se fora e fabricavam-se novos, e aquele pequeno grupo humano tinha de partir para outra área, com tudo o que isto acarretava. Não menos elucidativas são as técnicas de caça que implicavam incendiar uma floresta num dia em que o vento levasse o fogo em direcção a um precipício, de modo que os animais, para fugirem às chamas, se despenhavam e morriam em massa e, como não se conheciam ainda técnicas de conservação dos alimentos, o desperdício era colossal. Se dispusesse de espaço podia alinhar um sem número de exemplos, todos indicando a validade da mesma regra.
Deparo ocasionalmente com o argumento de que esse problema não era grave, ou nem sequer era um problema, nas épocas em que a população era escassa. Ao supor que a vastidão das superfícies inabitadas permitiria destruições extensivas, esse argumento fornece mais um exemplo da falácia que consiste em imaginar uma natureza passiva perante uma humanidade activa ou, nos termos morais em que a questão é frequentemente colocada, uma natureza sofredora perante uma humanidade maléfica. Na realidade, porém, o mundo era muito pequeno para as sociedades dotadas de técnicas rudimentares, e quanto mais rudimentares fossem, mais minúsculo seria o espaço social, cercado por uma imensidão hostil. Extensões que medidas em quilómetros quadrados parecem vastas eram muito estreitas quando avaliadas pela utilização humana possível. Em todas as sociedades, desde que existe homo sapiens, as necessidades são criadas. É precisamente assim que se define a cultura — a criação de necessidades. Perante isto não há mundos vastos mas sempre mundos pequenos.
Mesmo numa época relativamente recente, na Idade Média europeia, os desbravamentos, que desempenharam um papel central tanto na economia como nas lutas sociais, levaram a um derrube de árvores desproporcional ao benefício em terras cultiváveis e áreas de pastorícia. E como a madeira era praticamente o único combustível e era uma matéria-prima usada numa enorme variedade de funções, gerou-se uma crise de grande dimensão, que precipitou o uso do carvão como combustível principal, o emprego extensivo do ferro e, afinal, a revolução industrial.
Os danos eventualmente provocados pelas tecnologias contemporâneas, que em termos absolutos parecem maiores do que os provocados pelas tecnologias arcaicas, são incomparavelmente menores proporcionalmente ao nível de produção atingido. Além disso, as tecnologias contemporâneas têm uma capacidade de corrigir tais danos muito superior à que poderiam ter as tecnologias arcaicas.
Por este conjunto de razões, e contrariamente ao que pretendem os ecologistas, quanto mais desenvolvida for uma técnica, menor será, relativamente, o seu efeito destrutivo.
5.
Da noção de que as tecnologias arcaicas exerceriam sobre a natureza efeitos secundários reduzidos e, portanto, manteriam uma harmonia entre a sociedade e o meio ambiente passa-se com facilidade à noção de que as sociedades com tecnologias rudimentares seriam internamente harmónicas.
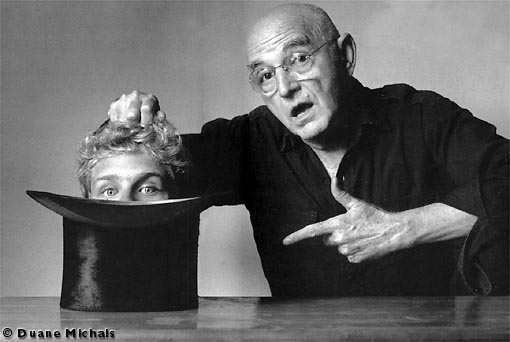 Apesar de a antropologia ter estudado a desigualdade e os sistemas de exploração nas sociedades arcaicas, os ecologistas são conduzidos a apresentá-las numa visão idílica, para sustentar a noção de que a tecnologia moderna acarreta efeitos catastróficos. Ora, como a ecologia se integrou num conjunto ideológico mais amplo, que se pretende pós-moderno e se define como multiculturalista, as vozes discordantes são estigmatizadas como eurocêntricas.
Apesar de a antropologia ter estudado a desigualdade e os sistemas de exploração nas sociedades arcaicas, os ecologistas são conduzidos a apresentá-las numa visão idílica, para sustentar a noção de que a tecnologia moderna acarreta efeitos catastróficos. Ora, como a ecologia se integrou num conjunto ideológico mais amplo, que se pretende pós-moderno e se define como multiculturalista, as vozes discordantes são estigmatizadas como eurocêntricas.
Uma tal marca de infâmia pressupõe que exista uma cultura europeia, mas ela simplesmente não existe. A Grécia e o Império Romano, apresentados como os progenitores da cultura europeia, muito pelo contrário geraram uma área cultural homogénea constituída pela Europa meridional, ou centro-meridional, o Levante e o norte da África, ou seja, uma cultura mediterrânica que o islamismo tentou, e quase conseguiu, preservar. As razões da ruptura que cindiu a civilização mediterrânica foram bem estudadas pelos historiadores na sequência de uma importante polémica originada pela publicação por Henri Pirenne de Mahomet et Charlemagne. (Os principais elementos desta polémica foram reunidos por Alfred F. Havighurst num livro que é possível encontrar na internet.) Depois da ruptura da civilização mediterrânica não houve uma Europa, nem culturalmente nem muito menos politicamente. Houve uma multiplicidade de culturas fraccionadas, que assim se mantiveram até à formação de nações com a Revolução Francesa e as guerras napoleónicas, e a nova cultura unificadora só se desenvolveu graças à extinção ou à assimilação das culturas regionais precedentes. Com o ensino primário obrigatório e de programa único e com os exércitos de recrutamento geral extinguiram-se as identidades regionais, conferiu-se à plebe de cada nação uma mesma língua e criou-se um sistema de trocas e alianças. O que unificou aquela pluralidade numa economia e numa cultura comuns foi o capitalismo. E o resultado não foi uma cultura europeia, mas algo muito diferente, uma cultura capitalista.
Para mais, desde cedo a cultura capitalista afirmou uma vocação não europeia, mas mundial. Como sempre, a vanguarda artística foi a precursora dos novos rumos e as artes plásticas, desde a transição do século XIX para o século XX, assimilaram os ensinamentos de alguma arte oriental primeiro, depois da arte africana, um pouco mais tarde da arte da América pré-colombiana e só passadas algumas décadas da arte aborígene australiana. Pode parecer um paradoxo que os pintores e escultores que inauguraram a visão moderna da realidade, assente na estrutura ou na velocidade, tivessem sido os mesmos que tanto se interessaram pelas formas plásticas consideradas primitivas. Mas o paradoxo desfaz-se se o usarmos para compreender que a civilização moderna é ao mesmo tempo uma civilização de vocação mundial. Não se trata de apropriar-se. Trata-se de assimilar, incorporar, fundir e criar algo sem precedentes, uma cultura de projecção global. A cultura que se expandiu a todo o mundo não é a cultura europeia mas a cultura capitalista, edificada sobre a destruição da diversidade de culturas regionais na Europa. Pela primeira vez na história desenvolveu-se uma cultura com base apenas económica, sem enraizamento geográfico, que oferece o quadro a uma possível consciência mundial de classe trabalhadora. Aqueles que se propõem combater o eurocentrismo falham inteiramente a pontaria, errando a direcção e a época.
Quem vem agora, a coberto da crítica ao eurocentrismo, defender a presumida harmonia que reinaria, por exemplo, nos povos índios da época pré-colombiana, está a defender passados imaginários, porque em boa medida aquelas sociedades inseriam-se no sistema económico da troca de presentes ou troca de dons. Ora, o roubo, tanto na forma individual como na forma colectiva do saque, da pirataria e da guerra, constituía parte integrante daquele sistema económico. Do mesmo modo, a troca de bens ou serviços era usada para justificar uma desigualdade de obrigações que correspondia a um modo de exploração.
Aliás, e ainda que não seja este o lugar para tratar da questão, quero chamar rapidamente a atenção para o seguinte. As instituições dos povos da América pré-colombiana integraram-se no quadro geral das instituições dos restantes povos do mundo, apesar do isolamento recíproco, e obedeceram a uma evolução similar. Até as formas artísticas se inseriram nos mesmos padrões gerais. Seria bom que reflectissem sobre este facto aqueles que, na sequência dos doutrinadores pós-modernos, acusam de teleológica a noção de que existem leis de tendência comuns ao desenvolvimento de todos os modos de produção, ou seja, de que existem fases evolutivas comuns na história da humanidade. Afinal, sociedades sem contacto geraram estruturas comparáveis e evoluíram de maneiras paralelas.
 Quando as potências colonizadoras europeias ou os colonos emigrados da Europa implantaram Estados centralizados, foi-lhes necessário pôr fim às guerras entre os povos nativos. Por este motivo, as sociedades índias da fase de colonização geraram um sistema truncado de troca de presentes, desprovido do roubo e do saque. A ausência desta indispensável componente de rivalidade foi compensada, como sucedeu entre os índios do noroeste dos Estados Unidos e do oeste do Canadá, por um enorme desenvolvimento do potlatch, uma forma de esbanjamento ritual, simbólica da guerra. O potlatch é um componente estrutural de todos os sistemas de troca de presentes, mas naqueles casos atingiu uma dimensão sem precedentes, o que aliás permitiu a Marcel Mauss proceder a estudos incontornáveis desses exemplos quase laboratoriais. Ora, alguns antropólogos, ao depararem com sociedades nativas em que as formas directamente agressivas da troca de presentes estavam proibidas de se exercer, por determinação do Estado colonial e pós-colonial, reforçaram a mitificação e divulgaram a imagem de povos vivendo em harmonia não só com a natureza mas também entre eles, numa actualização do mito do noble sauvage ou bom selvagem.
Quando as potências colonizadoras europeias ou os colonos emigrados da Europa implantaram Estados centralizados, foi-lhes necessário pôr fim às guerras entre os povos nativos. Por este motivo, as sociedades índias da fase de colonização geraram um sistema truncado de troca de presentes, desprovido do roubo e do saque. A ausência desta indispensável componente de rivalidade foi compensada, como sucedeu entre os índios do noroeste dos Estados Unidos e do oeste do Canadá, por um enorme desenvolvimento do potlatch, uma forma de esbanjamento ritual, simbólica da guerra. O potlatch é um componente estrutural de todos os sistemas de troca de presentes, mas naqueles casos atingiu uma dimensão sem precedentes, o que aliás permitiu a Marcel Mauss proceder a estudos incontornáveis desses exemplos quase laboratoriais. Ora, alguns antropólogos, ao depararem com sociedades nativas em que as formas directamente agressivas da troca de presentes estavam proibidas de se exercer, por determinação do Estado colonial e pós-colonial, reforçaram a mitificação e divulgaram a imagem de povos vivendo em harmonia não só com a natureza mas também entre eles, numa actualização do mito do noble sauvage ou bom selvagem.
Essa mitificação faz hoje parte de alguns curricula universitários e, juntamente com a noção de uma sociedade industrial que ameaçaria os supostos equilíbrios naturais, serve de bandeira ideológica a muitas ONGs e introduz mais um artifício no lugar-comum da ecologia.
Referências
A definição de política dada por Ernst Haeckel encontra-se em University of California Museum of Paleontology, Ernst Haeckel (1834-1919) e a definição formulada pelos nacionais-socialistas pode ler-se em Edwin Black, War Against the Weak. Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race, Nova Iorque e Londres: Four Walls Eight Windows, 2003, págs. 270, 318 e Stefan Kühl, The Nazi Connection. Eugenics, American Racism, and German National Socialism, Nova Iorque e Oxford: Oxford University Press, 1994, págs. 36, 121 n. 39. As citações de Francis Bacon e Jean-François Revel encontram-se em Jean-François Revel, Histoire de la Philosophie Occidentale de Thalès à Kant, Paris: Nil, 1994, pág. 357.
Este artigo é ilustrado, de cima para baixo, com fotografias de Guy Bourdin, Richard Avedon, Henri Cartier-Bresson, Louis Stettner, Weegee, Duan Michals e Brassaï.
A série Post-scriptum: contra a ecologia é formada pelos seguintes artigos:
1) a raiz de um debate
2) o lugar-comum dos nossos dias
3) a hostilidade à civilização urbana
4) a agroecologia e a mais-valia absoluta
5) Georgescu-Roegen e o decrescimento económico
6) Malthus, teórico do crescimento económico
7) «Os Limites do Crescimento» ou crescimento sem limites?
8) oportunidades de investimento e agravamento da exploração


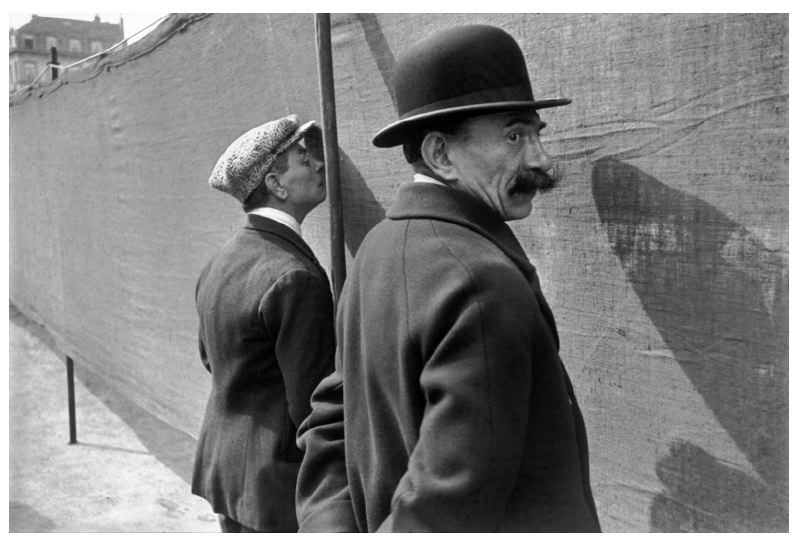





Algumas considerações…
1. Se até, não sei, a década de 90, era possível colocar a ecologia, seus pressupostos e conclusões seguramente no campo da ideologia, o que fazer quando algum destes pressupostos (para citar um exemplo, aquecimento global causado pelo homem e seus efeitos) são empiricamente verificados e ganham validade científica? Se, de acordo com o quadro levantado no texto, a a ciência encarava com hostilidade alguns dos pressupostos da ecologia, hoje são aqueles que negam estes pressupostos os hostilizados pela ciência?
Se para negar os pressupostos da ecologia na década de 70 só se precisava recorrer à ciência, hoje isto não é mais possível. Para ficar na questão do aquecimento global, aconteceu mais ou menos o mesmo fenômeno aqui que acontecera antes com a seleção natural ou com a teoria de placas tectônicas – a ciência absorveu como explicação hegemônica o que antes considerava delírio.
Ou seja, para se negar alguns destes pressupostos, é necessário recorrer a alguma explicação que considere falsa a esmagadora maioria dos resultados de pesquisas e estudos científicos nos campos do clima, da biologia, da geologia, pelo menos; ou a ciência hoje é vítima de uma conspiração de falsificação de resultados sem precedentes na história, ou a ciência de hoje foi tomada pela ideologia capitalista e não é uma ciência real, é uma ciência burguesa que só pode chegar a resultados burgueses, à qual seria preciso opor outra ciência (operária?). Em todo caso, seria interessante ver alguém tentar desenvolver esse argumento mantendo, de alguma forma, a credibilidade da ciência ao longo da história – sem se misturar com malucos de teoria da conspiração que dizem que a ciência é uma enganação desde sempre, no primeiro caso, ou tirando da cartola alguma explicação de porque a ciência de trinta ou trezentos anos atrás estaria menos integrada à ideologia que a atual. Seria um malabarismo e tanto, na minha opinião.
2. O que a antropologia e a etnografia mostram, pelo menos nos últimos cinquenta anos, é que as imagens do senso comum das civilizações colonizadoras sobre os povos colonizados não pode ser elevado ao nível de verdade ou essência (aliás, não deveria ser necessário muito esforço científico nesse sentido, na minha opinião), nem autoriza a formulação de leis gerais do desenvolvimento humano. No caso específico dos povos da América trazido no texto, não se pode falar de todos eles como um bloco monolítico; seria preciso pelo menos fazer uma cisão entre as altas culturas dos Andes e da América Central e os povos sem Estado do resto do continente, e mesmo esta cisão não daria conta da diversidade de modos de organização de trabalho e sociedade em cada uma destas categorias. No caso destes últimos, dos povos que não desenvolveram estruturas de Estado, em maior ou menor grau eles desenvolveram estruturas de organização social que, antes de pré-estatais, parecem voltadas a impedir a organização da sociedade em um Estado e/ou a divisão da sociedade em classe. Em maior ou menor grau, o mesmo poderia ser dito de povos no Pacífico, na Austrália, na Sibéria… Sobre isso, são interessantes as obras de Pierre Clastres, Marshal Sahlins e Eduardo Viveiros de Castro, para ficar em três nomes da antropologia recente mais conhecidos.
André,
Talvez lhe fizesse bem uma certa convivência com meios científicos não ecologistas.
Quanto ao «aquecimento global», talvez lhe servisse de alguma coisa conhecer, por exemplo, a tese de doutorado de Daniela Onça (http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F8%2F8135%2Ftde-01062011-104754%2Fpublico%2F2011_DanieladeSouzaOnca.pdf&ei=7-opUpXzAqvC4AOJs4Fw&usg=AFQjCNEkYH2oyHJv00zTnefxxS4tDEg7LA&bvm=bv.51773540,d.dmg ).
Quanto às sociedades da América pré-colombiana, em lugar nenhum eu as considerei como «um bloco monolítico». Escrevi que «as instituições dos povos da América pré-colombiana integraram-se no quadro geral das instituições dos restantes povos do mundo, apesar do isolamento recíproco, e obedeceram a uma evolução similar». E para rebater isto André, depois de dizer umas trivialidades acerca dessas sociedades, escreve: «Em maior ou menor grau, o mesmo poderia ser dito de povos no Pacífico, na Austrália, na Sibéria». Ou seja, sem mesmo se dar conta disso confirma que «as instituições dos povos da América pré-colombiana integraram-se no quadro geral das instituições dos restantes povos do mundo».
Será que algum dia já existiu algo que poderíamos chamar de “consciência mundial da classe trabalhadora”? Será que algum dia isso vai existir?
Existe uma coisa de final feliz na esquerda que é uma profunda ilusão. Uma coisa de se achar que estamos caminhando para algo maior, grandioso e redentor. Mas o que vemos é justamente o contrário: o surgimento de mais formas de hierarquização e inferiorização social, surgimento de mais formas de poder, mais ideologias conservadoras. Deve haver algo de endógeno na humanidade, de biologicamente fundamentado, para a existência de tantas hierarquizações e formas de poder.
João,
Sobre a tese, baixada e na fila de leituras.
Sobre os povos do Pacífico, da Austrália e da Sibéria, se há um quadro geral das instituições que poderia ser desenhado que os inclua e aos povos da América pré-colombiana (descontadas as altas culturas dos Andes, da América Central e do México) (e esse é um grande se, talvez/provavelmente um erro de formulação meu), esse quadro geral, pelo menos até onde atualiza parte significativa da produção antropológica da segunda metade do século passado pra cá, não é o mesmo quadro geral das instituições das sociedades asiáticas/ocidentais (se é que há identidade entre essas sociedades para enquadrá-las no mesmo quadro). Esse foi o sentido do comentário, ou pelo menos o que quis dar a ele.
Jean,
Penso que já houve uma consciência mundial de classe trabalhadora, primeiro numa época em que a classe trabalhadora não era ainda mundial. Isso correspondeu mais ou menos ao período da II Internacional, quando o modo de produção capitalista propriamente dito não existia na África subsahariana nem em grande parte da Ásia nem na Oceania nem em vastas regiões da América central e do sul. Foi uma consciência mundial no sentido de que abrangeu toda a classe trabalhadora que então existia no mundo. Depois, na década de 1960, houve uma consciência mundial talvez não de classe trabalhadora mas da porção mundialmente activa dessa classe. Escrevi sobre este último processo aqui: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/285
André,
A grande remodelação que Marc Bloch operou nos estudos medievais consistiu fundamentalmente em estudar na perspectiva da antropologia uma sociedade que até então havia sido estudada apenas na perspectiva da história. Bloch fez história do regime senhorial com as noções aprendidas com Marcel Mauss. A obra de Bloch Les Roys thaumaturges, que é uma análise em termos antropológicos do que até então fora analisado somente em termos de teoria das burocracias, determinou a perspectiva que iria orientá-lo em seguida. Duby prosseguiu nesta perspectiva, analisando o regime senhorial na óptica da troca de presentes. A escola de numismatas medievalistas polacos — ou poloneses, como se diz no Brasil — avançou muito nesta perspectiva. Pessoalmente, quando tratei da economia do regime senhorial, sobretudo na sua primeira fase, mais ou menos até ao século XI, foram-me muito úteis os estudos de antropologia económica relativos a sociedades da América pré-colombiana e da África, além da Oceania, inevitavelmente. Para quem quiser estudar as formas assumidas pela moeda e pelo crédito a Oceania é o paraíso. Mas para encurtar argumentos, sugiro-lhe uma coisa. Caso não a conheça, estude a história da decifração da escrita maya, veja a acusação de «bolchevismo» lançada por Thompson contra Knorosov, o homem que decifrou os princípios daquela escrita, e medite sobre o motivo daquela acusação. Era esta história que estava na minha cabeça quando escrevi aquelas linhas.
João, tem algum texto disponível na internet sobre essa história da decifração da escrita maya, ou alguma indicação bibliográfica a partir da qual possa partir?
André,
Neste momento estou longe dos meus livros e não sei os títulos de cor, mas penso que qualquer boa história da civilização maya terá pelo menos uma referência ao assunto. Senão, sugiro-lhe que comece por procurar no Google em torno de Eric Thompson e Yuri Knorosov. Nas suas linhas gerais a questão foi a seguinte. Thompson era o pontífice britânico do assunto e defendia a especificidade da escrita maya, o que levara a sua decifração a um beco sem saída. Por seu lado, o soviético Knorosov propôs-se analisar aquela escrita segundo os mesmos princípios que haviam presidido às escritas de outras civilizações. Era isto que Thompson acusava de «bolchevismo», por se estar a defender que, segundo as palavras que usei neste artigo, «as instituições dos povos da América pré-colombiana integraram-se no quadro geral das instituições dos restantes povos do mundo, apesar do isolamento recíproco, e obedeceram a uma evolução similar». Cito de memória, mas creio não errar ao dizer que mesmo quando a decifração de Knorosov estava já aceite nas publicações científicas da esfera norte-americana, as edições de divulgação do British Museum continuavam a apresentar a versão de Thompson. Pobre escrita maya, que teve de se contar entre as vítimas da guerra fria.
Pra quem ainda não viu, o Le Monde Diplomatique traz um artigo sobre obsolência planejada em que, para concluir os ataques ao “consumismo”, a autora defende o decrescimento econômico amparado no alarme de que os meios naturais do planeta podem se esgotar facilmente:
“Rever os princípios que norteiam esse modelo de crescimento econômico é necessário. Inspiramo-nos no movimento recente do decrescimento econômico, que tem o economista francês Serge Latouche como um dos principais expoentes. O PIB não pode mais continuar sendo visto como uma taxa que deve sempre crescer. Não é razoável pensar num crescimento infinito quando o planeta é finito. O movimento pelo decrescimento econômico parece-nos uma saída para muitos dos problemas que apontamos aqui. Não se trata de voltar ao tempo das cavernas, mas sim de parar imediatamente com esse modelo de crescimento, de progresso e de felicidade ancorado na sociedade de consumo. O crescimento pelo crescimento é irracional. Precisamos descolonizar nossos pensamentos construídos com base nessa irracionalidade para abrirmos a mente e sairmos do torpor que nos impede de agir. Latouche diz: “A palavra de ordem decrescimento tem como principal meta enfatizar fortemente o abandono do objetivo do crescimento ilimitado, objetivo cujo motor não é outro senão a busca do lucro por parte dos detentores do capital, com consequências desastrosas para o meio ambiente e, portanto, para a humanidade” (2009, p.4). A nova lógica que deverá ser construída é a de que podemos ser felizes trabalhando e consumindo menos. Nesse projeto, não faz sentido falar em desenvolvimento sustentável – mais um sloganda moda que os capitalistas inventaram. Falar em ecoeficiência é continuar na “diplomacia verbal”.
O assunto não se esgota aqui, obviamente, mas é fundamental desvelar o princípio da obsolescência planejada para que possamos renovar nossas utopias de um mundo onde a natureza seja preservada, onde haja mais presença e menos presente, mais laços humanos e menos bens de consumo.”
André Luiz Vargas,
A França continua a ser a grande produtora de artigos de luxo para as camadas de rendimentos elevados, não só perfumes e roupas mas artigos intelectuais também. No entanto, por razões que explico, preferi analisar a teoria do decrescimento económico na obra do seu fundador, Nicholas Georgescu-Roegen. É este o assunto do quinto artigo, cuja publicação está prevista para 27 de Setembro. A outra obra fundadora das teses do decrescimento económico, mas mais pelo viés da sua aplicação do que no plano da teoria, é o relatório do Clube de Roma, The Limits to Growth, que será analisado no sétimo artigo, a publicar em 11 de Outubro. É interessante observar que a primeira edição do livro de Georgescu-Roegen data de 1971 e que o relatório do Clube de Roma teve a primeira edição em 1972. Este par de anos assinala a ressurreição moderna da ecologia, que estava submersa desde a derrota militar do Terceiro Reich. Entre estes dois artigos pareceu-me conveniente estudar as ideias do fundador da tese da limitação dos recursos naturais, Malthus, para mostrar que a sua obra teve desdobramentos pouco conhecidos e que se voltam contra a teoria do decrescimento económico. Este sexto artigo será, em princípio, publicado a 4 de Outubro. Mas a peça chave da crítica ao decrescimento é o quarto artigo, onde analisarei a agroecologia e agricultura familiar, e que deverá ser publicado a 20 de Setembro. Finalmente, no oitavo e último artigo da série, previsto para 18 de Outubro, procuro mostrar os objectivos sociais servidos pela teoria do decrescimento. Antes disso, porém, achei conveniente, no terceiro artigo, a publicar no próximo dia 13, continuar a análise do campo comum que a ecologia partilha com o multiculturalismo. Fica assim explicada a estrutura desta série.
Uma questão relativamente paralela e que talvez valha a pena pensar é a relação da tese da finitude dos recursos com algumas leituras mais rígidas da lei da queda tendencial da taxa de lucro. Esta questão do Marx tem a sua importância e, na sua essência e em traços gerais, reflecte a mecânica da mais-valia relativa: a necessidade de aumentar a aplicação de capital constante de modo a elevar a produtividade do trabalho. Aliás, a tendência para a queda da taxa de lucro é contrariada pelo mesmo procedimento que, na aparência, a leva a decrescer: a aplicação cada vez mais massiva de novas tecnologias, o que leva a maiores qualificações da força de trabalho, logo, a uma superior produção de mais-valia. Esta é, de modo muitíssimo reduzido, a minha interpretação do que de valioso tem a tese marxiana da lei da queda tendencial da taxa média de lucro. Em suma, é tão ou mais interessante o capítulo de “O Capital” sobre as contratendências como o anterior sobre o funcionamento dessa lei.
Contudo, grande parte dos marxistas vêem as contratendências e a mecânica interna do desenvolvimento capitalista implícito na tal lei como mero floreado. A tese mais mecânica da leitura de tal lei (e que, diga-se a verdade, o Marx ajudou imenso a isso) é de que o capitalismo iria esgotando o seu campo de actuação e de desenvolvimento das hipóteses da sua expansão. Se a Rosa Luxemburg, umas décadas mais tarde, colocaria na finitude dos espaços territoriais do planeta a explorar pelo capitalismo como o seu limite estrutural, parece-me que a maioria dos marxistas coloca a queda da taxa de lucro no mesmo patamar teórico. Ou seja, a evolução do capitalismo assemelhar-se-ia a uma curva de Gauss: primeiro cresceria, atingiria seguidamente um pico e, depois desse apogeu, começaria a longa fase da depressão e da decadência. Autores marxistas da escola da Monthly Review ou o Istvan Meszaros constroem toda a sua crítica ao capitalismo nesta base: a base material de expansão económica do capitalismo é finita. E qual seria a razão para isto? Em poucas palavras, o capitalismo não conseguiria explorar mais eficazmente os recursos existem: recursos humanos, naturais, tecnológicos. Estranha essa decadência de um modo de produção que conseguiu continuar a expandir-se a uma taxa tal que, em termos absolutos, quase quadriplicou o seu produto bruto nas últimas quatro décadas…
Não tenho tempo para desenvolver isto muito mais. Apenas queria sublinhar que a passagem da análise das fricções que a mola do capitalismo coloca ao seu próprio desenvolvimento, para a consideração de um limite económico do capitalismo dentro de uma estrutura fixa é o caminho para que alguns dos aspectos mais interessantes do marxismo sejam hoje absorvidos como uma versão de uma teoria do decrescimento. Creio que isto pode ser uma eventual pista que explique como o ecologismo penetrou na esquerda marxista e que, na realidade, alguns dos seus pressupostos poderão estar implícitos na sua própria estrutura de pensamento. No caso, a tese da finitude dos recursos.
A respeito da lei da queda tendencial da taxa de lucro, a estrutura de pensamento que a vê enquanto profecia do apocalipse do capitalismo dos últimos dias é talvez a mesma que enxerga a lei tendencial de crescimento populacional do Malthus enquanto presságio de um futuro com todos os espaços apinhados de pessoas famintas.
Ambas as visões não percebem o essencial de toda lei tendencial, já apontado pelo João Valente Aguiar: uma lei tendencial não é uma lei de previsão do futuro, mas uma lei que determina na sua estrutura as formas possíveis de suas contratendências. E essas contratendências, por serem possíveis, são já uma realidade. Uma lei de tendência, assim, nunca é a previsão de um futuro a se realizar, mas uma explicação das formas de realização dessa tendência no presente. É esse o ponto fulcral e tão negligenciado, seja por marxistas ou malthusianos.
Um exemplo oportuno de como agem os lobbies e de como se forma e se difunde o lugar-comum. Ontem, um colectivo do qual faço parte recebeu uma mensagem de uma empresa de publicidade, devidamente identificada e com o respectivo endereço electrónico, dizendo o seguinte: «[…] Eu gostaria de te convidar para participar da nossa iniciativa ecológica Mesas Verdes, que lançamos com a ONG Acciónatura, onde queremos ajudar a proteger e conservar um dos lugares naturais mais ricos em biodiversidade e ao mesmo tempo mais ameaçados do planeta: a floresta tropical da Reserva da Biosfera Sierra Gorda no México. Participar é muito simples, rápido e grátis: É só escrever um post falando da iniciativa ou colocar no seu blog o logo Mesas Verdes. Nós apadrinharemos um metro quadrado de selva por você, e colocaremos a sua mesa no mapa verde, com o seu nome e um link para o seu blog. […] Espero que você goste da iniciativa e que se junte a nós para fazer desse um mundo melhor!».
É verdade que um metro quadrado de selva não é muita coisa, mas também, pelo preço…
Oi, João Bernardo.
Não haveria nada de libertário na virtuose do sujeito que trabalha e domina inteiramente o que produz, tal como um artífice? Defender (lutar para) que este controle fique na mão do trabalhador, sem se alienar de seus instrumentos e de suas técnicas, sem se alienar de sua “autoria”, sem este trabalho se tornar “abstrato”, é cair em algum arcaísmo antirrevolucionário (tal como fazem os ecologistas)?
Confesso certa dificuldade em lhe formular a questão, mas a base do capital seria uma relação de exploração justamente porque controla o tempo e as ações dos trabalhadores, de maneira que seria mais importante para os trabalhadores o controle sobre si, sobre o que produz e como produz; seria mais importante a autonomia do trabalhador que a “alta capacidade produtiva” (esta nunca podendo ser “arcaica”, portanto). A revolução teria de desenvolver técnicas ainda mais produtivas que o próprio capitalismo? Então o trabalho abstrato é componente central da revolução (sendo tão importante ao próprio capitalismo)?
Posso ter entendido tudo errado, desculpe-me, e por isso possam me parecer paradoxais algumas das questões que você coloca, mas no momento uma resposta a essas dúvidas me ajudaria bastante na compreensão da sua análise perspicaz. Aliás, parabéns.
Fato é que o arcaísmo pode mesmo ser um empecilho até para a liberdade. Lembrei-me aqui da Villa Anarchia (colônia Cecília); a produtividade baixa da colônia fez Giovanni Rossi manifestar que não era possível ser livre onde não se pode satisfazer sequer as necessidades “básicas”. Ele dizia que faltava pão, vinho e mulher com quem esquentar o corpo.
Abraço.
Marcos.
Marcos Antônio,
O artesão das sociedades arcaicas dominava os seus instrumentos de produção, até porque eram muito simples, mas a noção de que dominava o produto é um mito, porque sofria as pressões do mercado, quanto mais não fosse para vender os produtos de modo a obter o dinheiro necessário ao pagamento dos tributos. Mas como o tempo, e portanto a história, fluem em sentido único, parece-me mais importante considerar o que se passa hoje. Vivemos numa sociedade muito complexa, assente na divisão do trabalho, e o grande problema consiste em saber se será possível, e como será possível, os trabalhadores controlarem um processo produtivo do qual conhecem directamente só uma parte ínfima. Penso que nos podemos aproximar de uma resposta a esta questão por três vias. Em primeiro lugar, estudando as formas como os trabalhadores, no seu quotidiano (sim, em português de Portugal escreve-se assim), conseguem sub-repticiamente controlar o ritmo da maquinaria, mecânica ou electrónica, de maneira a reduzir a intensidade da exploração. Em segundo lugar, estudando os múltiplos casos individuais de empresas ocupadas pelos trabalhadores que continuaram a produzir em regime de autogestão. Em terceiro lugar, estudando os casos, menos frequentes, em que a autogestão abarcou uma parte muito considerável da economia de um país, como sucedeu em Portugal durante o processo revolucionário de 1974-1975. Porém, quanto às fantasias idílicas tecidas em torno da produção doméstica, peço-lhe que tenha um pouco de paciência e espere pelo quarto artigo desta série, cuja publicação está prevista para o próximo dia 20, em que analisarei a agroecologia e a agricultura familiar. Mostrarei então, com dados, como esses sistemas de produção assentam no facto de que o trabalho familiar não é contabilizado como um custo, ou seja, assentam no trabalho gratuito e na sobreexploração. Espero que possamos então trocar opiniões de novo.
Marcos Antonio, sei que a pergunta não foi pra mim, mas ela me fez pensar na seguinte questão: por mais que houvesse um controle do trabalhador sobre seus meios de produção, esses meios eram individuais, o trabalho não era coletivo. Então a questão que se põe talvez não seja tanto a produtividade, mas o próprio caráter coletivo do trabalho. Sem essa base material, como erigir uma sociedade “coletivista”? Com o artesão a sociedade seria simplesmente uma soma de indivíduos proprietários, ou então eles até poderiam ser coletivistas – por força de algum poder absoluto.
“É também errada no mecanismo unidireccional que supõe, porque as classes dominantes apropriam-se igualmente das ideias dos explorados, convertem-nas e moldam-nas, assim como o mesmo se passa em sentido contrário. A ideologia dominante é uma teia imbricada de ideias provenientes das várias classes opostas, e é este o cimento ideológico da sociedade.”
Explica o recente fenômeno acerca da morte de Mandela, no qual seus inimigos políticos históricos o moldam como um pacifista…
Mas acaso esta digestão das ideias dos explorados, pelo explorador, que devolve, depois, as mesmas ideias, agora estéreis e inócuas, não transforma as ideias dos explorados agora em ideias da classe dominante?
Não digo que seja unidirecional, mas dialético e necessário para a burguesia perpetuar a ideologia a conta-gotas em ideias que a ameaçam.
Heloísa,
Você pergunta se a «digestão das ideias dos explorados, pelo explorador, […] não transforma as ideias dos explorados agora em ideias da classe dominante?». Na minha opinião é isso mesmo que se passa, e esta é uma singularidade do capitalismo. Alguns exemplos. No regime senhorial, na Idade Média europeia, a classe dominante nunca absorveu as ideias dos explorados e os traços disto persistem no vocabulário actual. Falamos de uma pessoa servil por oposição a outra que tem nobreza de sentimentos e ignóbil é, etimologicamente, uma pessoa que não é nobre. Também insultamos os pelegos chamando-lhes lacaios do patrão, e vil era simplesmente o habitante de uma aldeia, portanto o camponês. Os termos relacionados com os explorados no regime senhorial mantiveram uma conotação negativa, mas o contrário passa-se com os termos relacionados com os explorados no capitalismo.
A Idade Média assentava ideologicamente no desprezo pelos servos, a tal ponto que a principal virtude cristã era a caridade, que só os ricos podiam praticar. Pelo contrário, o capitalismo assenta ideologicamente no enaltecimento do trabalho, chegando ao paradoxo de os ricos se apresentarem como os principais trabalhadores. As palavras trabalhar e trabalho, que antes haviam sido depreciativas, adquiriram com a evolução do capitalismo uma acepção positiva, de modo que hoje qualquer patrão se vangloria de ser quem mais trabalha na sua empresa. Outro exemplo, em que eu tenho insistido em livros e artigos, diz respeito à perda sistemática dos nomes que sucessivamente foram caracterizando os anticapitalistas. Os discípulos de Marx e Engels chamaram-se originariamente sociais-democratas, mas hoje a social-democracia caracteriza o centro-direita. Depois o socialismo perdeu também o sentido inicial e passou a denominar o centro-esquerda. O comunismo passou a ser o nome do capitalismo de Estado, enquanto a ditadura do proletariado passou a designar a ditadura da burocracia sobre o proletariado. Os exemplos multiplicam-se e desdobram-se. O Brasil é governado pelo Partido dos Trabalhadores; e a palavra revolucionário, que antes se aplicava apenas aos defensores de uma transformação social violenta, serve hoje para fazer a publicidade de qualquer produto de consumo corrente e nenhuma dona de casa, por mais timorata que seja, tem medo de lavar o cabelo com um shampoo revolucionário. É assim que se forma no capitalismo uma teia ideológica perversa, que sustenta a falsa consciência dos explorados.
Digestão é apenas uma das [inúmeras, diversas & complexas] funções do metabolismo: processo de assimilação e excreção de um organismo [no sentido lato].
Eis as questões a serem dialetizadas:
ac) quem assimila (anaboliza) o quê, e como;
bc) quem excreta (cataboliza) o quê, e como;
cc) como se pressupõem mutuamente e interagem os dois fluxos.
Descobri recentemente um outro nome que foi adulterado. Os bachareis de relações internacionais chamam sua profissão de internacionalista.
Muito boa observação! Maluf também se fiz trabalhador e que trabalha muito…
Inclusive discutimos isso num curso de Marx que fui. Já que todas as profissões estão se proletarizando, até mesmo as liberais de “prestígio”, como médicos e arquitetos (sou arquiteta), se não seria o caso utilizar a palavra proletário, em vez de trabalhador, pro assalariado ou autônomo fudido(eu), ao nos designarmos. Radicalizar o vocabulário.
Ulisses, taí uma dica de artigo pra você, então. Como se dá esse processo ‘metabólico’ da ideologia.
ao menos em São Paulo, os médicos já adotaram bem a expressão “passar” no sentido de fazer uma consulta. Dizem “às 10h30 vou passar com uma paciente minha no consultório e depois vou ao hospital”, expressão que anteriormente era utilizada pelas classes baixas, sua provável origem. Acho que até a “elite” dos médicos hoje já se deu conta da analogia com uma linha fordista de trabalho.
hello Helô
Rebarbo a dica: eu me prefiro escoliasta a polemista.
No seu último comentário, a Heloísa levantou uma questão terminologicamente interessante, a de que proletário não foi vítima da mesma operação de assimilação e recuperação que sucedeu com trabalhador. Alguém que esteja à frente de um grande gabinete de arquitectura, por exemplo, decerto se reivindica de ser um trabalhador, mas nunca um proletário. Ora, isto é tanto mais elucidativo quanto a palavra proletário foi desde o início usada numa acepção estritamente revolucionária. Quem tiver tempo e paciência leia as págs. 43-61 aqui
http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/12/Os-Sentidos-das-Palavras-Jo%C3%A3o-Bernardo.pdf
ou aqui
http://biblioteca-autonomia.webnode.pt/news/jo%C3%A3o-bernardo,-a-sociedade-burguesa-de-um-e-de-outro-lado-do-espelho-la-comedie-humaine-e-os-sentidos-das-palavras,-terminologia-economica-e-social-em-la-comedie-humaine/
ou ainda aqui
http://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Bernardo,%20João/Os%20Sentidos%20das%20Palavras.pdf
(existem outros links também). Com base num vasto corpus literário, pretendi mostrar que enquanto operário foi desde a origem um termo neutro, o termo proletário foi empregue num sentido revolucionário ou pelo menos de desafio. É certo que a ditadura do proletariado constituiu um caso extremo de inversão de sentido, mas isso não parece ter sucedido com os termos proletário e proletariado quando não compõem nenhum sintagma. Mas por que motivo proletário manteve a pureza semântica originária?
Sobre o proletário, operário e trabalhador. Reparem que na língua inglesa worker tanto se refere a trabalhador como a operário. Ora, a tradução do “Manifesto Comunista” mencionou desde sempre “Workers of the world, unite”. E isto ocorreu um pouco por todo o mundo e em todas as correntes políticas da esquerda socialista. A versão portuguesa, pelo menos a de Portugal, pelo contrário, evidencia o lema “Proletários…”. Mas essa é uma excepção e a generalidade das organizações operárias (ou seja, as organização políticas e sociais que se foram reivindicando da área socialista) mencionaram sempre as figuras do trabalhador e do operário. Ou seja, focaram a acção profissional e não o termo na sua relação com a condição social da exploração económica. Por outras palavras, as figuras do trabalhador e do operário surgem, em parte, como uma decorrência técnica do processo de trabalho: trabalhador é/seria quem trabalha, quem desempenha um acto de laborar. Ora, neste plano genérico tanto o operário fabril como o gestor de uma empresa desempenham um papel activo na organização. Creio que é impossível separar essa preferência recorrente das organizações que se reivindicaram do socialismo pelas figuras do trabalhador e do operário, do processo de vinculação dos gestores às lutas operárias, como o Marx fez em dois capítulos do Livro terceiro de “O Capital”: http://passapalavra.info/2013/10/87371
Ora, inversamente o termo proletário, se levado à sua consequência última, apela não apenas ao vago acto/desempenho laboral como lembra o facto de o proletário não ter nada mais do que a sua força de trabalho, o que naturalmente implica lembrar que o poder de comando sobre o trabalho e a produção pertencem a outrém que não os proletários. Aqui o termo aponta para relações sociais, não apenas para uma actividade genérica.
João,
Lembro-me de Engels — mas em que obra? — observar que o termo work e derivados, sendo de origem anglo-saxónica, tem uma acepção concreta e particularizada, enquanto o termo labour e derivados, sendo de origem latina, tem uma acepção abstracta e genérica. Engels considerava que esta divisão semântica consoante as etimologias ocorria também nos outros casos. Para dar agora um exemplo, o Labour Party foi formado por workers. Evidentemente, esta divisão não pode ser reproduzida em português.
João Bernardo esta diferença entre work e labour, tem haver com a questão do trabalho abstrato e trabalho concreto? no sentido em que o concreto diz repeito a categoria/profissão, e trabalho abstrato indicando a produção de valor ou classe(em vez de categoria)?
Thiago,
Se a observação de Engels estiver correcta, ela refere-se a uma evolução semântica que 1) se processou na maior parte antes do capitalismo e 2) diz respeito a um leque de acepções muito mais vasto do que a questão do trabalho. Não me recordo se Engels evocou esse problema a propósito da divisão em trabalho abstracto e trabalho concreto e não tenho agora tempo para procurar. De qualquer modo, não me parece que essa divisão conceptual se tivesse devido à diferença entre os termos de origem anglo-saxónica e os de origem latina na língua inglesa, e além disso ela operou-se também noutras áreas linguísticas.
Thiago e JB,
A referida nota é de número 16 e está no capítulo primeiro do Livro 1. Trata-se de uma nota de Engels à 4a edição. Nela se lê: “A lingua inflesa tem a vantagem de possuir duas palavras distintas para esses dois aspecto diferentes do trabalho. O trabalho que gera valores de uso e é qualitativamente determinado chama-se work, em oposição a labour; o trabalho que cria valor e é mediado apenas quantitativamente chama-se labour em oposição à work.
De todo modo as palavras mudam tanto de acepção, ao longo da história, que essa divisão (se é que se aplica ainda ao inglês) me parece que não se aplica às portuguesas “trabalho” e “labor”. No português brasileiro, tenho a impressão de que labor é algo muito mais carregado de sentido e consciente do que “trabalho”, sendo portanto o inverso do que Engels afirmou. Sem falar que normalmente se usa inclusive o termo “trabalhou laboriosamente” para referir a um trabalho com muita atenção e capricho.
talvez Hannah Arendt não seja a autora mais lida nestas bandas, mas essa discussão remete ao seu livro “A Condição Humana”, no qual faz uma distinção entre work e labour. Labour seria aquele trabalho que o ser humano foi obrigado a fazer para sobreviver a partir do momento em que foi expulso do paraíso, a manutenção necessária para não ser engolido de volta pelas forças naturais (seja a produção de comida para evitar a morte, seja a manutenção de edifícios para evitar que a natureza os destrua), a relação “bíblica” vem justamente do uso inglês da palavra “labour” para se referir aos trabalhos de parto (presentinho de Deus também no momento da expulsão).
Já work (traduzido para trabalho) seria o trabalho que cria o mundo humano, ou seja, que não é consumido diretamente. Se aplicaria à produção de ferramentas, edifício, estátuas, móveis, obras de arte, enfim, coisas que não estão feitas para o consumo imediato, que são feitas ou para auxiliar outros trabalhos em geral ou apenas “para existir” e delimitar/criar o mundo.