Por Passa Palavra
Não nos devemos limitar a considerar as opiniões que têm sido veiculadas por escrito e discutidas na internet. Mesmo quem não escreve tem opiniões, e sobre a questão da dívida externa e da permanência ou saída do euro estão a gerar-se vastos consensos populares, perceptíveis nas conversas de rua e, para quem os tem, nas discussões nos empregos. São sobretudo estas ideias correntes que levamos em conta neste artigo como noutros, antes que elas se convertam em lugares-comuns.
1.
 Vários comentadores estranham que façamos análises críticas e não apresentemos propostas concretas de negociação com a Troika ou de organização da economia pós-Troika. Enganam-se a nosso respeito. Pertencemos àqueles a quem não cumpre aspirarem a governantes. Um escritor e militante alemão hoje esquecido, Karl Marx, escreveu um livro intitulado Crítica da Economia Política e depois desenvolveu as teses desse livro noutra obra, bastante mais volumosa, chamada O Capital e com o subtítulo Crítica da Economia Política. É nessa mesma perspectiva que, depois de termos divulgado artigos críticos da economia do euro, fazemos agora a crítica da economia política implicada no abandono do euro. O que nos interessa é exclusivamente avaliar os efeitos que essa saída teria sobre os trabalhadores e as suas lutas.
Vários comentadores estranham que façamos análises críticas e não apresentemos propostas concretas de negociação com a Troika ou de organização da economia pós-Troika. Enganam-se a nosso respeito. Pertencemos àqueles a quem não cumpre aspirarem a governantes. Um escritor e militante alemão hoje esquecido, Karl Marx, escreveu um livro intitulado Crítica da Economia Política e depois desenvolveu as teses desse livro noutra obra, bastante mais volumosa, chamada O Capital e com o subtítulo Crítica da Economia Política. É nessa mesma perspectiva que, depois de termos divulgado artigos críticos da economia do euro, fazemos agora a crítica da economia política implicada no abandono do euro. O que nos interessa é exclusivamente avaliar os efeitos que essa saída teria sobre os trabalhadores e as suas lutas.
2.
No plano económico, o problema fundamental, na nossa opinião — e foi para isto que chamámos a atenção no artigo A saída do euro e o fascismo — é a estrutura do processo produtivo em Portugal, a baixa tecnologia empregue e o arcaísmo empresarial. É daí, e não de questões estritamente financeiras, que decorre o carácter dependente e subalternizado da economia portuguesa.
O declínio da competitividade do capitalismo português no mercado externo não resultou de uma sobrevalorização cambial. Que «as exportações e as importações respondem efectivamente à taxa de câmbio», como observou Alexandre Abreu numa réplica àquele nosso artigo, isso ninguém duvida; o pior é que ele escreveu logo em seguida: «independentemente dos segmentos das cadeias de valor ocupados pelas diferentes economias». E aqui Alexandre Abreu saltou indevidamente do curto para o médio e longo prazo. Com efeito, se houvesse da parte do empresariado português uma capacidade de modernização e de aumento da produtividade, a sobrevalorização cambial poderia ser aproveitada para importar com custos menores meios de produção que renovassem o parque produtivo nacional. O aumento da produtividade resulta da capacidade de os empresários responderem às dificuldades sentidas, sejam elas as greves ou a concorrência de outros capitalistas. Quando os empresários não conseguem dar uma resposta às dificuldades, então encontram sempre duas justificações, neste país como nos outros: a taxa cambial e a falta de auxílios do Estado. O que está fundamentalmente em causa na actual crise é a classe capitalista portuguesa globalmente considerada, desde os pequenos patrões obsoletos aos grandes empresários que concentraram os investimentos nos centros comerciais. Não é uma crise suscitada por banqueiros malevolentes. É uma crise agravada por capitalistas incompetentes.
Essa incapacidade é amplamente visível num desequilíbrio da balança comercial que não se limita a ser quantitativo. De acordo com os dados aqui disponíveis, as importações realizadas são, na sua grande maioria, relativas a combustíveis e máquinas/aparelhos. Ora, ao implicar o aumento do preço das infra-estruturas, a desvalorização cambial obrigaria a uma produção mais cara e, logo, menos competitiva.
 Paralelamente, chamámos a atenção para o facto de, numa época de transnacionalização económica, ser impossível delinear estratégias em quadros nacionais. As grandes empresas já não são firmas multinacionais que, a partir da sede localizada num país, controlem filiais estabelecidas noutros países e com uma actividade produtiva claramente delimitada. As grandes empresas dos nossos dias são firmas transnacionais, que articulam cadeias produtivas dispersas por vários países, em que cada filial contribui com outras para a mesma cadeia produtiva e em que todas essas cadeias convergem ou cruzam-se numa multiplicidade de centros que, aliás, podem deslocar-se geograficamente. Por isso a noção de comércio entre países tem cada vez mais de ser substituída pela noção de transferências no interior das mesmas firmas.
Paralelamente, chamámos a atenção para o facto de, numa época de transnacionalização económica, ser impossível delinear estratégias em quadros nacionais. As grandes empresas já não são firmas multinacionais que, a partir da sede localizada num país, controlem filiais estabelecidas noutros países e com uma actividade produtiva claramente delimitada. As grandes empresas dos nossos dias são firmas transnacionais, que articulam cadeias produtivas dispersas por vários países, em que cada filial contribui com outras para a mesma cadeia produtiva e em que todas essas cadeias convergem ou cruzam-se numa multiplicidade de centros que, aliás, podem deslocar-se geograficamente. Por isso a noção de comércio entre países tem cada vez mais de ser substituída pela noção de transferências no interior das mesmas firmas.
Quer os portugueses queiram quer não, estão inseridos nas redes transnacionais de capital. A mesma esquerda que se deixou tomar por um veio patriótico quando a cadeia de supermercados Pingo Doce, gerida pelo grupo Jerónimo Martins, anunciou a transferência da sua residência fiscal para a Holanda, esquece-se de que esta decisão é muito mais económica do que fiscal. Quer dizer, o acesso a linhas de crédito e a maior flexibilidade de articular as várias filiais implica uma inserção transnacional de grupos que só na nomenclatura e na origem são nacionais. Em termos realmente efectivos, eles são cada vez mais transnacionais. Por outro lado, não vimos essa mesma esquerda preocupar-se anteriormente com os grupos empresariais que transferiram as sedes fiscais para o estrangeiro. O mais espantoso em tudo isto talvez seja a precipitação em criticar o que aparentemente prejudicaria o país e as contas públicas em vez de criticar as relações sociais de exploração que todos os trabalhadores sofrem. Quando esta preocupação com a soberania fiscal de um país se sobrepõe à crítica das relações de trabalho existentes em cada empresa, então se isto não é uma visão nacionalista, o que será o nacionalismo?
Se a inserção internacional da economia portuguesa não se operar, no plano financeiro, através do euro, operar-se-á através de uma moeda emitida nacionalmente. Será que os custos dessa inserção financeira diminuirão com a passagem do euro para o escudo? E não nos referimos aqui a turbulências a curto prazo, porque qualquer mudança económica substancial acarreta custos imediatos. As vantagens ou desvantagens devem ser avaliadas a médio e longo prazo, e é aqui que entra a questão das deficiências estruturais da economia portuguesa.
3.
Ouvimos com frequência, tanto pela mão de especialistas como na boca de leigos, o argumento de que a zona euro constitui uma estrutura viciada e insusceptível de reforma. Mas já repararam que o capitalismo também?
 De qualquer modo, será que a zona euro não está paulatinamente a reformar-se, da maneira como as reformas profundas se fazem hoje, ou seja, longe dos governos, que cada vez menos contam, e no plano eficaz e discreto da alta tecnocracia? Pasmamos ao ouvir multidões, que incluem comentadores considerados sérios, afirmar que o governo está de joelhos perante os senhores do dinheiro. Como podem iludir-se assim? Quem está de joelhos somos nós. Os governos estão de pé e são uma parte constitutiva das redes do capital. Aliás, são uma parte cada vez menos importante, porque as funções de articulação económica e de estratégia a longo prazo se deslocaram para uma tecnocracia e uma burocracia não eleitas, que têm a sensatez de não dar entrevistas e se manter longe da ribalta.
De qualquer modo, será que a zona euro não está paulatinamente a reformar-se, da maneira como as reformas profundas se fazem hoje, ou seja, longe dos governos, que cada vez menos contam, e no plano eficaz e discreto da alta tecnocracia? Pasmamos ao ouvir multidões, que incluem comentadores considerados sérios, afirmar que o governo está de joelhos perante os senhores do dinheiro. Como podem iludir-se assim? Quem está de joelhos somos nós. Os governos estão de pé e são uma parte constitutiva das redes do capital. Aliás, são uma parte cada vez menos importante, porque as funções de articulação económica e de estratégia a longo prazo se deslocaram para uma tecnocracia e uma burocracia não eleitas, que têm a sensatez de não dar entrevistas e se manter longe da ribalta.
Seria excelente se os comentadores fizessem durante um mês jejum de televisão, de Público e de Expresso e só lessem durante esse período o Financial Times e The Economist. Talvez depois pudessem abordar com os pés na terra não dizemos a economia, mas a política. Saberiam então o que são hoje os governos.
A inexistência de transferências orçamentais compensatórias, a que Alexandre Abreu se referiu no seu artigo e que faz parte da arquitectura originária do euro, não é obrigatória no sistema de moeda única e desde o início que vários economistas têm indicado o problema. Em Abril deste ano o Passa Palavra publicou um artigo que traça um historial sumário do euro, dos problemas a que o euro respondeu e dos problemas que sucessivamente criou. Esse artigo conclui que os problemas prementes, em especial a necessidade de transferências orçamentais compensatórias, exigem que se caminhe para uma união política na zona euro, ou seja, que se tome precisamente o rumo oposto àquele que a esmagadora maioria da esquerda hoje propõe. Em vez de apontarmos para o abandono do euro e para o ressuscitar do «orgulhosamente sós», pensamos que é mais propício para as lutas dos trabalhadores o prosseguimento da unificação política da União Europeia e especialmente da zona euro. É interessante analisar nesta perspectiva as recentes medidas tomadas pelo Banco Central Europeu, a derrota sofrida pelo Bundesbank e a necessidade em que a chanceler Merkel se viu de apelar para o velho europeísta Helmut Kohl. A reforma interna da zona euro afigura-se hoje mais viável do que há alguns meses atrás.
4.
Alexandre Abreu afirmou que considerar nacionalista a posição adoptada pelos que defendem o abandono do euro é uma «estratégia argumentativa condenável e desonesta», incluída entre as «acusações pueris», e acrescentou que se deve «dispensar o recurso demagógico a epítetos como “nacionalista”, que apenas retiram clareza, dignidade e seriedade ao debate». Ora, estes são termos demasiado fortes para empregar acerca de um artigo que o próprio Alexandre Abreu classificou como «sério e sistemático».
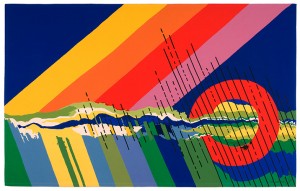 Parece-nos também que esses termos falham o alvo, porque o próprio Alexandre Abreu escreveu que a saída do euro abriria «a possibilidade de financiamento monetário dos défices públicos sem a agiota intermediação bancária actualmente imposta». Mas este tipo de noções inclui-se no nacionalismo, que não se resume a uns mentecaptos que andem pelas ruas a agitar bandeiras verdes e vermelhas e a cantar heróis do mar. Nacionalismo neste caso é não considerar que, se Portugal regressasse à independência monetária, o escudo seria nos mercados internacionais uma moeda muitíssimo menos confiável do que o euro e, portanto, as dívidas contraídas pela economia-escudo acarretariam juros superiores. O facto de essas dívidas ao estrangeiro serem fixadas nominalmente em dólares ou em euros não nos faz esquecer que elas deveriam ser pagas a partir de uma moeda de quinquilharia. Paramos aqui a argumentação, porque evidentemente não supomos que Alexandre Abreu possa imaginar que, fora da zona euro, o país vivesse sem crédito externo.
Parece-nos também que esses termos falham o alvo, porque o próprio Alexandre Abreu escreveu que a saída do euro abriria «a possibilidade de financiamento monetário dos défices públicos sem a agiota intermediação bancária actualmente imposta». Mas este tipo de noções inclui-se no nacionalismo, que não se resume a uns mentecaptos que andem pelas ruas a agitar bandeiras verdes e vermelhas e a cantar heróis do mar. Nacionalismo neste caso é não considerar que, se Portugal regressasse à independência monetária, o escudo seria nos mercados internacionais uma moeda muitíssimo menos confiável do que o euro e, portanto, as dívidas contraídas pela economia-escudo acarretariam juros superiores. O facto de essas dívidas ao estrangeiro serem fixadas nominalmente em dólares ou em euros não nos faz esquecer que elas deveriam ser pagas a partir de uma moeda de quinquilharia. Paramos aqui a argumentação, porque evidentemente não supomos que Alexandre Abreu possa imaginar que, fora da zona euro, o país vivesse sem crédito externo.
Não evocamos a questão do nacionalismo por má-vontade ou acinte. A questão está no centro daquele nosso artigo, em estreita relação com a radicalização populista que uma saída do euro poderia verosimilmente provocar e, portanto, com o desenvolvimento de um fascismo. Não se trata de uma «estratégia argumentativa», mas precisamente do nosso argumento fundamental.
Acreditamos que Alexandre Abreu não seja nacionalista e que não o sejam também os demais ladrões de bicicletas e até os ladrões de outras coisas. Mas nós escrevemos aquele artigo a pensar não em pessoas singulares mas numa multidão — pesamos os termos, porque se trata verdadeiramente de uma multidão — que se coloca no quadro do nacionalismo para defender a saída do euro. Nem é preciso ler certos blogs, basta andar na rua.
A nossa análise adiantou outro aspecto, sem o qual não pode ser entendida. É que, se o nacionalismo deixou de ter uma existência possível no plano económico, todo o nacionalismo constitui hoje uma falsa consciência, queremos dizer, uma ideologia que, servindo por um lado para obscurecer a realidade, por outro lado serve para indicar em negativo o lugar dessa realidade. A falsa consciência é sempre uma consciência incómoda, como entenderá quem se der ao trabalho de estudar o fascismo nos textos dos fascistas. A demagogia e a histeria de insultos são a forma estilística desse incómodo. É disto e deste nacionalismo que estamos a falar.
Alexandre Abreu afirmou que «num cenário de saída e desvalorização, o ajustamento afectaria transversalmente o poder aquisitivo externo dos rendimentos do trabalho e do capital». O objetivo, pensamos, não é que o capital perca poder porque sim, mas que tal perda beneficie aqueles que trabalham. Ora, o cenário de trabalhadores e patrões unidos numa comum e fraterna indignação prenuncia uma coligação populista e, com ela, todo um conjunto de perigos associados. Num artigo que publicámos recentemente chamámos a atenção para os perigos da «nação em cólera», usando os termos que um fascista sabedor e erudito empregou para classificar esse tipo de indignação nacional.
 Pretender, como faz Alexandre Abreu, que a saída do euro permitiria «que um outro mecanismo que não a compressão salarial funcione como variável de ajustamento face à co-evolução das economias» é, uma vez mais, raciocinar no plano financeiro como se ele fosse único ou determinante, porque uma saída do euro provocaria uma tal catástrofe nos rendimentos dos trabalhadores que isto corresponderia a uma compressão salarial muito superior àquela que nos é agora imposta. Ora, é precisamente aqui que detectamos o cerne da incompreensão de Alexandre Abreu perante o nosso artigo. Escreveu ele que, em nosso entender, «a desvalorização do poder aquisitivo externo das poupanças afectaria sobretudo os pequenos e médios capitalistas e os trabalhadores». E em seguida considerou «estranho que uma proposta de esquerda como a destes autores tenha como umas das suas preocupações centrais proteger as poupanças em detrimento dos rendimentos presentes, nomeadamente os rendimentos presentes do trabalho». Mas nós não estamos interessados em proteger as poupanças dos pequenos e médios capitalistas. O que nos interessa, isso sim, é prosseguir o debate, analisando em que medida um ataque conjunto às poupanças desses capitalistas e aos salários dos trabalhadores não os confundiria todos numa «nação em cólera», para empregar uma vez mais as palavras do escritor e político fascista que citámos.
Pretender, como faz Alexandre Abreu, que a saída do euro permitiria «que um outro mecanismo que não a compressão salarial funcione como variável de ajustamento face à co-evolução das economias» é, uma vez mais, raciocinar no plano financeiro como se ele fosse único ou determinante, porque uma saída do euro provocaria uma tal catástrofe nos rendimentos dos trabalhadores que isto corresponderia a uma compressão salarial muito superior àquela que nos é agora imposta. Ora, é precisamente aqui que detectamos o cerne da incompreensão de Alexandre Abreu perante o nosso artigo. Escreveu ele que, em nosso entender, «a desvalorização do poder aquisitivo externo das poupanças afectaria sobretudo os pequenos e médios capitalistas e os trabalhadores». E em seguida considerou «estranho que uma proposta de esquerda como a destes autores tenha como umas das suas preocupações centrais proteger as poupanças em detrimento dos rendimentos presentes, nomeadamente os rendimentos presentes do trabalho». Mas nós não estamos interessados em proteger as poupanças dos pequenos e médios capitalistas. O que nos interessa, isso sim, é prosseguir o debate, analisando em que medida um ataque conjunto às poupanças desses capitalistas e aos salários dos trabalhadores não os confundiria todos numa «nação em cólera», para empregar uma vez mais as palavras do escritor e político fascista que citámos.
É precisamente nessa conjugação que reside o perigo do fascismo, agravado pelo nacionalismo.
O título alude, evidentemente, ao actor Mário Viegas.
Para as ilustrações usámos, de cima para baixo, uma obra de Charrua, outra de Rodrigo, outra de Areal e, finalmente, mais duas de Charrua.







Excelente texto. Ele faz uma bela análise da economia e mostra os falsos caminhos que alguns intelectuais da esquerda pouco ilustrados podem cometer. Certa vez um amigo meu comentou sobre os bancos e suas respectivas falências, acabei falando para ele que a minha opinião era a da salvaguarda destes. Ele ficou espantado, pois como era possível que um marxista tivesse um tal posicionamento. Disse a ele que enquanto a economia capitalista é capitalista, a produção de riqueza é feita através da propriedade privada e de suas explorações, disse também que os banqueiros têm seus contatos e que movimentam o dinheiro muito facilmente. Argumentei que, enquanto não fizermos a coletivização dos meios de produção, por mais justa que pareça a quebra de um banco, ela só afetaria os estratos médios da burguesia e todos do proletariado, pois os grandes capitalistas já teriam evadido seu capital e os pequenos se veriam na impossibilidade da perpetuação de sua empresa.
Este debate esclarece-me mais sobre o que fazer ( e sobretudo o que não fazer ) que toda a produção do Congresso de Alternativas.
Desejo que não parem, que não ponham pontos finais, mesmo que sintam que se estão a repetir: A cada repetição há sempre alguém que ainda não tinha entendido e passou a entender.
A quem interessa que os países do Sul da Europa saíam da UE?
Nestes tempos de crise em Portugal, Espanha, Grécia e, em menor escala, Itália, ressurgem gritos latentes de eurocéticos – “Larguemos o Euro! Fora da UE! Que se Lixe!”. Este brevíssimo comentário pretende expor alguns pontos interessantes (ou, antes, preocupantes), para fazer refletir sobre os interesses que podem estar por trás de visões que setores da esquerda vêm apoiando como solução para a situação atual…
Dialogando com um dos artigos já presentes no site, devemos pensar: o que ocorreria caso os governos dos países do Sul da Europa optassem pelo calote e rompessem com a UE? Ora, nas condições atuais da economia destes países (agora, falando da trindade poulantziniana: Grécia, Portugal e Espanha), essencialmente voltada ao turismo e à exportação de produtos de baixa tecnologia (como azeite), poderia se optar pela tentativa de reindustrialização ou manutenção atual da economia. Ambas, todavia, passariam pela necessidade de crédito externo, seja para compra de maquinários (e nesse caso, a quantidade de crédito seria ainda maior), seja para financiamento de produtores.
Assim, a quais fundos recorreriam estes países? Tendo saído do euro dando um calote, é improvável que os fundos alemães e franceses sorrissem com felicidade. Talvez os EUA, mas é pouco verossímil que um governo que enfrenta uma crise econômica e política (como é o caso do atual governo Obama e, mudando ou não o democrata, será o do governo seguinte, ao menos em seus dois primeiros anos) compre o desgaste com a opinião pública de seu país financiando países com (literalmente) pouco crédito na praça.
Restam abertas as portas da China e da Rússia. No presente momento, em que ares de Guerra Fria voltam a soprar em torno da questão síria, seria mais do que interessante para Beijing e Moscou ter como dependentes governos na bacia do Mediterrâneo.
Some-se isso a recente convergência que certos movimentos e ideólogos da extrema-direita da região andam encontrando com ideólogos da Rússia de Putin, passando a tentar se inserir nas manifestações de rua contra a troika e fazendo coro . Pois é, meus caros.