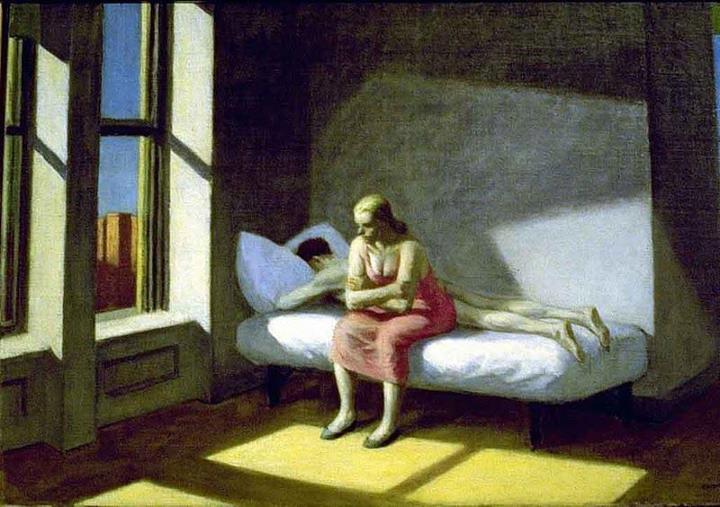A greve de 2016 foi estratégica; muitas prisões norte-americanas não funcionariam sem o trabalho dos presos. Por Pablo Polese
Este artigo foi dividido em duas partes. Leia aqui a primeira parte.
A greve de 2016
Os planos do complexo industrial-prisional começam a sofrer uns primeiros sinais de resistência por parte dos trabalhadores (presos ou não) organizados. Em 2016 tivemos a maior greve dentro de penitenciárias da história dos EUA. Dezenas de milhares de prisioneiros em todo o país suspenderam seus trabalhos, em protesto a favor dos direitos dos presos, em especial contra as condições sanitárias e o “trabalho forçado”, que os manifestantes descrevem como o equivalente moderno da escravidão. “Eles podem ter substituído o chicote pelo spray de pimenta, mas muitos dos outros tormentos permanecem: isolamento, posições restritas, sacando nossas roupas e investigando nossos corpos como se fôssemos animais”. Há casos, como o do Tennessee, em que os presos trabalhadores de nível inferior recebiam 17 centavos por hora de trabalho, o que significa que precisavam trabalhar 3 horas para poder pagar o selo de uma carta. Não por acaso o sistema carcerário da Califórnia – que usa presos até mesmo na função de bombeiros – lucrou US$ 58 milhões com o trabalho de presos no ano fiscal de 2014-15, segundo um estudo do Solidarity Research Center.
Uma interessante iniciativa apoiada (a ideia veio dos presos) pelo Comitê Organizador dos Trabalhadores Encarcerados, chamada “Twin Cities” vem fazendo entrevistas com detentos acerca das condições de vida dentro das prisões. Tendo tido papel fundamental na organização das greves carcerárias de 2016, o sindicato IWW (Industrial Workers of the World) pretende que a divulgação destes testemunhos conecte as experiências e demandas dos presos de distintas instituições, além de derrubar o muro místico que separa o dentro e fora das prisões de um modo que joga nas costas dos presos e ex-presidiários uma alta carga política e ideológica de preconceito, discriminação, medo e ódio. Trata-se da interiorização, pela sociedade, de uma cultura punitivista. Sobre este tema, acertadamente Vera Malaguti comenta que:
O principal poder decantado d[o] conjunto de movimentos punitivos vai ser a legitimação da intervenção moral, da invasividade do Estado penal nas relações familiares e de vizinhança. Quanto maior a conflitividade social decorrente da devastação promovida pelo capital, maior deve ser a legitimidade da pena. O que vai articular essa nova economia política é a constituição de uma cultura punitiva, que vai amalgamar o prisonfare com o workfare. A indústria cultural e a grande mídia vão tratar de inculcar diariamente o dogma da pena e o respectivo modelão penal norte-americano: das bugigangas eletrônicas à prisão supermax privatizada. O importante é punir mais, melhor e por muito tempo: o negócio dos cárceres precisa de muitos hóspedes e de longas estadias… É aquele processo que Wacquant chama de remasculinização do Estado, que produz um giro do social para o penal e que terá efeitos tanto nos orçamentos públicos como na prioridade discursiva, colonizando assistência social pela “lógica punitiva e panóptica característica da burocracia penal pós-reabilitação” (MALAGUTI, 2012a: 12)
 O estigma da passagem pela prisão coloca essas pessoas num círculo vicioso de marginalização social e segregação racial. A pessoa não é mais pessoa, é ex-detento.[8]
O estigma da passagem pela prisão coloca essas pessoas num círculo vicioso de marginalização social e segregação racial. A pessoa não é mais pessoa, é ex-detento.[8]
Nesse sentido me parece que as entrevistas podem se tornar ferramentas de valor não só em termos de contribuição com a organização dos presos, mas também no sentido “midiático” de humanização dos detentos. Trata-se de uma batalha a ser travada no campo político e ideológico em torno das políticas punitivas estatais e “civis”, tocando no coração do legitimado projeto capital-estatal de encarceramento em massa. Numa dessas entrevistas uma detenta chamada Irina disse o seguinte sobre as motivações do movimento de greves nas prisões dos EUA:
Um ponto realmente importante para nós é que nos identificamos como abolicionistas da prisão, e o que isso significa para nós é que não estamos interessados em reformar as prisões. Acreditamos que elas não deveriam existir – e que este é um caminho pra isso acontecer. Sabe né, eu mesmo me vejo muitas vezes em atrito com as pessoas quando falo sobre isso. Sabe como é, onde vamos colocar o pessoal que comete crimes. Com certeza há alternativas além de enjaular as pessoas e varrer elas pra debaixo dos tapetes. E assim, isso é algo pelo qual lutamos.
A mesma Irina faz ao fim do testemunho uma ótima síntese do modo como os presos tratados: “como descartáveis”. Joanna, uma das sindicalistas entrevistadoras, complementa:
E isso porque o sistema prisional é resultado da supremacia branca e do Capitalismo e o que eu quero dizer é que o sistema foi de fato construído a partir da exploração de pessoas não brancas e também pessoas da classe trabalhadora, pessoas pobres, e assim o sistema prisional realmente é destinado a prender as pessoas que não cumprem com esse sistema ou que de alguma forma estão ficando no caminho desse sistema. E assim vemos o sistema prisional conectado também ao modo como nossas comunidades são policiadas e a como nossas comunidades são exploradas dentro do local de trabalho também, certo? E isso é uma coisa que nós temos apontado, porque nós vemos nosso sindicato apoiando estes trabalhadores e o que está acontecendo aos prisioneiros dentro das instituições é o uso de seu trabalho para gerar lucros para corporações e para o Estado, o que acaba impactando bastante nos trabalhadores de fora. Os trabalhadores de fora também são afetados pelo que acontece dentro e todos nós estamos, desse modo, conectados. Podemos também nos tornar descartáveis como pessoas se caímos fora da linha que esperam que sigamos nos sistemas que existem atualmente. Então é por isso que vemos essa luta como nossa luta, e realmente como uma possibilidade para muitos de nós que fazemos parte dessas comunidades marginalizadas ou comunidades que são exploradas.
Outra das entrevistadoras, Sophia, lembra que o sistema prisional de Minnesota, por exemplo, tem uma das mais baixas populações carcerárias do país mas, ao mesmo tempo, tem as maiores disparidades raciais e, embora isso seja um fato, metade dos prisioneiros de Minnesota são pobres brancos. Com isso ela conclui, a nosso ver precisamente, que “todas essas coisas podem coexistir ao lado umas das outras”, lembrando o slogan do IWW: “Mexeu com um mexeu com todos!”.
 O IWW acerta em cheio quando ressalta que a luta dentro das prisões está diretamente conectada à luta da classe trabalhadora, não apenas porque a classe trabalhadora “não é apenas as pessoas que estão trabalhando ou são trabalhadores, são também as pessoas que estão trancadas, são também as pessoas que estão nos programas sociais, são também pessoas com deficiência, são também…” ao que é interrompida por outra sindicalista, Joanna: “são pessoas sem-teto, são mulheres, são pessoas trans, são pessoas queer, mais uma vez, todas aquelas pessoas que não se encaixam nos sistemas dominantes em nossa sociedade”.
O IWW acerta em cheio quando ressalta que a luta dentro das prisões está diretamente conectada à luta da classe trabalhadora, não apenas porque a classe trabalhadora “não é apenas as pessoas que estão trabalhando ou são trabalhadores, são também as pessoas que estão trancadas, são também as pessoas que estão nos programas sociais, são também pessoas com deficiência, são também…” ao que é interrompida por outra sindicalista, Joanna: “são pessoas sem-teto, são mulheres, são pessoas trans, são pessoas queer, mais uma vez, todas aquelas pessoas que não se encaixam nos sistemas dominantes em nossa sociedade”.
A greve de setembro de 2016 envolveu presos de dezenas de prisões e foi coordenada em 22 estados do país, de acordo com o Comitê Organizador de Trabalhadores Encarcerados (IWOC), que integra o IWW e contribuiu com a greve fazendo uma Convocatória e ajudando na organização da ação por meio de visitas prisionais de membros da família e advogados, além de comunicações entre os detentos de diferentes prisões por meio de celulares contrabandeados. Uma matéria do Miami Herald informou que duas prisões da Flórida tinham colocado suas instalações em lockdown, um dia depois de informar que em todo o estado os guardas estavam se preparando para possíveis greves em conjunto com os protestos nacionais. A data do ato foi escolhida em razão do 45º aniversário dos distúrbios na prisão de Attica em Nova York, até então a maior insurreição prisional da história do país, que tinha como bandeiras de luta questões muito semelhantes às atuais e terminou com a morte de 29 detentos e 10 reféns.
Em alguns casos na Carolina do Sul, Texas, Arkansas e outros estados os prisioneiros são forçados a trabalhar sem remuneração e em condições inseguras, como, por exemplo, manipulando produtos químicos ou serragem de madeira sem óculos ou máscaras de proteção adequadas. Além disso, em caso de lesão durante o trabalho, azar do preso. O número total de prisioneiros envolvidos na greve de 2016 não pode ser precisado, não apenas pelas dificuldades de comunicação entre prisioneiros e organizadores, mas porque temendo punições os próprios prisioneiros muitas vezes se mostram relutantes em admitir que qualquer ação tenha ocorrido. Alex Friedman, diretor da Prison Legal News estimou que cerca de 24.000 presos participaram da greve. Já Cole Dorsey, organizador do IWOC em Oakland, estima que pode-se falar em 72.000 presos grevistas. Além da ação do dia 9 de setembro, outras se desdobraram desde então, incluindo algumas greves de fome coletivas por motivos que variavam de prisão a prisão, como por exemplo o privilégio de visitas íntimas, o cancelamento de consultas médicas, o confisco de celulares etc.
A greve de 2016 ganha relevo quando lembramos que participar em uma greve pode afetar não apenas o usufruto de privilégios cotidianos, mas também a possibilidade de um prisioneiro obter a liberdade condicional. Um membro da IWOC entrevistado pelo The Guardian afirmou que em muitas prisões os oficiais precisaram usar gás de pimenta, bombas de fumaça, granadas de concussão, espingardas de balas de madeira e cães treinados para controlar os prisioneiros em greve. Um membro da IWOC que atua na Carolina do Sul avaliou a ação de setembro de 2016 como “um sucesso” e se disse otimista com atos futuros, uma vez que a experiência “permitiu amarrar outros grupos de prisioneiros, conectar mais gente, saber do que somos capazes e o que funcionaria melhor na próxima vez”.
 A greve dos prisioneiros possui ainda um potencial valor estratégico na luta contra o encarceramento em massa, já que muitas prisões norte-americanas simplesmente não funcionariam sem o trabalho dos presos, que se encarregam da manutenção dos edifícios, cozinham e limpam etc. “Essas greves são o nosso método para desafiar o encarceramento em massa”, diz Kinetik Justice, fundador do Free Alabama Movement. Em início de 2017, frente a novos protestos dentro e fora das prisões contra a fornecedora de alimentos Aramark a empresa alegou que sofre sabotagem (pedras e vermes nos alimentos) por parte de pessoas descontentes com o contrato entre empresa e as instituições prisionais e que o mau comportamento de funcionários (acusações de envolvimento sexual com presos etc.) é uma regra em sistemas prisionais, cabendo à empresa despedi-los ao identificar condutas inadequadas. Desanimador (para quem espera algo mais radical), o movimento Alabama Livre respondeu o seguinte: “é um monopólio e os consumidores têm escolha final zero”, sendo que “no mundo exterior, uma empresa que fornece um mau serviço, cujos funcionários cometem delitos, acabará fora do negócio”. A resposta, entretanto, serve de alerta para mantermos o realismo quanto às potencialidades anticapitalistas desse movimento dentro das prisões. Os Estados Unidos são os Estados Unidos, com sua incontestável hegemonia de ideologias do empreendedorismo e liberalismo.
A greve dos prisioneiros possui ainda um potencial valor estratégico na luta contra o encarceramento em massa, já que muitas prisões norte-americanas simplesmente não funcionariam sem o trabalho dos presos, que se encarregam da manutenção dos edifícios, cozinham e limpam etc. “Essas greves são o nosso método para desafiar o encarceramento em massa”, diz Kinetik Justice, fundador do Free Alabama Movement. Em início de 2017, frente a novos protestos dentro e fora das prisões contra a fornecedora de alimentos Aramark a empresa alegou que sofre sabotagem (pedras e vermes nos alimentos) por parte de pessoas descontentes com o contrato entre empresa e as instituições prisionais e que o mau comportamento de funcionários (acusações de envolvimento sexual com presos etc.) é uma regra em sistemas prisionais, cabendo à empresa despedi-los ao identificar condutas inadequadas. Desanimador (para quem espera algo mais radical), o movimento Alabama Livre respondeu o seguinte: “é um monopólio e os consumidores têm escolha final zero”, sendo que “no mundo exterior, uma empresa que fornece um mau serviço, cujos funcionários cometem delitos, acabará fora do negócio”. A resposta, entretanto, serve de alerta para mantermos o realismo quanto às potencialidades anticapitalistas desse movimento dentro das prisões. Os Estados Unidos são os Estados Unidos, com sua incontestável hegemonia de ideologias do empreendedorismo e liberalismo.
A indústria carcerária tem encontrado problemas em outras partes do planeta. Embora conte com experiências interessantes de uso do potencial da tecnologia (celulares, internet, televisores) para melhorar a reabilitação dos condenados, a Grã-Bretanha vem passando por tensões dentro de suas prisões. Na Inglaterra e Gales, por exemplo, a violência contra oficiais e entre prisioneiros tem aumentado significativamente, não obstante a proporção de homens jovens, teoricamente os mais propensos à violência, esteja caindo. As taxas de automutilação têm crescido a uma média de 25% ao ano. Assaltos graves a outros prisioneiros aumentaram em 28%, e ataques contra funcionários aumentaram 43%. De janeiro a setembro de 2016, houve 107 assassinatos de prisioneiros, quase o dobro dos dados de 2011. As causas desses dados se localizam na superlotação e falta de funcionários nos presídios ingleses, o que tem levado a protestos não só da parte dos detentos, mas também dos agentes das instituições. Em 15 de novembro de 2016, por exemplo, mais de 10.000 funcionários das prisões britânicas interromperam seu trabalho, como parte de uma “ação de protesto” que durou até que a greve foi considerada ilegal. Frente à ascensão de motins e protestos o governo tem tomado providências no sentido de alocação de verbas (investimento de £ $1.3 bilhões), contrato de pessoal, construção de mais penitenciárias, etc. Como foi bem apontado pela reportagem do The Economist: fala-se em inúmeras alternativas, mas “nenhuma menção foi feita a uma resposta óbvia: prender menos pessoas”.
E no Brasil?
O leitor atento deve ter reparado o cuidado na linguagem do The Economist ao criticar os sistemas prisionais norte-americanos e europeus. Tratando do caso brasileiro, onde constatou casos em que 62 presos dividiam uma cela destinada a 12, tendo de disputar o direito de não ter de dormir em pé, meio milhão de reclusos contando com os cuidados de apenas 367 médicos (em 2012), e quinze ginecologistas encarregadas de atender 32 mil detentas, que usam miolo de pão para sanar o sangramento menstrual, o semanário se viu obrigado a falar em “infernolândia” que “faria Dante empalidecer” e usou a seguinte expressão sintética, por si só bastante sugestiva: “Prisões no Brasil: Bem-vindo à Idade Média”. Embora o contexto da reportagem fosse o do massacre em Pedrinhas, em 2013, quando dezenas de presos foram mortos e houveram torturas, esquartejamento, decapitação e até canibalismo, de fato a realidade do cotidiano prisional brasileiro não pode ser comparada com aquela vivida pelos detentos dos países “de primeiro mundo”.
Se em 2013 o The Economist mostrou-se horrorizado e adotou a visão sensacionalista, em 2016, tratando de novos motins sangrentos nas prisões brasileiras, ele escolheu a análise mais serena:
Os governos também temem que uma repressão à violência nas prisões cause problemas fora deles. Em 2006, uma tentativa do governo de São Paulo de conter as operações do PCC nas prisões desencadeou uma campanha de violência por parte dos membros do grupo em todo o estado. Centenas de pessoas morreram durante dez dias em ataques a policiais e às represálias que tais ataques provocaram. Os políticos preferem manter a violência dentro das prisões.
Tendo sua própria política de “guerra às drogas”, o Brasil chegou a uma situação de superlotação dos presídios em decorrência do endurecimento das penas contra traficantes (um conceito fluído que depende da interpretação do policial) e ladrões. A ideia de que as cadeias do país estão lotadas de assassinos, estupradores e pessoas violentas é um mito. Se a maconha fosse legalizada, como já está sendo em diversas partes do mundo, inclusive em quatro estados dos EUA, e se as penas contra roubo de celulares fossem abrandadas, o Brasil não teria prisões superlotadas. No último relatório do Infopen, por exemplo, conclui-se que os crimes contra o patrimônio, crimes contra e pessoa e crimes relacionados às drogas, juntos, são responsáveis por 87% do encarceramento total do país. 28% dos presos estão nas cadeias devido a leis relacionadas ao tráfico de drogas e 46% devido a crimes contra o patrimônio, o que envolve roubos de celulares, motos, carros etc. O Infopen considera “importante apontar o grande número de pessoas presas por crimes não violentos, a começar pela expressiva participação de crimes de tráfico de drogas — categoria apontada como muito provavelmente a principal responsável pelo aumento exponencial das taxas de encarceramento no país e que compõe o maior número de pessoas presas”. A política de encarceramento em massa no Brasil, no entanto, segue as diretrizes do modelo estadunidense, o que nos poupa esforços analíticos: se não houver resistência, a experiência estadunidense retratada acima nos indica em linhas gerais o futuro das políticas prisionais do Brasil, ou seja, deixado à mercê dos gestores estatais e das empresas do complexo industrial-prisional, rumamos para uma cópia do modelo estadunidense (claro que com nossas próprias particularidades culturais, ideológicas, políticas etc).
O complexo industrial-prisional não existe apenas nos EUA, além disso, na ausência de interessados “internos”, as empresas transnacionais do setor certamente estão de olho nos lucros possíveis com a entrada no “mercado de presos” do país que possui a quarta maior população carcerária do mundo. O que precisamos atentar é para as táticas de entrada: o que precisa ser feito para que as prisões do país possam se abrir para as privatizações que são interesse do complexo industrial-prisional? Subornar governadores, legisladores, juízes e chefes de outras instituições-chave? Como conseguir que a opinião pública dê legitimidade para as ações política e economicamente interessantes para este complexo? Basta um bom trabalho midiático? Pedir a bênção das famílias (PCC) que de fato gerem – diga-se de passagem, com muita competência – a dinâmica das prisões, num bem bolado jogo de ganha-ganha? A privatização pode ser acelerada se o sistema demonstrar sinais de colapso iminente? Foi pensando nestas e outras questões que abordei o movimento a favor da redução da maioridade penal, em 2015 e, talvez por falta de criatividade (ou obsessão), são estas mesmas questões que me atormentaram a cabeça quando estalaram em sequência (orquestradas?) rebeliões de presos no Rio Grande do Norte, Amazonas, Roraima e São Paulo, para não falar da greve de policiais no ES e RJ, que nesta teoria da conspiração encaixariam lindamente. Como não sou adepto de teorias da conspiração, limito-me a concluir este texto com a excelente síntese dada pela Pastoral Carcerária.
 Face à mais recente “crise” no sistema prisional brasileiro um dos assessores da Pastoral Carcerária, em entrevista ao Passa Palavra, afirmou que “não há nada de novo nos massacres”. A Pastoral Carcerária emitiu ainda uma nota sucinta onde denunciava: “não é crise, é projeto!” (ver aqui e aqui).
Face à mais recente “crise” no sistema prisional brasileiro um dos assessores da Pastoral Carcerária, em entrevista ao Passa Palavra, afirmou que “não há nada de novo nos massacres”. A Pastoral Carcerária emitiu ainda uma nota sucinta onde denunciava: “não é crise, é projeto!” (ver aqui e aqui).
Ora, se o encarceramento em massa de pessoas tornou-se projeto, que esperar do futuro dentro do capitalismo? Talvez simplesmente a barbárie cotidiana? Marildo Menegat (2013) afirma que “no capitalismo da atualidade da barbárie, marcado pelas ruínas das derrotas das revoluções, a exclusão de milhões de seres humanos da esfera do mundo social cria formas de sociabilidade em decomposição, como o desemprego estrutural e a criminalidade, por exemplo, que, definitivamente, não podem ser vistos como uma anomia”. E mais à frente: “desse homem sobrevivido, assujeitado em torno dos tormentos do aumento vertiginoso do poder das mercadorias sobre sua livre escolha, temos ao final um ser adaptado às formas germinais da barbárie”. Ora, um ser adaptado, acomodado ao horror, acomodado a um mundo onde é comum o enjaular de pessoas para garantir lucros e evitar distúrbios sociais que poderiam, talvez, ressuscitar dos mortos as aspirações por aquela palavra que começa com R… Se a barbárie cotidiana já é algo por si mesmo medonho, estar adaptado a ela é algo como o inferno. Ou não? Se antes da barbárie se espraiar por tudo lutávamos por um mundo de igualdade e liberdade, hoje parece que junto com a noção de progresso a pauta das lutas sociais recuou a ponto de termos que lutar, antes de tudo, por um mundo menos selvagem.
Notas
[8] Quando cumprem suas penas, a maioria dos prisioneiros no Texas recebe apenas um bilhete de ônibus para casa e US$ 100. Os que saem em liberdade condicional recebem US$ 50. Se quando estavam dentro eram tratados como animais, não serão os 100 dólares que garantirão a reconstrução dos sujeitos no lado de fora. Não por acaso, então, a taxa de reincidência é enorme. De acordo com um inquérito do Departamento de Justiça aplicado às prisões estatais de 30 estados, 77% dos libertados em 2005 foram novamente detidos em um prazo de cinco anos, e mais da metade das prisões ocorreram em menos de um ano. Construir uma nova vida fora do crime é particularmente difícil quando se observa que a punição ao infrator persiste depois do cumprimento das penas. Em muitos estados, por exemplo, os ex-criminosos são proibidos de reivindicar cupons de comida e de obter habitação pública. Nos comércios, ter uma condenação no currículo pode significar nunca mais conseguir um emprego.
Referências
ABRAMOVAY, P. & MALAGUTI, V. (orgs.). (2010). Depois do grande encarceramento. RJ: Revan.
GIORGI, A. (2010). A miséria governada através do sistema penal. RJ: Revan.
MALAGUTI, V. (org.) (2012). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. RJ: Revan.
___. (2012a). Adesão subjetiva à barbárie. In: Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. RJ: Revan.
MELOSSI, D. & PAVARINI, M. (2006). Cárcere e fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos XVI-XIX). RJ: Revan.
MENEGAT, M. (2006). O olho da barbárie. Sp: Expressão Popular.
___. (2013). Estudos sobre ruínas. RJ: Revan.
POLESE, P. (2015). A redução da maioridade penal face à indústria do cárcere.
RUSCHE,G. & KIRCHHEIMER,O. (2004). Punição e Estrutura Social. RJ: Revan.
WACQUANT, L. (1999). As Prisões da Miséria. RJ: Zahar.
___. (2008). Os condenados da Cidade: estudos sobre marginalidade avançada. RJ: Revan.
___. (2009). Punir os pobres. A nova gestão da miséria nos Estados Unidos. RJ: Revan.