Por João Bernardo
E hoje, qual é a situação?
O aspecto mais flagrante, que me parece condicionar todos os outros, é o facto de a problemática das relações sociais no processo de trabalho ter desaparecido das preocupações imediatas dos trabalhadores, apreensivos apenas com a questão das remunerações. Até a extrema-esquerda — ou aquela que ainda se interessa por economia — deixou de ter como horizonte a alteração das relações sociais de trabalho, e o tema da exploração foi substituído pela desigual distribuição dos rendimentos. O conceito de relações sociais de trabalho refere-se ao sistema organizativo estabelecido entre os funcionários, nomeadamente a divisão de tarefas, a disciplina, as cadeias de comando, o grau de iniciativa que possa existir na execução das actividades, o ritmo imposto ao trabalho. Em cada estádio (estágio) tecnológico, o tempo de trabalho que um trabalhador é pressionado a despender no processo de produção depende, acima de tudo, da forma como estão organizadas as relações sociais de trabalho.
Assim, uma modificação das relações de propriedade ou do poder de Estado que em nada altere as relações de trabalho não tem nenhuns efeitos sobre a mais-valia, porque no capitalismo a exploração refere-se a uma desigualdade de tempos — de um lado o tempo de trabalho que os trabalhadores são capazes de despender no processo produtivo e, do outro lado, o tempo de trabalho incorporado nos bens e serviços que eles consomem. Não se trata de uma desigualdade entre coisas, nem entre os símbolos pecuniários que as representam, mas de um desfasamento (defasagem) de tempos no decurso do processo de trabalho entendido como processo temporal. Tal como tenho repetido inúmeras vezes, o problema do tempo constitui o núcleo central do modo de produção capitalista. Ora, a relevância assumida pelo tempo e pela questão do desfasamento entre processos temporais está intimamente ligada à organização das relações sociais de trabalho. A mais-valia é o resultado imediato de dados tipos de relações estabelecidas no processo de trabalho.
Chegámos deste modo a uma situação paradoxal. A problemática das relações sociais de trabalho pode ter-se esvaído do horizonte próximo, ou até distante, dos trabalhadores e dos ideólogos da extrema-esquerda, mas continua a ser a principal preocupação dos capitalistas, nomeadamente dos administradores de empresa. Esta assimetria, com implicações trágicas, constitui o aspecto mais flagrante da clivagem de classes nos nossos dias.
A noção de uma separação entre as classes foi paulatinamente substituída pela aspiração de mobilidade social. E os identitarismos, que são hoje a ocupação praticamente única do que ainda se chama extrema-esquerda, funcionam como veículo de ascensão social. Mesmo quando é abordada a temática do racismo, ela é isolada do sistema das relações sociais de trabalho e tratada exclusivamente na perspectiva do identitarismo étnico. Afinal, o tema da exploração e das relações de trabalho deu lugar aos identitarismos; e se o aumento dos salários é a reivindicação básica dos trabalhadores, para os identitários a reivindicação é a política de quotas, a garantia de que por inerência poderão ascender, ou ser puxados, até à elite — ou uma presumida elite.
Este é um dos principais aspectos em que opera a noção de falsa consciência — numa época em que o capitalismo se universalizou e os trabalhadores se mundializaram, exibe-se como ideologia a fragmentação da classe em identidades. A falsa consciência desempenha uma dupla função, porque ao mesmo tempo que constitui um obstáculo à percepção da situação real, por isso mesmo a análise crítica pode usá-la como sintoma para indicar qual é essa situação real.
Os identitarismos, portanto, devem ser considerados como um exercício de falsa consciência. Por um lado, eles repõem a velha temática do nacionalismo, mas numa época de transnacionalização do capital. Há quase um século, Paul Valéry observou em Regards sur le monde actuel que a História «faz sonhar, embriaga os povos, gera-lhes falsas memórias, exagera-lhes os reflexos, nutre-lhes as velhas mágoas, atormenta-os no repouso, condu-los ao delírio das grandezas ou ao da perseguição e torna as nações amargas, arrogantes, insuportáveis e vaidosas». São palavras onde o tempo não deixou rugas, tanto mais que hoje podemos aplicar às identidades, a todas em conjunto e a cada uma delas, as palavras que Valéry destinou às nações — «amargas, arrogantes, insuportáveis e vaidosas».
Por outro lado, os identitarismos retomam uma noção formulada por Houston Stewart Chamberlain, um dos mais notáveis precursores do racismo nacional-socialista, que concebia uma circulação entre biologia e ideologia tal que uma dada biologia gerava dadas ideias, mas em sentido inverso certas ideias podiam gerar também uma biologia «espiritual» que, embora não fosse visível, não deixaria por isso de ser real. Estes delírios orientaram o Terceiro Reich desde o início até ao fim, e já à beira do suicídio Hitler repetia que «uma raça mental é algo mais sólido e duradouro do que uma simples raça». São estes os termos em que deve entender-se hoje, por exemplo, a substituição da noção de sexo, biologicamente definida, pela noção vaga de género, resultante de opções ideológicas. E quando o «género» opera em sentido contrário à biologia, o resultado é o equivalente a «uma raça mental», um sexo mental.
Assim, os identitarismos vigoram entre os parâmetros definidores do fascismo de viés nacionalista e do fascismo de viés racial. Ora, como todo o nacionalismo, bem como todo o racismo, pressupõem uma atitude beligerante relativamente às outras afirmações nacionais ou raciais, também os identitarismos são reciprocamente conflituais. Entre os exemplos flagrantes, nos países europeus onde é considerável o número de imigrantes adeptos do fundamentalismo islâmico, as feministas reclamam contra os véus, as burkas e a geral submissão de que padecem aquelas mulheres, para grande indignação das defensoras do identitarismo étnico, que acusam as feministas de xenofobia e «feminacionalismo». Também a hostilidade entre as feministas e os transexuais, que nos últimos tempos tem ocupado as crónicas, não nos deve fazer esquecer as rivalidades não menos acirradas entre os homossexuais masculinos e as transexuais, vistas enquanto concorrentes. E como as quotas limitam os campos, elas agudizam os conflitos. Foi assim que nos Estados Unidos se agravou agora o confronto entre os movimentos de negros, de hispânicos e de asiáticos, cada um deles reivindicando a ampliação das quotas próprias, em detrimento das alheias. Resumindo, a interseccionalidade é tão utópica como é o ideal de harmonia entre as nações, porque os identitarismos são inevitavelmente rivais. Deste modo, a antiga luta da esquerda pelo universalismo ficou convertida no seu exacto contrário, a fragmentação social devida a uma infinidade de critérios.
 Outro aspecto que pode ser esclarecido pela noção de falsa consciência, numa época em que as capacidades técnicas e os horizontes tecnológicos atingiram dimensões nunca antes alcançadas ou sequer sonhadas, é a promoção como ideal futuro de um pré-capitalismo mítico, embelezado pelos movimentos ecológicos. Implícita ou mesmo explicitamente, eles procedem à apologia de um passado inventado.
Outro aspecto que pode ser esclarecido pela noção de falsa consciência, numa época em que as capacidades técnicas e os horizontes tecnológicos atingiram dimensões nunca antes alcançadas ou sequer sonhadas, é a promoção como ideal futuro de um pré-capitalismo mítico, embelezado pelos movimentos ecológicos. Implícita ou mesmo explicitamente, eles procedem à apologia de um passado inventado.
Todas as propostas ecológicas levam à inversão dos mecanismos da produtividade, com o consequente decrescimento económico. Como tratei extensamente do assunto, em especial aqui, limito-me agora a insistir na perspectiva que imediatamente me interessa, a de uma existência — ou não existência — sociológica da classe trabalhadora. Ora, a estratégia dos movimentos ecológicos pressupõe a extinção dos trabalhadores enquanto classe. Antes de mais, a apologia do decrescimento, invertendo os mecanismos da produtividade, implica o fim de uma tecnologia que sustenta materialmente a classe trabalhadora, tal como ela é economicamente definida. Só por uma compreensível demagogia — senão perderiam qualquer apoio popular — os ecologistas não explicitam as consequências que os seus programas teriam para as condições de vida e a alimentação da população. Nem sequer é aqui necessária uma prospecção económica, que prossegui no longo ensaio indicado acima. Basta-me recordar duas situações reais, que os ecologistas se esforçam por ignorar ou fazer esquecer.
Os efeitos da extinção das cidades e da ruralização da sua população, com o respectivo decrescimento económico, podem ser avaliados estudando o que sucedeu no Cambodja sob o regime dos Khmers Vermelhos, na segunda metade da década de 1970. Foi dissolvida a população urbana, incluindo a totalidade do operariado, e foram dispersados no campo entre dois e três milhões de citadinos, ficando todos os habitantes do país convertidos em trabalhadores agrícolas, excepto — evidentemente — os quadros dirigentes. Num aspecto esta experiência foge aos padrões ecológicos porque, como os Khmers Vermelhos criticavam a família enquanto unidade social e tomaram medidas para a dissolver, não empregaram o sistema da agricultura familiar e a ruralização extensiva baseou-se numa modalidade de escravismo de Estado. Mas outro aspecto elucida as consequências da agro-ecologia porque, para evitar os adubos químicos, previa-se a utilização maciça da urina como fertilizante, embora os governantes se queixassem de estarem apenas a ser recolhidos 30% da urina humana, além de se desperdiçar a urina das vacas e dos búfalos. No final, os custos económicos do regime dos Khmers Vermelhos são conhecidos, com a colossal crise que instauraram na agricultura. Os custos humanos são conhecidos também, entre um milhão e meio e dois milhões de mortos numa população de cerca de sete milhões.
Recentemente, outro dos mitos da ecologia teve possibilidade de ser testado na prática. O presidente do Sri Lanka, no início de 2021, decidiu que o país adoptaria a agricultura orgânica e proibiu a importação e o uso de produtos agro-químicos, insecticidas e herbicidas, isto quando mais de 90% dos agricultores cingaleses empregavam fertilizantes químicos. Para facilitar a conversão à agricultura orgânica, iniciou-se uma política de subsídios massivos que, acrescentados a outras despesas do Estado, aumentaram muito o volume da circulação pecuniária. E como ao mesmo tempo — o que seria previsível e desmentiu as profecias ecológicas — a passagem à agricultura orgânica resultou numa queda drástica da produção de bens alimentares, com a consequente subida dos seus preços, a inflação disparou. Nesta conjuntura, para aliviar o mercado e atenuar a insatisfação crescente, o governo decidiu aumentar a importação de produtos agrícolas, precisamente quando diminuíam as exportações e o valor da rupia caía drasticamente. O resultado foi o agravamento do déficit do comércio externo, que chegou a 42% do PIB, com o consequente aumento da dívida externa e a queda das reservas de divisas à disposição do banco central. Perante uma crise económica destas dimensões, em que cada factor agravava os outros numa espiral em colapso, o turismo, que era uma grande fonte de receitas, praticamente desapareceu.
O Passa Palavra publicou em 15 de Julho de 2022 o artigo A falência do Sri Lanka. O que temos a ver com isso? (aqui), que recomendo aos leitores. Mas é também elucidativo saber que o jornal El País, embora se mantenha geralmente alinhado com os temas politicamente correctos, escrevia em 12 de Maio de 2022: «[…] el mundo agroecológico es refractario a las evidencias y sus consecuencias. Hace un año, cuando el presidente de Sri Lanka decidió prohibir la importación de fertilizantes y pesticidas, parecía una gran idea. Un año después, al menos una parte de la multitud que asedia el palacio presidencial en estos días la componen agricultores iracundos. El país se enfrenta a un descenso brutal en los rendimientos, que ha significado una caída en las exportaciones de té que ha costado al país 425 millones de dólares (403 millones de euros), y un déficit en la producción de arroz de un 20%, cuando siempre había sido autosuficiente» (aqui).
Quando afirmei há pouco que a estratégia dos movimentos ecológicos pressupõe a extinção dos trabalhadores enquanto classe, nos casos do Cambodja e do Sri Lanka essa extinção deve ser entendida no sentido literal da palavra. E assim o anticapitalismo, que era o programa da esquerda hoje defunta, foi substituído pelo metacapitalismo ecologista, na verdade um pré-capitalismo idealizado. O desejo de edificar um socialismo da abundância a partir das forças produtivas criadas pelo capitalismo deu lugar a uma mobilização de massas com o objectivo utópico de restaurar a miséria pré-capitalista, fantasiada de Paraíso Perdido. Ora, este horizonte da ecologia revela um curioso atavismo.
 A ecologia é herdeira das grandes harmonias utópicas concebidas na Antiguidade, tanto ocidental como chinesa, e ressurgidas no Iluminismo do século XVIII. A redução das necessidades sociais e individuais era a primeira condição destas utopias, onde igualitarismo e penúria seriam sinónimos. Mas apesar disso viver-se-ia num bem-estar, porque a população, idealizada à medida das quimeras, seria desprovida de ambições e, portanto, faltar-lhe-ia imaginação. A lista das necessidades estaria definitivamente encerrada, e como ninguém desejaria ter alguma coisa além do que já existia, a penúria afigurava-se abundância. Por isso seria possível, nestas utopias, abolir o grande intermediador — o dinheiro. As trocas seriam desnecessárias, já que todos dispunham de bens iguais, e também não ocorreria a dilação, porque nunca deixaria de haver o pouco que existia. Compreende-se que tais utopias possam inspirar os ecologistas, cujo horizonte se limita a uma humanidade sem ambições, ficando justificado o programa do crescimento zero e a sua conclusão lógica, o decrescimento económico. Também aquilo a que hoje se chama extrema-esquerda encontra nessa escassez travestida de suficiência mais um pretexto para a aversão ao dinheiro. Tais antecessores, tais descendentes.
A ecologia é herdeira das grandes harmonias utópicas concebidas na Antiguidade, tanto ocidental como chinesa, e ressurgidas no Iluminismo do século XVIII. A redução das necessidades sociais e individuais era a primeira condição destas utopias, onde igualitarismo e penúria seriam sinónimos. Mas apesar disso viver-se-ia num bem-estar, porque a população, idealizada à medida das quimeras, seria desprovida de ambições e, portanto, faltar-lhe-ia imaginação. A lista das necessidades estaria definitivamente encerrada, e como ninguém desejaria ter alguma coisa além do que já existia, a penúria afigurava-se abundância. Por isso seria possível, nestas utopias, abolir o grande intermediador — o dinheiro. As trocas seriam desnecessárias, já que todos dispunham de bens iguais, e também não ocorreria a dilação, porque nunca deixaria de haver o pouco que existia. Compreende-se que tais utopias possam inspirar os ecologistas, cujo horizonte se limita a uma humanidade sem ambições, ficando justificado o programa do crescimento zero e a sua conclusão lógica, o decrescimento económico. Também aquilo a que hoje se chama extrema-esquerda encontra nessa escassez travestida de suficiência mais um pretexto para a aversão ao dinheiro. Tais antecessores, tais descendentes.
No entanto, difundiu-se igualmente uma utopia oposta, Le Pays de Cocagne onde ninguém precisava de trabalhar porque a natureza oferecia em profusão tudo aquilo com que se pudesse sonhar. Mas não seria esta uma utopia medieval, enquanto as outras nasceram na Antiguidade e ressurgiram com o racionalismo do século XVIII? Ou ter-se-ia sempre mantido uma cisão entre utopias eruditas, quase as únicas que restam nos textos, e utopias populares, predominantemente orais, que sobreviveram no Pays de Cocagne e deixaram eco na obra de Rabelais?
O certo é que os movimentos ecológicos não procuram caução nas utopias populares, mas só nas utopias eruditas que idealizaram a penúria e imaginaram que a igualdade e a comunidade, abolindo as rivalidades, poriam fim aos desejos. O filósofo chines Lieh Tzu, ou Liezi, que viveu no século V antes da nossa era, descreveu num dos clássicos do taoismo um reino utópico onde «o povo não tem desejos». Considerava-se que os desejos nasceriam só das invejas, porque se alguém se apropriasse de uma coisa suscitaria a cobiça dos outros, provocando assim o fim da harmonia e a consequente ambição do ganho. O igualitarismo seria sinónimo da penúria porque qualquer desigualdade generalizaria a ambição de adquirir e de sair da escassez.
Contudo, para que só as rivalidades pudessem romper a penúria seria necessário conceber uma sociedade desprovida de capacidade criativa, onde inovação e experimentação não existissem. Aquelas utopias representavam uma História parada, por isso todas elas foram idealizações do passado. A profusão de Bons Selvagens, povoando as ilhas fictícias, ilustra esse mito de sociedades sem História.
Rousseau foi um dos últimos autores na série das utopias do Bom Selvagem, e talvez possamos até conceder-lhe o título de derradeiro, porque concluiu a linhagem ao considerar já irrealizável o ideal da inocência primitiva. Apesar disso, a utopia aparecia-lhe como o modelo de que deveríamos aproximar-nos, mesmo sabendo que não o alcançaríamos. A utopia reduziu-se assim a uma moral. «Rousseau ou o antiprogresso», comentou Albert Soboul, mas todas aquelas utopias haviam sido contrárias ao progresso, na medida em que eram imunes à História.
A ilhas ou cidades utópicas estavam isoladas não só da restante sociedade, mas ainda da História, porque só a ambição cria necessidades e sem elas não existe História. Por isso as utopias não eram pensadas como resultado de uma acção colectiva, não nasciam de uma classe social nem a exprimiam. Neste contexto, cabe salientar o carácter precursor da obra de alguém que permaneceu durante muito tempo esquecido ou até ignorado — Claude Boniface Collignon. Três anos antes da Revolução Francesa, ele anunciara uma sociedade igualitária onde «o trabalho, especialmente manual e mecânico, será reduzido pelo menos a metade, devido à simplificação e ao aperfeiçoamento das artes e ofícios, das oficinas e manufacturas». Desde a indústria e as oficinas até às simples tarefas domésticas, o progresso técnico previsto por Collignon seria a base de uma sociedade vocacionada para a abundância. Atingira-se ali o invés das utopias da penúria.
Ora, não é só quanto à redução drástica das necessidades sociais e individuais que os ecologistas se inspiram nas idealizações da escassez, mas igualmente quanto a uma História suspensa no tempo. O programa dos movimentos ecológicos é a restauração da penúria, porque não pretendem reorganizar a tecnologia desenvolvida no capitalismo para fundar outro sistema que vá mais além, mas querem eliminar toda essa tecnologia… para ir onde? Para regressar ao que nunca existiu. Ao horizonte que deveria ser aberto por uma classe trabalhadora gerada no capitalismo e em que o marxismo depositara as esperanças, substitui-se agora a supressão histórica definitiva dos trabalhadores enquanto classe e a evocação dos mitos de penúria lírica.
A partir dos temas do identitarismo e da ecologia operou-se uma clivagem entre esquerda e direita que pouco ou nada corresponde àquela vigente até há poucas décadas. A armadilha do politicamente correcto consiste em persuadir que a actual divisão entre a direita e o que hoje se chama esquerda não alterou a antiga linha de separação, quando na realidade se trata de campos políticos muito diferentes e, portanto, a fronteira que os separa obedece a outra geografia e tem outras implicações. A denominada esquerda não tem a legitimidade da antiga esquerda para enfrentar aquilo que agora se apresenta como direita. Talvez o leitor deva reflectir um pouco nisto, e para ambos os lados do dilema.
 A falsa consciência identificável nos identitarismos e nos movimentos ecológicos é agravada pelo contexto tecnológico.
A falsa consciência identificável nos identitarismos e nos movimentos ecológicos é agravada pelo contexto tecnológico.
Pela primeira vez na história da humanidade os mesmos meios técnicos — a electrónica e os computadores, ligados pela internet — funcionam como instrumento de trabalho, de fiscalização e de ócio. No plano económico e social, a electrónica, os computadores e a internet passaram a servir de infra-estrutura aos processos produtivos e às relações laborais, permitindo que o toyotismo levasse ao extremo a possibilidade de as economias de escala dispensarem a concentração física dos trabalhadores e dando ocasião a que se difundisse a uberização. Por outro lado, a possibilidade de controlar as relações de trabalho sem a presença física dos trabalhadores deve-se à função de fiscalização inerente aos computadores e demais meios electrónicos, levando tanto a vigilância patronal como as informações ao dispor das autoridades a atingir uma dimensão sem precedentes. Ao mesmo tempo, no campo mais amplo das relações entre indivíduos, onde o ócio se inclui, o virtual tende a substituir-se ao pessoal, se é que esta substituição já não se efectivou, esvaindo-se o aspecto afectivo e generalizando-se a indiferença perante os problemas alheios. Sob a ilusão do imediato, o virtual é uma intransponível distância e uma objectificação dos outros. A tragédia converte-se em jogo.
E assim, nas três grandes vertentes da vida dos trabalhadores, a infra-estrutura tecnológica não só permite, mas propicia a fragmentação e a dispersão. As consequências desta situação são decisivas. A mais significativa assimetria na actual clivagem de classes, em que a problemática das relações de trabalho se esvaiu do horizonte dos trabalhadores, embora constitua a preocupação central dos capitalistas, tem como infra-estrutura um sistema tecnológico que permite aos capitalistas concentrarem a recepção de informações e a emanação de decisões, e proporciona aos trabalhadores apenas a recepção de indicações, ao mesmo tempo que os estimula à fragmentação e à dispersão.
Num círculo vicioso ou, pior ainda, numa espiral viciosa a conjugação desses aspectos desenvolve o analfabetismo funcional e é estimulada por ele. A leitura foi substituída pelos vídeos, a expressão de emoções foi substituída pelos memes e tudo isto é articulado por uma sintaxe rudimentar, restringida à sucessão de frases curtas. A reflexão é abolida quando as pessoas se tornam capazes apenas de brevíssimos períodos de atenção, e talvez o TikTok constitua a mais fidedigna expressão do intelecto contemporâneo. Ora, como a maior parte dos ócios dos trabalhadores decorre sobre a infra-estrutura formada pela electrónica, os computadores e a internet, enquanto essa actividade fragmenta e dispersa, ela ministra também as qualificações mínimas necessárias para operar nos processos produtivos. Encontramos de novo a assimetria em que os capitalistas reforçam a teia social que os liga, enquanto os trabalhadores se fraccionam e a sua classe se dilui.
Este é o mundo em que vivemos.
É certo que Aurora Apolito (aqui e ver também aqui) mostrou que a electrónica, os computadores e a internet poderiam servir de infra-estrutura a uma sociedade que, embora autogerida e descentralizada, continuasse a ser complexa e produtiva. Mas, para que tal sucedesse, essas técnicas teriam de ser retiradas do sistema tecnológico capitalista em que foram geradas e ser inseridas noutro sistema tecnológico, determinado por outro modo de produção, resultante da acção revolucionária dos trabalhadores constituídos socialmente enquanto classe. Ora, não é esse o mundo em que vivemos. As oportunidades que Aurora Apolito discerniu podem estar ao serviço de um novo movimento social, mas não criam esse movimento.
A fragmentação dos trabalhadores, ou melhor, a inexistência sociológica de uma classe trabalhadora que hoje, enquanto classe, é passível apenas de definição económica, tem como infra-estrutura técnica — ao mesmo tempo resultado e agente — as redes sociais e o prevalecimento das relações virtuais sobre as relações pessoais. Neste contexto ocorreu a completa substituição das culturas populares, geradas pelos trabalhadores e que lhes traçavam as suas fronteiras sociais, pela indústria cultural de massas, que é produzida pelos mecanismos do capital e por definição é supraclassista, diluindo quaisquer demarcações de classe. Os influencers aparecem agora como auge desta indústria de massas. Já não se trata só da massificação da arte e do fim da estética individual, é também a massificação das opiniões. E assim a democracia conseguiu realizar a grande aspiração estética — e, portanto, política — do fascismo.
Este breve ensaio divide-se numa primeira parte, onde situo as raízes do problema, uma segunda parte, onde dou vários exemplos concretos, uma terceira parte, onde tento explicar alguns porquês e uma quarta parte, que deixará o leitor ainda mais furioso.
 As ilustrações reproduzem obras de Sol LeWitt (1928-2007).
As ilustrações reproduzem obras de Sol LeWitt (1928-2007).


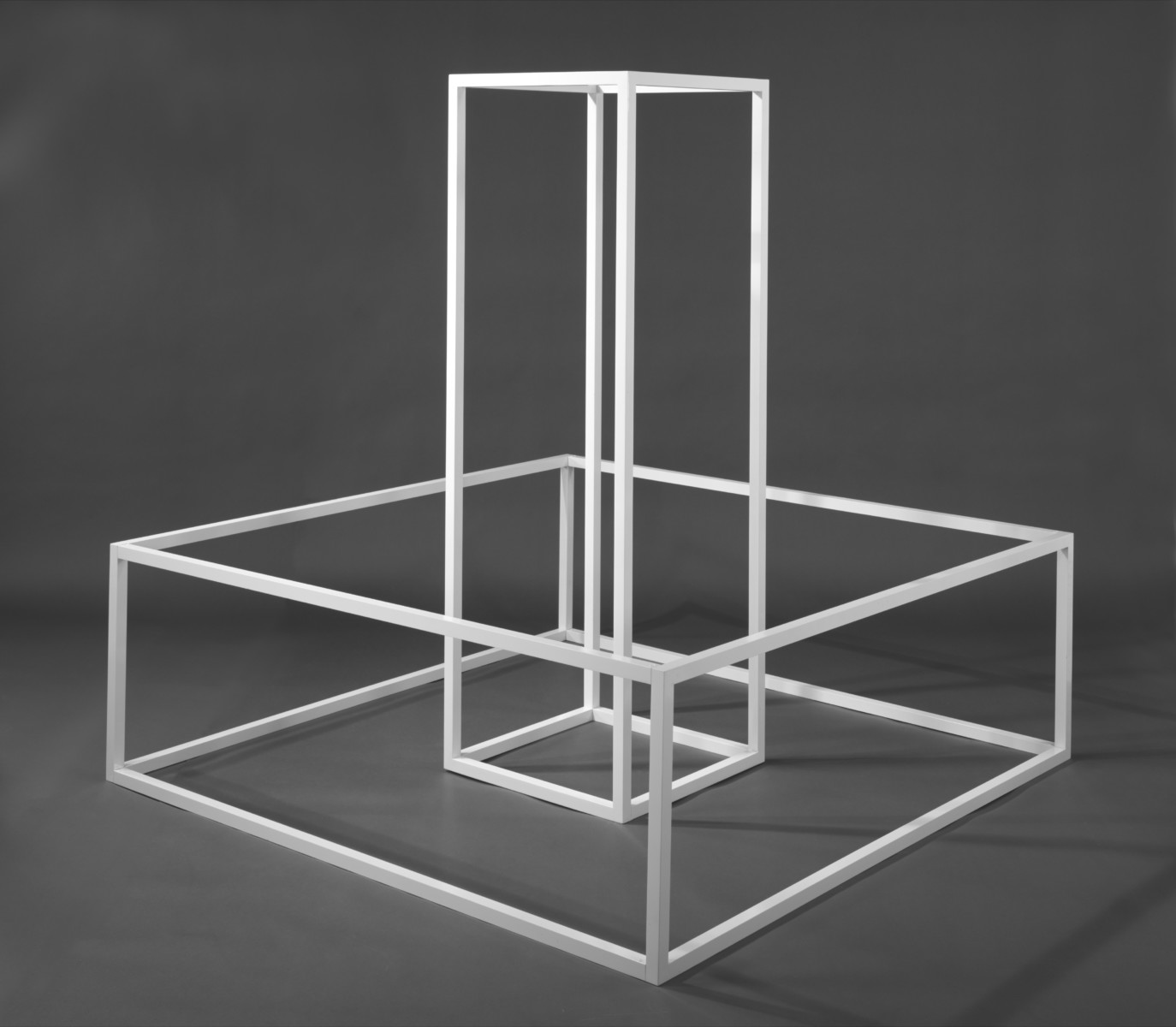





Sobre a noção de uma separação entre as classes ter sido paulatinamente substituída pela aspiração de mobilidade social, há um livro bastante interessante de um sociólogo britânico, Dave Evans: “A Nation of Shopkeepers: The Unstoppable Rise of the Petty Bourgeoisie”. Ele pode der baixado no site libgen.is
Certamente o livro reflete melhor a realidade do Reino Unido. Basicamente ele procura mostrar que uma das características principais da classe trabalhadora era a relativa ausência de ambição de mobilidade social. Ele procura mostrar como grande parte do que se considera frações da classe trabalhadora no Reino Unido, hoje, possui essa característica subjetiva tradicionalmente da pequena burguesia, o desejo de mobilidade ascendente e o medo de decair socialmente.
Ah, o labirinto! Sempre ele…
Um labirinto de labirintos, em cujo interior mesmo uma brilhante inteligência se torna completamente cega.
Sem nada conseguir a não ser perambular sem rumo, passando a cada vez pelos mesmos corredores num infindável girar em círculos.
Haverá saída deste maldito labirinto? Talvez ao seguir a melodia ausente de um fado que já deixou de soar… Tão triste, tão belo… Tão perdido!
Não. Isto não levará a saída alguma.
E se num dos melancólicos trechos do labirinto uma página rasgada de um livro for encontrada? Nela se lê: 《Todo o trabalho é originalmente direcionado à produção de alimentos para sua apropriação pela classe dominante》.
Mais à frente, no paredão interno do labirinto uma quase apagada pixacão: 《A produção capitalista apenas desenvolve técnicas e o grau de complexidade do processo social de produção através de simultaneamente minar as fontes originais de toda a riqueza: o solo e o trabalhador》.
Seriam citações de alguma obra fascista? Ou “O Capital” é muito referenciado e pouco lido?
Maldita “ruptura metabólica”!
Para encontrar o portal de entrada levando ao exterior do labirinto, se exige uma brutal quebra de paradigmas.
E o que há lá fora? A classe trabalhadora, em si. Por todo o tempo, em toda parte.
Para si? Apenas lampejos fugazes. Desde que a luta se dê através de relações sociais comunitárias.
Ainda assim, por mais breve sua duração, neles vai ganhando materialidade o tempo da Revolução.
No caldo cultural contemporâneo, a apologia à ataraxia anda na moda entre grupos que se opõem (e talvez por isso se complementem). No meio da assim chamada classe média, que pratica yoga, come produtos orgânicos e pratica a abstenção do consumo enquanto viaja para a Índia em Boeings ultramodernos, mas também entre jovens proletários seguidores de canais de youtube e influencers autodenominados estoicos, em grupos como o MGTOW ou mesmo no famoso caso do ‘Calvo do Campari’.
Ataraxia nunca esteve tão na moda.
A propósito, qual seria a obra de Liezi em que se cita ‘reino utópico onde «o povo não tem desejos»’?
Cordiais abraços.
Johnny,
Encontrei essa citação em notas de leitura muito antigas, referentes a uma obra de Needham, Science and Civilization in China. As minhas notas não têm mais detalhes sobre o original, mas penso que se trata do livro traduzido, ou parcialmente traduzido, no Brasil sob o título Tratado do Vazio Perfeito.
Eis que em uma aula pública de Yoga na praça aqui na cidade hoje pela manhã, finaliza a ínstrutora:
– Buda tem razão, o que mata são os desejos.
Scheizepapier dixit:
– Merda tem razão, o que mata é o papel higiênico.