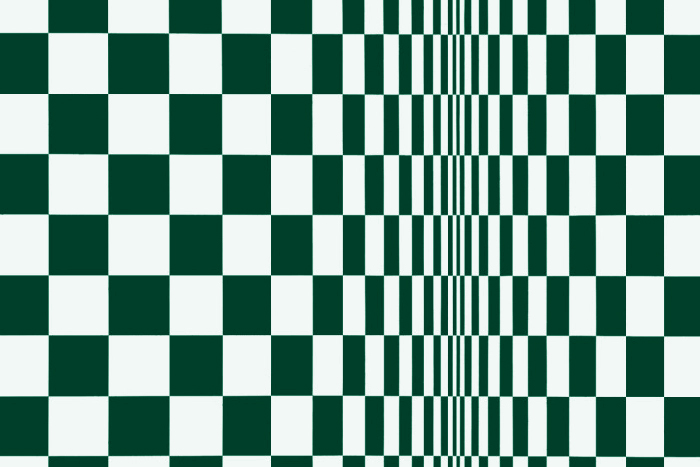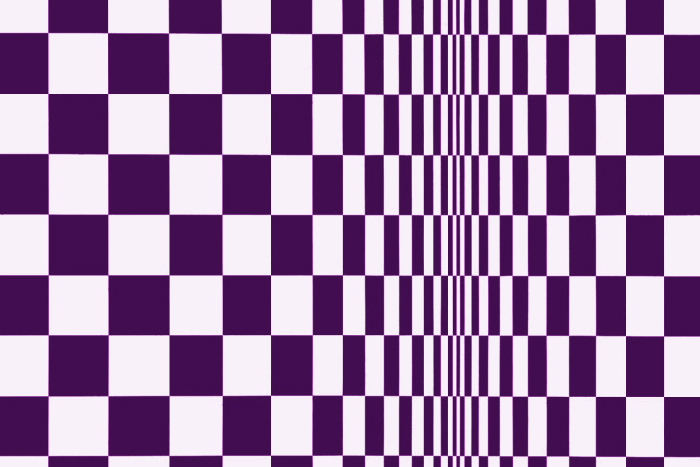Por Raquel Azevedo
A publicação d’A Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, em 1936, assume uma posição curiosa na história do pensamento econômico. A crítica à economia neoclássica em que Keynes se formou e à ideia de que não há nenhum empecilho ao pleno emprego é lida, retrospectivamente, como uma consequência necessária da quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929 e dos níveis persistentes de desemprego que a ela se seguiram. A crise e a crítica da teoria econômica parecem se consolidar como elementos inseparáveis, sendo função da crítica tornar a prometer um futuro que a crise parece obscurecer e negar. Nesse sentido, seria legítimo perguntar qual a crítica que emergiu da crise de 2008.
Em um artigo publicado no The Guardian em 31 de janeiro, os economistas David Adler e Yanis Varoufakis aproveitaram a renúncia do então presidente do Banco Mundial e a tentativa de Donald Trump de aparelhar a instituição (visto que à época cogitou indicar a própria filha Ivanka para o cargo) para discutir a necessidade de uma reforma progressista das “últimas colunas remanescentes do edifício de Bretton Woods”. Como se sabe, esse edifício veio ao chão no início da década de 1970 em razão dos déficits externos que o acordo impunha à economia norte-americana (confirmando a previsão de Keynes a respeito dos problemas de se fundar a nova ordem mundial a partir do dólar). Desde então, são as taxas de câmbio flutuantes e a mobilidade ilimitada do capital que caracterizam o sistema financeiro internacional. O que Adler e Varoufakis defendem ao mobilizarem a imagem das ruínas de Bretton Woods é uma reformulação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, de modo que as velhas instituições criadas no pós-guerra possam financiar um New Deal verde. Somente um esforço supranacional como aquele que teria caracterizado Bretton Woods poderia sustentar a transição para uma economia de baixo carbono — uma transformação que custaria, anualmente, segundo as contas dos dois economistas, 8 trilhões de dólares.
Pouco mais de uma semana depois da publicação desse texto, o historiador Adam Tooze escreveu um artigo em que aponta um aliado inesperado na intenção de convocar um novo Bretton Woods. Tratava-se do fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. “Depois da Segunda Guerra”, disse Schwab no encontro desse ano em Davos, “líderes de todo o globo se reuniram para projetar um novo conjunto de estruturas institucionais que permitissem que o mundo do pós-guerra colaborasse para a construção de um futuro comum… O mundo mudou e, por uma questão de urgência, precisamos nos ocupar desse processo novamente”. Tooze corrigiu o empresário e lembrou que as conferências de Bretton Woods ocorreram ainda em 1944, embora algumas instituições ali arquitetadas só tenham sido implementadas, de fato, no pós-guerra.
Mas mais do que uma lembrança sobre o verdadeiro significado daquilo que teria sido uma “reunião de guerra dos Aliados”, o texto de Tooze nos mostra que a resposta à crise de 2008 é a nostalgia de um esforço de reestruturação do sistema financeiro internacional. Mais do que isso, trata-se de uma nostalgia das duas décadas de crescimento e fortalecimento da seguridade social que corresponderam ao período em que esse complexo equilíbrio se manteve. Keynes continuaria sendo a crítica que se segue à crise. O anacronismo só fica nítido quando se leva em conta que o keynesianismo do presente não consegue prometer o mesmo futuro que prometeu outrora — especialmente porque não há período de maior redução de desigualdade no funcionamento das economias capitalistas do que aquele que se sucede à guerra.
O solo da década de 2010 é outro. No Brasil, um dos efeitos de quase meia década de baixo crescimento e índices elevados de desemprego é ter se tornado a unidade familiar uma espécie de seguridade social improvisada. Talvez a força que adquire o conceito de família entre políticos autoritários alçados a governar em tempos de expectativas decrescentes possa ser parcialmente explicada pela degradação das condições de trabalho. Segundo dados de 2018, em vários países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas uma em cada quatro pessoas que procuram emprego recebe algum subsídio. A demanda por mecanismos de proteção social que não apenas reduzam os impactos das flutuações econômicas, mas que respondam às transformações no mercado de trabalho pode parecer, à primeira vista, ainda menos auspiciosa que a nostalgia dos anos dourados como resposta à crise, mas há aí uma estratégia para diminuir a mediação de instituições como a família e a igreja em momentos de maior vulnerabilidade do trabalhador, embora apenas transfira essa responsabilidade para o Estado. Aqui estamos apenas na sala de emergência do hospital, para me valer da metáfora usada pelo filósofo Paulo Arantes.
O descolamento entre crise e crítica é o sintoma de que a única imagem possível do futuro no interior da teoria econômica parece ser a promessa de uma nova crise.