Por Felipe Corrêa
Leia a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta partes desta série.
Política, cultura e identidade coletiva
Com exceção de alguns ortodoxos que ainda insistem em ver a determinação mecanicista da infra-estrutura sobre a superestrutura, praticamente todos os estudiosos das mobilizações populares vêm assumindo que, para além da importância dos elementos econômicos, fatores culturais e identitários são absolutamente centrais, tanto para que as mobilizações se formem, quanto para que elas agreguem pessoas, que aumentem suas forças e mesmo para que obtenham vitórias. A diferença entre um indivíduo que na primeira dificuldade abandona a causa e um outro que dá a vida por ela não está na infra-estrutura e, certamente, possui determinação central na correlação de forças entre um movimento popular e seus inimigos.
Nesse sentido, estimular o subjetivo, as paixões, os desejos, os sentimentos, as ideologias, parece-me central. A maneira que um indivíduo avalia uma situação concreta (fator cultural que envolve necessariamente uma noção ética/moral) é fundamental para ele ingressar e continuar em uma mobilização. Os laços de solidariedade que unem diversos indivíduos e constituem um movimento, gerando uma noção fundamental de pertencimento, são também centrais, assim como as ideologias, que impulsionam as vontades para a luta, os projetos de educação popular, que aumentam o nível de consciência etc.
No entanto, não se pode pensar que somente a cultura e as identidades coletivas, sem uma perspectiva política de intervenção concreta na realidade, de luta concreta, teriam como promover transformações. Lembremos daquela máxima que afirma que, ainda que convencêssemos a maioria da população, forjando uma cultura crítica, com alto nível de consciência e uma identidade coletiva, se isso não se transformasse em uma luta política concreta, todos continuariam sendo oprimidos — ainda que conscientemente.
A idéia de que as festas podem ter função ou caráter político deve ser pensada nessa perspectiva: se por um lado pode-se tentar dar a elas um conteúdo político e/ou politizador, fazer com que promovam satisfação individual, confraternização coletiva, momentos de alegria e de prazer e aprofundamento de laços pessoais, por outro, elas não podem substituir as lutas. Festas, ainda que com conteúdo político, por si mesmas, não constituem, necessariamente e na prática, elementos contestadores de caráter, de fato, político. Qualquer inimigo pode conviver com festas politizadas sem ter de modificar minimamente suas atitudes e posições. É necessário, portanto, refletir em que medida as festas contribuem ou podem contribuir com uma intervenção real nas forças em jogo, ou se elas são apenas eventos que, apesar de outros aspectos positivos, não terão potencial para intervir ou para potencializar uma intervenção na realidade.
Outra questão relevante é que, ainda que se reconheça a noção central da cultura e da identidade, não se pode restringir a aproximação de novos militantes em um movimento por diferenças culturais ou identitárias, refletidas em comportamentos e estilos de vida que mais afastam que agregam. Ao mesmo tempo em que se forja uma cultura comum, fundamental para a unidade na luta, deve-se permitir que os diferentes se aproximem: em termos de sexo, cor, etnia, orientação sexual, idade, nível de instrução etc.
 Deve-se lembrar, além disso, que se por um lado os movimentos têm uma função importante de modificar individual ou coletivamente os militantes, isso não modifica a correlação de forças dentro da qual ele se coloca. Por isso, não se pode esquecer que a atuação voltada “para fora”, para a realidade concreta, é o mais importante e tem de receber prioridade. A mudança individual pode e deve ser buscada dentro do grupo ou do movimento, mas é a mudança/transformação social que se deve ter em vista.
Deve-se lembrar, além disso, que se por um lado os movimentos têm uma função importante de modificar individual ou coletivamente os militantes, isso não modifica a correlação de forças dentro da qual ele se coloca. Por isso, não se pode esquecer que a atuação voltada “para fora”, para a realidade concreta, é o mais importante e tem de receber prioridade. A mudança individual pode e deve ser buscada dentro do grupo ou do movimento, mas é a mudança/transformação social que se deve ter em vista.
Relações pessoais e políticas
Constituir e aumentar força social implica, necessariamente, em aprofundar relações. Assim, não é possível se pensar em um projeto político que se forje sem relações sociais. Certamente os vínculos e as relações são determinantes na unidade de um determinado grupo ou movimento e quanto mais aprofundadas e consistentes forem essas relações, mais o coletivo estará disposto e motivado a atuar coletivamente em torno de um objetivo comum.
No entanto, fazer política não é a mesma coisa que fazer amizade. Ainda que as relações de amizade possam estar contidas dentro da política, a política não pode se resumir a elas; será necessário estar junto com pessoas que não são nossas amigas e que, por vezes, podem até não gozar de nossa afinidade pessoal. Assumir essa posição implica, necessariamente, para que se construa um projeto político, abandonar a idéia de que sempre estaremos entre amigos.
A unidade política deve, prioritariamente, ser forjada em torno de objetivos que são políticos: defendo, por exemplo, que a unidade no movimento popular se dê em relação à necessidade, que nos agrupamentos de tendência, frentes etc. se dê em torno de um método, e que nos agrupamentos ideológicos, partidos etc. se dê em termos ideológicos. São esses os objetivos que devem unir o coletivo; as relações, ao mesmo tempo, quanto mais se aprofundarem, mais contribuirão com os objetivos políticos que se quer alcançar.
Essa é a regra que também deve nortear as políticas de alianças, as quais devem se dar em relação aos objetivos previstos para um determinado período, sendo necessário unir-se com aqueles que, para essa determinada etapa, podem contribuir com o projeto político desejado.
As relações pessoais, se por um lado devem ser aprofundadas e podem contribuir com um projeto político, não podem, sob quaisquer circunstâncias, ser priorizadas em relação à política, e menos ainda substituí-la. Deve-se ter em mente que o individual pode potencializar o coletivo, mas nunca se deve optar por priorizar o individual em detrimento do coletivo, ou mesmo deixar que isso aconteça.
Um classismo renovado
Não há sujeito revolucionário determinado a priori, seja por meio de um processo histórico inevitável ou por condições estruturais que o coloquem, necessariamente, nessa condição. Como um sujeito vai ser revolucionário, estar determinado a modificar os rumos da história, sem ter a mínima consciência disso? Como uma situação estrutural pode, por si mesma, impulsionar um sujeito para a luta?
Uma observação da história dos séculos XIX e XX demonstrará que, em termos de classe, houve distintos sujeitos que poderíamos chamar de revolucionários, nas diversas lutas por transformação que foram levadas a cabo. Houve, certamente, episódios protagonizados pelo operariado das cidades, mas também outros, protagonizados por trabalhadores do campo, camponeses, ou mesmo pelos excluídos e marginalizados da sociedade. Pode-se também notar que as mobilizações que estiveram fundamentadas em setores específicos — principalmente nos policlassistas, como os movimentos de estudantes –, não foram capazes, em grande medida, de promover transformações mais significativas nas estruturas de poder.
Isso me leva a crer que o sujeito — ainda que pertença a uma classe potencialmente revolucionária ou que esteja em uma situação estrutural que propicie o desenvolvimento de sua consciência de classe — é determinado por meio de um processo de luta, responsável por produzir mudanças em seu campo objetivo e subjetivo, racional e emocional. A história oferece elementos para afirmar que o pertencimento a uma classe ou a vida em uma estrutura não determina, obrigatória ou mesmo potencialmente, a criação de um sujeito revolucionário, nem um indivíduo que poderá conter em si o germe da mudança, integrar lutas, etc. Para tentar identificar os setores mais propícios à mobilização, à luta, à transformação social, é imprescindível uma criteriosa observação histórica e conjuntural da região à qual se refere. Sem essa noção de tempo/espaço, obviamente com todas as relações que ela implica, não se pode fazer avaliações acertadas sobre quais são os sujeitos com mais potencial para a luta e para a transformação.
Ao mesmo tempo, parece-me evidente que, sem alianças amplas, ainda que concebidas em termos classistas, será impossível impulsionar um processo de transformação radical que aponte para mudanças significativas e duradouras das estruturas de poder.
 Afirmar o classismo, a existência de classes sociais, das lutas de classe, etc., não significa, obrigatoriamente, assumir a definição marxiana de classe. O socialismo vem contribuindo, historicamente, com possibilidades distintas de se definir esses conceitos. Uma delas, que tem me parecido bastante frutífera, extrapola a categoria exploração para definir as classes e a própria luta de classes, utilizando-se para isso da categoria dominação. Compreendendo que a categoria exploração faz parte da categoria dominação, as classes sociais, nesse sentido, são entendidas a partir de uma noção macro-política/sociológica, que permite identificar um conjunto de classes oprimidas (que inclui trabalhadores da cidade e do campo, campesinato e excluídos/marginalizados), o qual constitui um todo que pode ter condições de estabelecer uma luta ampla para a transformação social. Permite, ao mesmo tempo, identificar um conjunto de classes dominantes responsáveis pelas relações de dominação de classe na sociedade (proprietários urbanos e rurais, capitalistas etc.). Nesse sentido, a luta de classes se daria, fundamentalmente, no conflito entre esses dois amplos conjuntos de dominadores e dominados, ou oprimidos. [Alfredo Errandonea. Sociologia de la Dominación]
Afirmar o classismo, a existência de classes sociais, das lutas de classe, etc., não significa, obrigatoriamente, assumir a definição marxiana de classe. O socialismo vem contribuindo, historicamente, com possibilidades distintas de se definir esses conceitos. Uma delas, que tem me parecido bastante frutífera, extrapola a categoria exploração para definir as classes e a própria luta de classes, utilizando-se para isso da categoria dominação. Compreendendo que a categoria exploração faz parte da categoria dominação, as classes sociais, nesse sentido, são entendidas a partir de uma noção macro-política/sociológica, que permite identificar um conjunto de classes oprimidas (que inclui trabalhadores da cidade e do campo, campesinato e excluídos/marginalizados), o qual constitui um todo que pode ter condições de estabelecer uma luta ampla para a transformação social. Permite, ao mesmo tempo, identificar um conjunto de classes dominantes responsáveis pelas relações de dominação de classe na sociedade (proprietários urbanos e rurais, capitalistas etc.). Nesse sentido, a luta de classes se daria, fundamentalmente, no conflito entre esses dois amplos conjuntos de dominadores e dominados, ou oprimidos. [Alfredo Errandonea. Sociologia de la Dominación]
Assumindo a teoria da interinfluência e da interdependência das esferas (econômica, política/militar/ideológica e cultural/ideológica) [Bruno L. Rocha. A Interdependência Estrutural das Três Esferas], pode-se afirmar que, ainda que estejam no campo das relações econômicas, as classes sociais têm influências e dependências de relações que se estabelecem em outras esferas. É com base nesse argumento que não se pode confundir classe com consciência de classe, já que, ainda que inconscientes, as classes sociais são concretas e existem. Pode-se também afirmar que a luta contra a dominação não é sinônimo de luta de classes, mas que ela envolve, necessariamente, a luta de classes. Ou seja, um projeto de luta contra a dominação não tem como desconsiderar a luta de classes e a própria luta contra a exploração.
Há, portanto, outras possibilidades de conceber a noção de classe, para além do que foi, e que em grande medida ainda é, a posição da velha esquerda. Não se pode descartar as categorias “classes sociais”, “luta de classes” e do próprio “classismo”, por razão de uma definição e de uma utilização que parecem limitadas, e muitas vezes realmente o são.
Não se pode conceber uma nova esquerda sem reconhecer os limites do capitalismo para a criação de uma nova sociedade, fundamentada na igualdade. E é nesse sentido que se torna central a bandeira do classismo, de modificação ampla das estruturas de poder que caracterizam a sociedade capitalista de dominação, e que têm como um de seus principais traços a dominação de classe. Abandonar o classismo significa abrir mão de uma das principais questões, senão a principal, da sociedade capitalista. Assim, as fundamentais lutas de gênero, de raça, de orientação sexual, etc., se não quiserem dar continuidade às desigualdades de classe, devem ter como pilar o classismo, anticapitalista por essência, no sentido de uma prática que, junto com as lutas específicas, mantenha a luta de classes como uma constante, além de uma perspectiva de fim das dominações de classe.
A construção da igualdade não deixa outra alternativa senão reivindicar as bases classistas e o protagonismo de classe nas lutas e transformações. O século XX demonstrou que quando um grupo, ainda que constituído por uma parcela das classes oprimidas, por mais bem intencionado que seja, ao trazer para si a responsabilidade de lutar e de promover as transformações sociais pelos outros, no lugar dos outros, necessariamente produz novas relações de desigualdade, substitui o conjunto das classes oprimidas no exercício do poder e dá continuidade às relações de dominação.
A igualdade só surgirá com a criação de um povo forte e um povo forte se cria nas lutas, participando, decidindo, capacitando-se, desenvolvendo, enfim, uma cultura de luta que o faça reassumir seu papel de sujeito na sociedade. Não se pode querer lutar contra a desigualdade sem se recorrer a um classismo que envolva amplos setores populares e que lhes dê protagonismo.
Criar um novo com velhos elementos
Seria muito arrogante sustentar que, por exemplo, nos últimos 150 anos, não há nada na esquerda que se possa aproveitar. Um estudo com alguma profundidade das discussões que se deram, das posições das distintas correntes, dos episódios práticos em que elas foram envolvidas etc. contribuirá amplamente com qualquer novo processo que se queira criar.
Portanto, uma nova esquerda não pode, de maneira alguma, constituir-se como um espelho da esquerda clássica, descartando toda sua história. Se há aspectos que certamente devem ser reformulados (autoritarismo, estatismo, vanguardismo etc.), há também noções centrais que não devem (classismo, trabalho de base, compromisso etc.).
Sustentar um discurso do novo versus o velho só contribui para que se descarte tudo o que foi construído pela esquerda em sua ampla história. A construção de uma nova esquerda, repito, deve conservar velhos elementos e, ao mesmo tempo, criar novos. Construção essa que não pode abster-se de envolver os setores mais clássicos, ainda que eles conservem muitos dos aspectos velhos que precisam ser superados.
Compromisso militante
Dentre os elementos da velha esquerda que devem ser mantidos, estão aqueles que envolvem a questão do compromisso militante: disciplina, responsabilidade, regularidade etc. — ainda que eles devam ser esvaziados de seu conteúdo autoritário. Certamente, deverá ser repensado como esses elementos vão ser colocados em prática, como as pessoas serão cobradas, etc.; não se pode, entretanto, sob qualquer hipótese, descartá-los completamente.

Culturas militantes que estimulam a falta de compromisso, de disciplina, de responsabilidade, de regularidade, não conseguem acumular o mínimo de força e consequentemente nada modificam em relação à “ordem” que está dada. Basta uma passada de olhos no TAZ de Hakim Bey para notar esse fato. Faz-se uma festa, um meeting, e quando o Estado ataca, tudo se dissolve e organiza-se em outro local. Qual é o potencial transformador, em termos políticos, de algo desse tipo? Nenhum, obviamente.
Assim, uma nova esquerda terá de repensar a maneira de estimular esses antigos elementos que giram em torno do compromisso militante, de forma que haja envolvimento e seriedade por parte daqueles que estiverem nas lutas e que haja espírito de entrega, disciplina etc.
A disciplina é um desses elementos que vem sendo reivindicados de maneira altamente autoritária pela esquerda clássica. Deve-se pensar na disciplina para além da hierarquia e da dominação; concebida dessa maneira, disciplina não significa obedecer o que diz a direção. Se levados em conta os processos coletivos de tomada de decisão, ela significa o envolvimento do indivíduo nos processos decisórios e o respeito às posições que foram deliberadas coletivamente — um compromisso do indivíduo em relação ao coletivo. Seriedade e regularidade também são fundamentais, pois é impossível acumular politicamente com gente que vem numa reunião e não vem na outra, aparece e desaparece, assume tarefas e não cumpre, faz trabalho e depois não faz etc. É fundamental, ainda, que haja e que se estimule essa cultura da seriedade (levar a sério aquilo que faz) e da regularidade (estar presente, com frequência, para realizar aquilo que foi deliberado). A política não pode ser uma atividade do “quando der, e se der”.
Isso certamente envolverá aspectos mais e menos agradáveis, coisas que gostamos mais e menos de fazer, mas que terão de ser realizados por razão das necessidades colocadas por um processo de luta e de transformação.
A dialética entre teoria e prática
É verdade que grande parte da esquerda vem resumindo suas intervenções às produções teóricas as quais, se servem para melhorar a análise da realidade, para aprofundar as opções estratégicas, ao não implicarem prática, não constituem lutas concretas e não acumulam força. Por outro lado, a pura prática, que chamei de “praticismo”, se não tiver como base um aprofundamento teórico, fundamentado em reflexões críticas, na busca de respostas no passado, nas atualizações daquilo que não serve mais para nossos dias, certamente trará dificuldades e limitações significativas que poderão impedir o avanço e o próprio desenvolvimento da luta.
A teoria nos dá elementos importantes em termos históricos e conjunturais. Ela pode servir também para se conceber objetivos e caminhos a seguir, os quais, certamente, são mais estimulados por uma noção ideológica que teórica. A prática, por outro lado, verifica na realidade se as hipóteses formuladas pela teoria possuem lastro real e oferecem ótimas experiências para que se renove e se aprimore a teoria.
Portanto, uma nova esquerda não pode abrir mão de teoria e prática. As quais, por meio de uma interação dialética, fortalecem-se mutuamente, fazendo com que haja um aprimoramento mútuo. Com boa teoria se aprimora a prática e com boa prática se aprimora a teoria. Ambas devem caminhar juntas, num esforço de desenvolvimento e melhoria permanente.
Se por um lado há uma “urgência das ruas”, é inegável que grande parte das teorias da velha esquerda precisam ser renovadas. Teremos de “podar os velhos ramos” [Camilo Berneri. Pensamento e Batalha]. Há uma urgência das ruas, mas também há urgências fora delas. E devemos reconhecer a “insuficiência das ruas” [IEL. A Insuficiência das Ruas], quando essa prática não vem ancorada em um processo mais amplo de acúmulo real de forças e de um aprimoramento teórico, capazes de impulsionar amplamente as lutas e as transformações sociais.
Não se pode pregar a prática em detrimento da teoria ou vice-versa. Ambas devem usufruir da dialética entre uma e outra para um acúmulo de forças no sentido de modificar a realidade.
A democratização e a opção pelos processos coletivos, pela delegação e pela autogestão responsável
 A necessidade de democratização dos processos de luta e transformação, colocada há tempos e que se enfatizou com as experiências do século XX, é evidente — fundamentalmente pela noção, antes discutida, de táticas, estratégias e objetivos. Se a esquerda tem de trabalhar na criação de um povo forte, ela não pode optar por um caminho que o enfraqueça, como os processos antidemocráticos de luta que, ao invés de criarem sujeitos pensantes, capazes de conduzir a si mesmos e forjar as bases de um movimento sustentável de luta por transformação, criam um povo sem capacidade de pensar e agir, obediente, incapaz de tomar a dianteira nas lutas sociais.
A necessidade de democratização dos processos de luta e transformação, colocada há tempos e que se enfatizou com as experiências do século XX, é evidente — fundamentalmente pela noção, antes discutida, de táticas, estratégias e objetivos. Se a esquerda tem de trabalhar na criação de um povo forte, ela não pode optar por um caminho que o enfraqueça, como os processos antidemocráticos de luta que, ao invés de criarem sujeitos pensantes, capazes de conduzir a si mesmos e forjar as bases de um movimento sustentável de luta por transformação, criam um povo sem capacidade de pensar e agir, obediente, incapaz de tomar a dianteira nas lutas sociais.
Quanto mais fraco permanecer o povo nos processos de luta, maiores serão as necessidades de direções autoritárias que comandem esses processos e, por isso, maior a chance de se estabelecerem novas hierarquias que significarão a manutenção das relações de dominação. “Um povo forte não precisa de líderes”, dizia Zapata, enfatizando a necessidade de as lutas criarem os sujeitos revolucionários capazes de exercer as funções democráticas dentro de um movimento reivindicativo, ou mesmo assumir a função de sujeito em uma sociedade revolucionária autogerida. Nesse sentido, torna-se fundamental a opção pelo coletivo, pelo fortalecimento do conjunto popular para a mudança social e não somente para proporcionar condições individuais de mobilidade, visando a inserção dentro da estrutura de classes que está dada ou mesmo o estabelecimento de novas posições de dominação.
A opção da esquerda sempre foi por um processo coletivo de mudança e esse é outro elemento que precisa ser mantido. É por esse motivo que o consenso — processo decisório que se estabelece em parte da esquerda depois dos anos 1970 — deve ser questionado. Com base nas práticas dos últimos 40 anos, podemos constatar que, se por um lado o consenso aumenta as discussões, alinhando melhor o nível de informações em um coletivo, ele pode implicar desigualdades significativas.
“Quando grupos maiores tentam decidir por consenso, isso normalmente os obriga a chegar ao menor denominador intelectual comum em sua decisão: a decisão menos controversa ou mesmo a mais medíocre que uma assembléia relativamente grande consegue obter é adotada — precisamente porque todo mundo deve concordar com ela, ou então se abster de votar naquele tema. Mas o que é mais preocupante é eu ter descoberto que ela permite um autoritarismo traiçoeiro e manipulações gritantes — mesmo quando usada em nome da autonomia ou liberdade” [Murray Bookchin. Comunalismo]. Assim, não se pode adotar o consenso de maneira acrítica, pois, se as decisões fundamentadas em votação na qual vence a maioria possuem problemas, o consenso também possui.
A democratização das informações e os processos coletivos de discussão e deliberação parecem ser elementos fundamentais. No entanto, a proporcionalidade nas tomadas de decisão e o impedimento que uma minoria domine o processo também. Da mesma maneira que é fundamental o envolvimento dos implicados nas decisões que lhes dizem respeito, a delegação também é, o que significa que não serão todos a deliberar sobre tudo. Quanto mais implicado se está no processo decisório, maior é a necessidade de envolvimento; pode-se optar pela delegação com controle da base, utilizando-se de mandatos temporários e rotativos. [Michael Albert. Buscando a Autogestão]
A tentativa de consenso e, não sendo possível, a votação, vencendo a maioria, juntamente com a delegação responsável e controlada pela base, parecem meios-termos que vêm funcionando e que cumprem as necessidades estratégicas colocadas.
Outro elemento antigo da esquerda que não pode ser abandonado é a idéia de começar a construir hoje o mundo em que se quer viver amanhã. E fazem parte disso tanto os processos autogestionários que priorizam o coletivo e as delegações com controle da base, como também a noção de regras que, estabelecidas coletivamente e fundamentadas numa ética revolucionária, não podem ser abandonadas em função de uma posição permissiva que dá condições para que se estabeleça a cultura do “pode tudo”. Esse conjunto de regras deve ser estabelecido aos poucos e de maneira coletiva, tendo-se em mente que é fundamental forjar uma noção de que as deliberações coletivas têm de ser cumpridas, e não podem ser violadas, tendo como justificativa a “liberdade/autonomia individual”. Esse argumento é dos capitalistas, quando falam que têm a liberdade de explorar os trabalhadores, já que os próprios trabalhadores querem essa exploração. É o que os latifundiários dizem, quando possuem muitas terras sem função social, enfatizando que têm a “liberdade” de ter terra e não fazer nada com ela.
Portanto, uma nova esquerda, que ainda se queira esquerda, deve priorizar os processos coletivos e forjar um conjunto de regras cujo respeito demonstrará o quão envolvidos com a luta e a transformação estão os militantes. Aquele que desrespeita as deliberações coletivas mina o processo de luta e, portanto, faz papel de inimigo. Autoritário, portanto, não é o processo que envolve todos, permite as decisões e estabelece regras coletivas, mas o indivíduo que não participa do processo e/ou que o viola, em nome de sua liberdade ou autonomia individual.
Organização e estratégia
Antes de tudo, devo colocar que organização não significa, necessariamente, dominação e muito menos hierarquia; estratégia não implica disciplina militar e nenhum apreço pelas forças armadas. Organização significa associação com objetivos comuns (para quê se organiza) e critérios de união (com quem se organiza); estratégia significa um conjunto de leitura da realidade (onde se está), objetivos (aonde se quer chegar) e o conjunto de caminhos pelos quais se pretende chegar ao objetivo (como sair de onde se está e chegar aonde se quer). Elementos também centrais da esquerda, ainda que bastante autoritários em sua maneira clássica de compreensão.
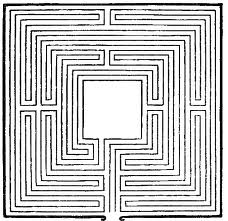 Um coletivo precisa saber por que ele está unido e com quem. Tem de conseguir estimar sua capacidade de força e, por isso, tem de ter uma noção, mais ou menos acertada, da quantidade de militantes ou de movimentos envolvidos, das lutas que estão sendo empreendidas e o desenvolvimento de cada uma delas. Parece sem sentido, mas ainda hoje há grupos e movimentos que não sabem em torno do quê estão organizados e nem com quem estão ou devem estar organizados. Não se pode construir uma nova esquerda que não consiga estimar permanentemente suas forças e que não tenha claro quais são suas bandeiras de luta e seus critérios organizativos. Também não se pode pensar em um movimento que não tenha uma leitura da realidade, objetivos de curto, médio e longo prazo, além de um conjunto estratégico-tático com ações que podem fazê-lo avançar.
Um coletivo precisa saber por que ele está unido e com quem. Tem de conseguir estimar sua capacidade de força e, por isso, tem de ter uma noção, mais ou menos acertada, da quantidade de militantes ou de movimentos envolvidos, das lutas que estão sendo empreendidas e o desenvolvimento de cada uma delas. Parece sem sentido, mas ainda hoje há grupos e movimentos que não sabem em torno do quê estão organizados e nem com quem estão ou devem estar organizados. Não se pode construir uma nova esquerda que não consiga estimar permanentemente suas forças e que não tenha claro quais são suas bandeiras de luta e seus critérios organizativos. Também não se pode pensar em um movimento que não tenha uma leitura da realidade, objetivos de curto, médio e longo prazo, além de um conjunto estratégico-tático com ações que podem fazê-lo avançar.
Isso pode ser estabelecido por meio de processos democráticos, de fato autogeridos, com discussões amplas e deliberações coletivas levadas a cabo desde as bases. Acreditar que a falta de estrutura ou o espontaneísmo são necessariamente mais igualitários e mais libertários que a organização e a estratégia significa não avaliar da maneira correta os processos altamente autoritários que, dentro dos novos movimentos, tornaram-se realidade por razão da falta de estrutura e do espontaneísmo. Organização e estratégia podem ser mais ou menos igualitários, mais ou menos libertários, da mesma maneira que a falta de estrutura ou o espontaneísmo. Com a diferença que, em uma estrutura determinada, com critérios claros, processos coletivos, normas estabelecidas, é muito mais fácil de eliminar o autoritarismo individual e coletivo.
A integração e a internacionalização das lutas são fundamentais, mas nunca podem se dar em detrimento de uma estratégia local, adaptada à realidade (tempo/espaço). As grandes questões que unem a esquerda, regional, nacional e até internacionalmente, têm de ser traduzidas e evidenciadas em pautas que digam respeito ao dia-a-dia das pessoas comuns. A estratégia tem de ser formulada com base na estimativa das próprias forças e não se deve optar por um conjunto de ações muito mais amplo do que se pode conduzir com alguma eficácia; é melhor conduzir uma luta menor, mas que tenha resultados, do que ampliar demais o horizonte e incidir no processo sem uma força significativa, ou sequer incidir. “Quanto maior o ponto de apoio, menor a força que incide sobre ele” nos ensinam os físicos. Ou seja, com um mesmo movimento, quanto maior o conjunto estratégico escolhido, menor será a eficácia da força do movimento. Assim, deve-se estimar a capacidade e verificar até onde se pode ser eficaz, tomando cuidado para que não se invista nas ações diversificadas ou amplas demais sem qualquer possibilidade de vitória.
Para isso, a metáfora do barco é fundamental: o objetivo estratégico é aonde o barco deve chegar e o conjunto de táticas e estratégias deve conduzir o barco naquele sentido. O movimento que não sabe aonde quer chegar e só gerencia o curto prazo, o tático pelo tático, corre um sério risco de andar em círculos, e nunca chegar em lugar nenhum. O barco, nesse caso, ficaria apenas rodando sem sair do lugar.
Conteúdo político às ferramentas tecnológicas
O recente período histórico, que conta com as lutas forjadas no seio da AGP, nos traz outro importante ensinamento. A tecnologia não traz em si mesma conteúdo político e, produzida para um fim, pode passar a servir a outro. Diversas ferramentas tecnológicas criadas por nossa geração, com função anticapitalista, foram apropriadas pelo capitalismo, e hoje servem às alavancas de auto-sustentação do poder vigente. Portanto, utilizar as ferramentas que vêm surgindo ou mesmo desenvolver novas, pode funcionar e dar suporte a uma nova esquerda. Mas isso não é regra.
Licenças livres, ausência de direitos autorais, participação e construção coletiva não são garantia de nada em termos políticos, e são elementos que podem ser apropriados pelos inimigos em favor de um projeto contrário ao nosso.
Por outro lado, isso nos traz possibilidades: se os inimigos vêm se apropriando das ferramentas construídas pela esquerda anticapitalista, se poderia pensar na possibilidade de utilização ou de apropriação de ferramentas construídas com outros interesses, em favor de uma nova estratégia da esquerda.
PALAVRAS FINAIS
Muito ainda poderia ser dito e mesmo outras formas de reflexão poderiam ser apresentadas. Minha opção, com esse relato quase informal e muito pouco fundamentado teoricamente, é de realizar um balanço sobre aquilo que vi e que pensei nos últimos tempos. E creio que pode servir como um ponta-pé inicial para o debate.
Produções historiográficas rigorosas, análises detalhadas dos documentos que foram produzidos, de todas as ações que foram realizadas, das formas organizativas adotadas, das relações estabelecidas, das opções de financiamento, entre outras questões, podem dar base para trabalhos históricos, políticos, sociológicos, antropológicos, psicológicos etc. significativos. Todas essas, e outras, são questões que ainda estão por tratar e que, em algum momento, teriam de encontrar pessoas para trabalhar sobre elas.
Eu, particularmente, no que diz respeito às produções teóricas de maior seriedade e fôlego, não me animo muito com a questão. Mas me disponho a ajudar no caso de outros companheiros quererem se debruçar sobre o tema, o que, de fato, ainda não foi feito. Tenho certeza que outros companheiros também poderiam ajudar. Um acervo do movimento, por exemplo, existe e pode ser outra fonte interessante de pesquisa.
Outro fator a ser apontado é que diversas manifestações contemporâneas — as quais vêm sendo discutidas mais enfaticamente no espaço do Passa Palavra — precisam ser objeto de reflexão crítica profunda. Quando observei várias dessas manifestações, identifiquei muitos desses elementos forjados pela “Cultura da AGP”. No entanto, acompanhando as discussões e refletindo sobre a própria AGP nessa série, começo a concluir que a AGP, com todos os seus defeitos, estava muito à frente de mobilizações como as Marchas da Liberdade, por exemplo. Ainda que com toda a problemática colocada, o Movimento de Resistência Global possuía uma perspectiva anticapitalista e de esquerda, aspectos que sinto terem sido abandonados por essa nova geração. Se a AGP rechaçou tudo o que vinha da velha e clássica esquerda, incorrendo em erros sérios, uma nova geração parece ter conservado somente os aspectos problemáticos da AGP, descartando, novamente, aquilo que o processo anterior teve de mais interessante.
Minha humilde expectativa é que esse texto possa contribuir com uma reflexão crítica acerca de todos os processos de mobilização que vêm acontecendo no Brasil. A história passada e o próprio presente vêm oferecendo elementos fundamentais para conseguirmos realizar um balanço da nossa história como esquerda, e verificar, a partir disso, o que deve ser mantido e o que deve ser descartado. Entre a crítica de nossa própria história e a construção que foi levada a cabo, podemos encontrar um caminho. É somente uma nova esquerda, fundamentada em um balanço crítico do passado e do presente, que pode apontar para um processo de construção de um poder popular, de uma mobilização ampla e de base, que acabe com as relações de dominação. A tarefa é grande, mas não parece impossível.
BIBLIOGRAFIA
AÇÃO GLOBAL DOS POVOS. “Manifesto da Ação Global dos Povos”. Disponível em: http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/pt/manifesto.htm.
__________________________. “PGA Bulletin”. Vários números. Disponível em: http://www.agp.org.
ALBERT, Michael. “Buscando a Autogestão”. In: Autogestão Hoje: teorias e práticas contemporâneas. São Paulo: Faísca, 2004.
BERGEL, Martín e ORTELLADO, Pablo. “AGP (Ação Global dos Povos)”. In: Latinoamericana. Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe. São Paulo: Boitempo, 2006.
BERNERI, Camilo. Pensamento e Batalha. Porto Alegre: Editorial Combate, 2009.
BEY, Hakim. TAZ: zona autônoma temporária. São Paulo: Conrad, 2001.
BOBBIO, Norberto. Esquerda e Direita: razões e significados de uma distinção política. 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: UNESP, 2001.
BOOKCHIN, Murray. Comunalismo: a dimensão democrática do anarquismo. São Paulo: Index, 2002.
_________________. Anarquismo, Crítica e Autocrítica: primitivismo, individualismo, caos, misticismo, comunalismo, internacionalismo, antimilitarismo e democracia. São Paulo: Hedra, 2011.
CORRÊA, Felipe. “O Movimento de Resistência Global”, 2004. Disponível em: http://www.midiaindependente.org/eo/blue/2004/07/286886.shtml.
________________. “Democratismo ou Autogestão?”, 2005. Disponível em: http://pt.protopia.at/index.php/Democratismo_e_Autogest%C3%A3o%3F
ERRANDONEA, Alfredo. Sociologia de la Dominación. Montevideu/Buenos Aires: Nordan/Tupac, 1989.
FREEMAN, Jo. A Tirania das Organizações sem Estrutura. São Paulo: Index, 2005.
IBAÑEZ, Tomás. “Por um Poder Político Libertário: considerações epistemológicas e estratégias em torno de um conceito”. In: Actualidad del Anarquismo. Buenos Aires: Libros de Anarres, 2007.
INSTITUTO DE ESTUDOS LIBERTÁRIOS. “A Insuficiência das Ruas”. In: Ação Libertária, 2002.
LARAÑA, Enrique. La Construcción de los Movimientos Sociales. Madri: Alianza Editorial, 1999.
LUDD, Ned. (org). Urgência das Ruas. São Paulo: Conrad, 2002.
LUTA LIBERTÁRIA. “Militância e Ativismo: porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa”. In: Combate Anarquista 37-38. São Paulo: julho/agosto de 2004. Disponível em: http://www.anarkismo.net/article/19915.
ORTELLADO, Pablo. “Aproximações ao ‘Movimento Antiglobalização'”, 2002. Disponível em: http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2002/01/14525.shtml.
PEREIRA, Luciano. “Cronologia dos Novos Movimentos”, 2000/2001. Disponível em: http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/cronolog.htm.
ROCHA, Bruno Lima. A Interdependência Estrutural das Três Esferas: uma análise libertária da Organização Política para o processo de radicalização democrática. Porto Alegre: UFRGS (doutorado em Ciência Política), 2009.
RYOKI, André e ORTELLADO, Pablo. Estamos Vencendo: resistência global no Brasil. São Paulo: Conrad, 2004.







Tenho acompanhado a série de artigos e não poderia deixar de ressaltar a importância desta pequena reflexão sobre a prática. É sintomática a falta deste tipo de relato nas organizações de esquerda (que em tese deveriam estar comprometidas com as mudanças).
A respeito da deliberação por consenso: a primeira vez que ouvi falar da existência desse método foi numa palestra do Chico Whitaker, em 2005. Na ocasião, ele explicou sobre a forma como os organizadores do Fórum Social Mundial tomavam decisões em conjunto, e o método do consenso era um dos pilares centrais. O principal argumento, segundo Whitaker, era que deliberando por consenso, evitava-se os tão indesejados (e comuns) “rachas” dentro da esquerda – uma vez que em seguidas deliberações com diferenças apertadas de votos (por ex: 55% x 45%), a metade não contemplada se sentiria prejudicada e buscaria a ruptura e a formação de um novo agrupamento político, enfraquecendo a si próprios e aos antigos companheiros. Desta forma, o consenso preserva a unidade e ataca a tendência da fragmentação da esquerda. Confesso que senti falta da exposição deste ponto de vista nestes artigos.
Por outro lado, conforme já pontuado nos argumentos expostos no texto, trata-se de um método muito autoritário (do indíviduo sobre o coletivo) e extremamente desgastante.
Neste ano, o Comitê de Luta contra o Aumento da Passagem, em São Paulo, também funcionou dessa forma. E muito ao contrário dos argumentos de Chico Whitaker sobre os perigos das deliberações com uma pequena margem de votos, o que se viu foi o desejo de uma minoria (que ora era um determinado grupo, ora outro) sempre se impondo ao de uma maioria, gerando uma revolta incontida entre muitos dos que estavam ali.
Pensando sobre o caso, vislumbrei um método de decisão que seria mais ou menos o meio-termo entre deliberação por maioria e a deliberação por consenso: a deliberação por maioria qualificada. Neste caso, a deliberação, para ocorrer, precisaria de uma maioria significativa dos votantes. Poderia ser 75%, 80% ou 90%; o número ficaria à decisão da assembleia.
Trata-se de um método que, por exemplo já é usado em algumas situações dentro dos parlamentos e que, creio eu, contemplaria esses dois aspectos importantes envolvidos no processo de deliberação de um agrupamento político: 1) a preservação da unidade do grupo, uma vez que em caso de uma deliberação sem consenso, apenas uma minoria não se sentiria contemplada (20%, 15% ou 10%), e esta, como minoria, não se sentiria tão prejudicada como ocorreria em caso de ser uma parte significativa do agrupamento (45%, 40%); e 2) evitaria-se a tirania da minoria sobre a maioria.
relembrar é viver:
http://www.midiaindependente.org/eo/blue/2004/07/286886.shtml
Muito bom essa analise historica. Sou de uma(s) geração depois, ela me ajuda a entender o presente, de como as pessoas se formaram, inclusive eu (pelas influencias), para chegarmos a ser o q somos hoje.