A recente onda de protestos deveria catalisar uma reflexão coletiva que já se vinha fazendo necessária há vários anos, acerca da evolução dos ativismos e lutas sociais no Brasil pós-“redemocratização”. Por Marcelo Lopes de Souza
É claro que o “gigante” se movimenta, sim − mas… em que direção?
Utilizar metáforas antropomórficas para designar sociedades é sempre um empreendimento arriscado. O perigo de se resvalar para uma substituição da compreensão de contradições sociais por visões patologizantes e moralistas (e conservadoras) é real. E exatamente a analogia com um “gigante que se levanta” ou “acorda” tem sido amplamente empregada por setores menos ou mais conservadores para caracterizar as mobilizações e os protestos que marcaram várias cidades brasileiras em junho de 2013.
No entanto, creio que vale a pena aproveitar, aqui, a metáfora do “gigante”, justamente para usá-la como gancho para fazer uma alusão provocativa a dois dos trechos mais irritantes do Hino Nacional Brasileiro: o primeiro é aquele que apresenta o país e seu povo como um “gigante pela própria natureza”; o segundo é o que, pouco depois, vê o “gigante” como estando “deitado eternamente em berço esplêndido”. [1] Não por acaso, essas passagens ufanistas sempre foram vistas por muitos como uma espécie de “explicação” involuntária das proverbiais “preguiça” e “passividade” do brasileiro. Não por acaso, também, setores conservadores apreciam tanto julgar ver, na movimentação complexa e um tanto amorfa que se espraiou pelo Brasil urbano, um “gigante enfim redimido”.
No entanto, aquele tipo de crítica à preguiça e à passividade sempre foi, ele mesmo, míope: enxerga algo, sim, e algo real; mas enxerga mal, e confunde bastante as coisas. Cabe indagar: “preguiça” de quem, afinal? Das massas de trabalhadores e trabalhadoras espoliados, tantas vezes forçados pelas circunstâncias a trabalhar em condições de baixa salubridade e pouca segurança e por uma remuneração aviltante (isso quando se consegue emprego formal…), e que gastam horas e horas por dia se deslocando em condições precárias e com significativo custo entre a casa e o trabalho, e de deste volta para casa? E “passividade” de quem, afinal? Desde o período colonial não têm faltado insurreições, revoltas populares, protestos e revoluções. Uma das ideias mais infelizes é a de “homem cordial”, que Sérgio Buarque de Holanda criou com intenções diversas da interpretação que, à sua revelia e contra a sua vontade, se tornou corrente (cordial como sinônimo de pacífico, pacato, acomodado). Sim: “o brasileiro”, genericamente, não parece apresentar tão pronunciadamente aqueles traços de “dureza”, “disciplina” e “inflexibilidade” (“respeito cego às normas”, “obedecer ordens sem contestar”…) que tão bem parecem caracterizar os alemães; tampouco parecem muito propensos a uma passionalidade política de tipo não raro dramático, tão a gosto de nossos vizinhos argentinos. Para o bem e para o mal, o brasileiro comum adora uma festa; e, por isso, muitas vezes “carnavaliza” e faz humor até durante a revolta, o protesto. Só que isso não pode ser confundido com “passividade”, em um sentido absoluto. As ruas e praças de várias cidades brasileiras demonstraram isso em junho deste ano. Sem embargo, não demonstraram do jeito como pareceu, ao menos no início, que iriam demonstrar: como parte de uma resistência e de uma mobilização cristalinamente anticapitalistas. O que se viu, no fim das contas, foi algo distinto. Faz-se urgente repensar as lutas sociais no Brasil (urbano e rural), tendo em mente a correlação de forças na sociedade brasileira e evitando projetar os nossos desejos na realidade.
O que nós vimos, afinal?
Que se designem as coisas pelos nomes certos: aquilo que, estabelecendo um paralelo com a “Primavera Árabe”, já foi chamado de “Primavera Brasileira” ou “Primavera Tropical”, não foi um movimento social. Foi, isso sim, uma onda de protestos (não me agrada muito o termo “ciclo de protestos”), animada por diversas organizações, grupos fracamente organizados e indivíduos isolados; quanto às organizações, especificamente, elas vão de organizações de movimentos sociais até partidos políticos, passando por sindicatos, grêmios estudantis e outras tantas.
 Da mobilização que gravitou, inicialmente, em torno de uma organização particular, o Movimento Passe Livre (MPL), polarizadora de um movimento social específico — o movimento, iniciado entre jovens estudantes secundaristas e universitários, pelo passe livre nos transportes coletivos —, passou-se, rapidamente, a um “transbordamento sociopolítico”, que expressa uma enorme energia social represada: indignação e ressentimento, certamente, mas também criatividade e bom humor. A pauta socialmente crítica e mesmo anticapitalista inicial, trazida pelo MPL, foi sendo, aos poucos, engolfada e parcialmente eclipsada por uma pauta muito mais vasta e muito mais amorfa ideologicamente, na qual foram sobressaindo reivindicações e interpretações “bem comportadas” (isto é, conformes à essência do status quo capitalista e pseudodemocrático, como o combate à corrupção e a rejeição de atos legislativos específicos) e, em parte, moralistas e até reacionárias (como o ódio manifestado por skinheads e outros indivíduos e grupos de direita contra os “comunistas”, os “vermelhos” etc.). Para aqueles que tinham bem presente na mente a hegemonia conservadora na sociedade brasileira, o parcial “sequestro” (ou a parcial “usurpação”) das revoltas de junho pelos setores conservadores não poderia surpreender. Se não era inevitável era, pelo menos, esperável.
Da mobilização que gravitou, inicialmente, em torno de uma organização particular, o Movimento Passe Livre (MPL), polarizadora de um movimento social específico — o movimento, iniciado entre jovens estudantes secundaristas e universitários, pelo passe livre nos transportes coletivos —, passou-se, rapidamente, a um “transbordamento sociopolítico”, que expressa uma enorme energia social represada: indignação e ressentimento, certamente, mas também criatividade e bom humor. A pauta socialmente crítica e mesmo anticapitalista inicial, trazida pelo MPL, foi sendo, aos poucos, engolfada e parcialmente eclipsada por uma pauta muito mais vasta e muito mais amorfa ideologicamente, na qual foram sobressaindo reivindicações e interpretações “bem comportadas” (isto é, conformes à essência do status quo capitalista e pseudodemocrático, como o combate à corrupção e a rejeição de atos legislativos específicos) e, em parte, moralistas e até reacionárias (como o ódio manifestado por skinheads e outros indivíduos e grupos de direita contra os “comunistas”, os “vermelhos” etc.). Para aqueles que tinham bem presente na mente a hegemonia conservadora na sociedade brasileira, o parcial “sequestro” (ou a parcial “usurpação”) das revoltas de junho pelos setores conservadores não poderia surpreender. Se não era inevitável era, pelo menos, esperável.
Refletindo sobre a “Rebelião Argentina” do início da década passada, o jornalista e intelectual uruguaio Raúl Zibechi, diante da variedade de movimentos específicos ali envolvidos (piqueteros, asambleas barriales, empresas recuperadas…) e da multiplicidade de forças sociais e manifestações mais ou menos espontâneas, disse que já não se tratava apenas, naquele caso, de um único “movimento social”, mas sim da “sociedade em movimento” (ZIBECHI, 2003). Podemos, a esse respeito, levantar a aparente ressalva de que, sem dúvida, toda sociedade está, sempre, em movimento; não há, decerto, “sociedades sem história”, expressão nada feliz usada por pesquisadores estruturalistas em outros tempos, o que equivale a dizer que não há sociedades estáticas. Contudo, o que Zibechi tenta captar, com sua expressão, é algo real: em alguns momentos, de forte e generalizado conteúdo insurrecional, algumas sociedades parecem ver a sua dinâmica se acelerar. Dependendo das condições, podemos estar diante de uma onda de protestos, envolvendo uma pletora de organizações e movimentos, ou mesmo de uma “tsunami” de tipo revolucionário. Qualquer onda, por maior que seja (e mesmo uma tsunami), mais cedo ou mais tarde se dissipa, e alguns de seus aspectos até se institucionalizam; como diria Castoriadis, a sociedade instituinte, por mais radical que seja a movimentação, sempre dará lugar à sociedade instituída (CASTORIADIS, 1983). Não se pode viver o tempo todo “em aceleração”, não se pode abrir mão de algum grau de institucionalização (e, óbvio, de instituições sociais), não se pode eliminar a diferença entre o instituinte e o instituído. A questão, no fundo, é a seguinte: o que fica, então, como resultado? Ou, desdobrando e formulando de outras maneiras: que tipo e que intensidade de acúmulo sociopolítico (material, político-pedagógico, estratégico, cultural-simbólico…) deriva de tal ou qual movimentação/luta social? Que consequências advirão? E, lembrando uma crucial interrogação de Castoriadis: as lutas e os avanços futuros serão facilitados ou dificultados pelos resultados das lutas de hoje? [2] (Isto é: os avanços do presente merecerão, talvez, aspas? E em que circunstâncias, e sob quais pontos de vista?) No caso brasileiro atual, é difícil ser muito otimista, ainda que tampouco seja o caso de capitular diante do pessimismo.
“Primavera Brasileira”: apenas mais uma expressão fácil, ou de fato uma comparação válida?
A comparação com a “Rebelião Argentina”, do ponto de vista do acúmulo de forças e do impacto geral das mobilizações, não é absurda, mas foi precipitada. Lá como cá, diversidade e sinergias, em meio a uma onda de protestos bastante complexa; entretanto, o caso argentino demonstrou uma capilaridade social (para a qual contribuiu uma longa tradição de lutas e resistências organizadas dos trabalhadores) e uma solidez que não foram demonstrados no caso da “Primavera Brasileira”.
 Talvez a comparação com a “Primavera Árabe”, apesar das distâncias geográfico-culturais, seja mais promissora. Sobre a “Primavera Árabe”, que desde o começo mostrou-se extremamente heterogênea no que tange às forças que a animaram (de organizações e grupos religiosos e fundamentalistas, como a Irmandade Muçulmana e os salafistas, até estudantes universitários de esquerda e ocidentalizados), não poucos analistas ocidentais projetaram expectativas que, inevitavelmente, se revelaram falsas. Inevitavelmente, sim, porque se tratou, tantas vezes, de interpretar o que se passava no Magreb e no Oriente Médio à luz de conceitos como “democracia” e “revolução”, e mesmo com a ajuda de ideias e ideais de liberdade e até libertários, a partir de um olhar cultural e politicamente estranho àquela região do planeta. A “Primavera Árabe”, para quem nela projetou seus desejos e valores, tomando o todo (países complexos e atravessados por várias linhas de fratura: étnica, religiosa, política) pela parte (jovens e estudantes ocidentalizados e de espírito muitas vezes laico, e não raro com um pensamento de esquerda), o resultado, já menos de um ano depois, parecia frustrante. A Praça Tahrir deixava de ser tratada quase euforicamente como um símbolo do novo para ser vista como o símbolo de um episódio interessante e relevante, mas menos interessante e menos relevante do que gostariam. Um dos riscos dessa frustração é o de desviarmos cedo demais nossa atenção do fenômeno, o que nos impede de compreendê-lo e avaliá-lo (e estimá-lo) pelo que efetivamente é ou foi, e pelos resultados que efetivamente deixou e tem deixado.
Talvez a comparação com a “Primavera Árabe”, apesar das distâncias geográfico-culturais, seja mais promissora. Sobre a “Primavera Árabe”, que desde o começo mostrou-se extremamente heterogênea no que tange às forças que a animaram (de organizações e grupos religiosos e fundamentalistas, como a Irmandade Muçulmana e os salafistas, até estudantes universitários de esquerda e ocidentalizados), não poucos analistas ocidentais projetaram expectativas que, inevitavelmente, se revelaram falsas. Inevitavelmente, sim, porque se tratou, tantas vezes, de interpretar o que se passava no Magreb e no Oriente Médio à luz de conceitos como “democracia” e “revolução”, e mesmo com a ajuda de ideias e ideais de liberdade e até libertários, a partir de um olhar cultural e politicamente estranho àquela região do planeta. A “Primavera Árabe”, para quem nela projetou seus desejos e valores, tomando o todo (países complexos e atravessados por várias linhas de fratura: étnica, religiosa, política) pela parte (jovens e estudantes ocidentalizados e de espírito muitas vezes laico, e não raro com um pensamento de esquerda), o resultado, já menos de um ano depois, parecia frustrante. A Praça Tahrir deixava de ser tratada quase euforicamente como um símbolo do novo para ser vista como o símbolo de um episódio interessante e relevante, mas menos interessante e menos relevante do que gostariam. Um dos riscos dessa frustração é o de desviarmos cedo demais nossa atenção do fenômeno, o que nos impede de compreendê-lo e avaliá-lo (e estimá-lo) pelo que efetivamente é ou foi, e pelos resultados que efetivamente deixou e tem deixado.
No caso brasileiro, uma coisa, de imediato, se coloca: testemunhamos uma onda de protesto como não se via há vinte anos. Para o bem e para o mal. E mais: nas duas últimas décadas, tanto a imprensa quanto o Estado preocuparam-se muito mais com as lutas sociais no campo que com as lutas sociais nas cidades; nestas últimas, e principalmente nas grandes cidades e metrópoles, parecia que “conflito social” dizia respeito, quase exclusivamente, à criminalidade violenta ordinária, menos ou mais organizada. À luz das contradições sociais “objetivas” e de alguns fatos demográficos evidentes, o protagonismo das organizações das lutas no campo (a começar, obviamente, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, MST) e o papel de “atores coadjuvantes” a que pareciam reduzidos os movimentos sociais urbanos nos anos 1990 e na década seguinte pareciam representar um enigma a ser desvendado.
Movimentos urbanos como meros “coadjuvantes” em um país predominantemente urbano?
Em 1950 o Brasil apresentava, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE, cerca de 1/3 da sua população vivendo em espaços urbanos. Trinta anos depois, o recenseamento de 1980 indicava que ocorrera uma inversão: 2/3 já viviam em entidades espaciais consideradas urbanas (cidades e vilas), ao passo que apenas 1/3 vivia nas áreas rurais. Dois decênios mais tarde, o país possuía, segundo o Censo Demográfico 2000 do IBGE, cerca de 82% da população vivendo em espaços tidos como urbanos, e em 2010 (conforme o Censo daquele ano) eram 84%. Mesmo admitindo-se uma certa imprecisão nesses dados, decorrente de problemas metodológicos, é inegável que o Brasil é um país predominantemente urbano e que se urbanizou velozmente na segunda metade do século XX (no sentido convencional de aumento do percentual da população que vive em espaços urbanos, visto que, em um sentido mais sofisticado, que tem a ver com a difusão de determinados valores, modos de vida e relações de produção, a “urbanização” é algo muito mais abrangente do que muitos costumam supor).
Apesar desse quadro, os movimentos sociais (e as organizações de movimentos sociais) mais importantes, com maior influência e com maior visibilidade pública foram, por mais de dois decênios, de longe, os que se vinculam às lutas no campo. Especialmente na década de 1990 e na seguinte, nada havia no cenário urbano brasileiro contemporâneo que fosse comparável à organização MST, que em 2003 contava com “cerca de um milhão de integrantes, perto de 1.200 assentamentos, uma rede de 12 mil escolas primárias e secundárias, 88 cooperativas rurais e 96 indústrias processadoras de alimentos” (LERRER, 2003:139). Na verdade, a organização mais conhecida do movimento urbano dos sem-teto, o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), foi criada a partir do MST, e originalmente como parte de uma estratégia de contribuir para organizar os trabalhadores das cidades com o objetivo de ampliar o suporte da própria luta no campo.
Os ativismos sociais são e têm sido importantes agentes modeladores do espaço no Brasil, tanto nas cidades quanto no campo, em que pese a descontinuidade de sua influência e de sua visibilidade pública. A não ser que se adote uma perspectiva francamente “estadocêntrica” e conservadora, pensar o presente e o futuro (e o passado) das cidades e do campo brasileiros necessariamente passa pela consideração das resistências e mobilizações populares, em que se destacam, obviamente, os movimentos sociais. [3]
No que se refere às cidades, não faz muito tempo que ativismos constituídos em torno de demandas por equipamentos de consumo coletivo e infraestrutura técnica e social, tendo como principais espaços de gestação os loteamentos irregulares de periferia e as favelas (mas sem esquecer, ainda que com agendas e prioridades obviamente diferentes, dos ativismos dos bairros formais, inclusive daqueles essencialmente de classe média), eram chamados de “novos movimentos sociais” — e que, mais rigorosamente, deveriam ser chamados de “novos ativismos sociais”, já que nem todos alcançaram o patamar de movimentos em sentido estrito. Esses ativismos, que em muitas grandes cidades brasileiras tiveram seu apogeu entre meados da década de 1970 e meados do decênio seguinte, [4] começaram, porém, a experimentar um processo de declínio ainda nos anos 1980. Se, até a segunda metade da década de 1980, muitas vezes eles apresentavam várias características de movimentos sociais em sentido forte, e, além disso, suas ações influenciavam a pauta da grande imprensa e as palavras e o comportamento dos políticos profissionais e dos partidos, a partir daí avolumaram-se evidências de que se havia instalado uma crise: a capacidade de mobilização havia diminuído consideravelmente, entidades patentemente regrediram a um estado quase puramente “cartorial” (ou seja, existência vegetativa e pouco mais que meramente formal) ou mesmo desapareceram, a imprensa e o sistema político formal foram deixando de lhes dar importância e sua visibilidade pública encolheu até níveis “microscópicos”.
 Todavia, a partir dos anos 1990, ao mesmo tempo em que a referida crise se acentuava e consolidava como uma espécie de “coma sociopolítico”, novas organizações e novos ativismos sociais, às vezes também com algumas características claras de movimentos em sentido forte, começaram a surgir nas cidades brasileiras: para exemplificar, seja mencionado o movimento dos sem-teto e, sem dúvida, também o movimento pelo passe livre (e, ao menos em parte, poderia ser também citado o “movimento” hip-hop).
Todavia, a partir dos anos 1990, ao mesmo tempo em que a referida crise se acentuava e consolidava como uma espécie de “coma sociopolítico”, novas organizações e novos ativismos sociais, às vezes também com algumas características claras de movimentos em sentido forte, começaram a surgir nas cidades brasileiras: para exemplificar, seja mencionado o movimento dos sem-teto e, sem dúvida, também o movimento pelo passe livre (e, ao menos em parte, poderia ser também citado o “movimento” hip-hop).
No presente momento (julho de 2013), o cenário pode ser descrito como uma situação em que os ativismos urbanos dos anos 1960 a 1980 perderam muito de sua importância — os “novos movimentos sociais”, como eram conhecidos na literatura sociológica dos anos 1970 e 1980, “envelheceram” e mesmo “esclerosaram-se”, por assim dizer —, praticamente não podendo mais ser caracterizados como movimentos sociais influentes, enquanto que aqueles que emergiram nos anos 1990 (e que podem ser designados, de modo assumidamente um pouco canhestro, como sendo a “segunda geração” de “novos ativismos sociais urbanos”, para diferenciá-los dos que surgiram no período precedente) ainda se acham em um estado “embrionário” ou pouco mais que isso. E no entanto, embora sejam ainda “embrionários”, e em parte exatamente porque o são, esses “novíssimos” ativismos (ou ativismos urbanos da “segunda geração” dos “novos ativismos”) nos convidam à reflexão a propósito de determinados gargalos, problemas e desafios que vêm acompanhando a sua trajetória. Isso no contexto de uma reflexão sobre os impasses e dificuldades da luta anticapitalista na sociedade brasileira em geral. A recente onda de protestos deveria catalisar uma reflexão coletiva que já se vinha fazendo necessária há vários anos, acerca da evolução dos ativismos e lutas sociais no Brasil pós-“redemocratização”, e em especial a partir da conjuntura política inaugurada com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao Palácio do Planalto.
Os governos de Lula e Dilma: seus efeitos sobre as lutas sociais (e principalmente nas cidades)
Em 2002, com a eleição do ex-operário e líder sindical Luis Inácio Lula da Silva, presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, para a Presidência da República, generalizou-se o sentimento, entre amplos setores da esquerda, de que, finalmente, uma constelação política comprometida com mudanças substanciais (entre elas a reforma agrária) chegaria ao poder de Estado. Ainda em agosto 2003, bem no início do governo, Plínio de Arruda Sampaio, intelectual vinculado ao MST, manifestou a convicção e a esperança de que o governo Lula seria, se não um governo revolucionário, ao menos um governo “disputado” e “dividido”, uma espécie de campo de tensão no qual os trabalhadores conseguiriam fazer valer grande parte de seus interesses (vide LERRER, 2003:91). Decorridos onze anos desde que o Partido dos Trabalhadores conquistou o Estado em nível nacional, o que permanece desse tipo de expectativa?… Sejam examinadas, de maneira interconectada, algumas questões relativas à dinâmica interna dos ativismos e movimentos e às suas relações com o aparelho de Estado.
Algumas organizações da “segunda geração” dos “novos ativismos sociais” já demonstram ter um caráter pujante e bastante organizado, o que não as livra, apesar disso, de algumas fragilidades: o MTST, por exemplo, vem mostrando que uma organização de sem-teto pode muito bem dialogar criticamente com o planejamento e a gestão urbanos promovidos pelo Estado, examinando e explorando as brechas e as contradições contidas em documentos como planos diretores, ao mesmo tempo em que criam “territórios dissidentes” organizados de maneira alternativa e procedem a um “planejamento estratégico” relativamente sofisticado de suas ações; ao mesmo tempo, contudo, a estreita associação a um partido tradicional de esquerda, o PSTU, veio retirar do MTST, no fim da década passada, parte do quinhão de criatividade que ele apresentava. No Rio de Janeiro, várias das ocupações de sem-teto do Centro e da Zona Portuária, em parte organizadas segundo princípios fortemente autogestionários (e nisso diferindo do MTST e de várias outras organizações de sem-teto), não conseguiram resistir às pressões e perseguições do Estado e do capital e/ou ao assédio crescente de traficantes de drogas: tombaram as ocupações Machado de Assis e Zumbi dos Palmares, e a Chiquinha Gonzaga resiste com dificuldades; a Quilombo das Guerreiras está, em princípio, com seus dias contados, pois já foi decidida a remoção dos ocupantes. No tocante ao hip-hop, o surgimento da Central Única das Favelas (CUFA) parecia merecer, alguns anos atrás, ser saudado, ao menos à primeira vista, como um fato positivo; o que se viu, porém, depois, não valeria muito mais que uma nota de rodapé, e contendo ressalvas importantes. Por fim, o movimento pelo passe livre, por seu turno, organizou uma rede interessante e relevante, que derivou dos notáveis protestos de Salvador e Florianópolis, entre 2003 e 2005; contudo, precisamente em meio à onda de protestos de 2013 o MPL foi forçado a recuar e levantar ressalvas ao desdobramento da mobilização que ele mesmo iniciou. No geral, a despeito da formação de redes, dos intercâmbios e da cooperação entre organizações, muito falta ainda à “segunda geração” de “novos ativismos” em matéria de desenvolvimento de um papel cada vez mais proativo, propositivo, consistente e, como corolário, eficaz.
 A autogestão e as formas horizontais (não hierárquicas) de organização e planejamento das lutas e atividades como alternativas explícitas à gestão e ao planejamento promovidos pelo Estado se colocam como possibilidades no horizonte, ou mesmo já existem na realidade; e, em que pesem certas contradições, inclusive de ordem política, algumas organizações têm feito esforços importantes nessa direção, sobretudo por meio da construção de experiências de planejamento e gestão urbanos radicalmente alternativos e de resistência. Por “planejamento e gestão urbanos radicalmente alternativos e de resistência”, ou planejamento e gestão insurgentes, designam-se as ações que têm visado, da parte das organizações dos movimentos: conhecer o discurso e os instrumentos do planejamento promovido pelo Estado (assim como os marcos legais e institucionais vinculados ao Direito —urbano, de propriedade etc.) para utilizá-los, na medida do possível, em seu proveito, aproveitando brechas e contradições; estabelecer “territórios dissidentes”, apoiados por redes logísticas e de solidariedade política; produzir um contradiscurso técnico e político (alternativo ao discurso estatal) a propósito de problemas como o déficit habitacional, as disparidades infraestruturais, o transporte urbano etc. O planejamento e a gestão urbanos “de resistência” ou “insurgentes” seriam um planejamento e uma gestão críticos efetivamente impulsionados de baixo para cima (portanto, como algo mais muito profundo e radical que iniciativas de governos ditos progressistas, no estilo dos esquemas de planejamento e gestão participativos implementados nos marcos de conjunturas favoráveis). Por meio de esforços como os mencionados fica evidente, em alguns casos, que, ainda que operem com pressupostos e uma margem de manobra muito diferentes do planejamento e da gestão promovidos pelo Estado (e, na era do “empresarialismo urbano”, cada vez mais diretamente pelo próprio capital privado), já que as organizações da sociedade civil não dispõem das prerrogativas legais e dos recursos econômicos e institucionais à disposição do Estado para gerir e planejar o uso do solo, as ações protagonizadas pelos movimentos admitem ser compreendidas como sendo muito mais que puramente reativas ou “reivindicatórias”.
A autogestão e as formas horizontais (não hierárquicas) de organização e planejamento das lutas e atividades como alternativas explícitas à gestão e ao planejamento promovidos pelo Estado se colocam como possibilidades no horizonte, ou mesmo já existem na realidade; e, em que pesem certas contradições, inclusive de ordem política, algumas organizações têm feito esforços importantes nessa direção, sobretudo por meio da construção de experiências de planejamento e gestão urbanos radicalmente alternativos e de resistência. Por “planejamento e gestão urbanos radicalmente alternativos e de resistência”, ou planejamento e gestão insurgentes, designam-se as ações que têm visado, da parte das organizações dos movimentos: conhecer o discurso e os instrumentos do planejamento promovido pelo Estado (assim como os marcos legais e institucionais vinculados ao Direito —urbano, de propriedade etc.) para utilizá-los, na medida do possível, em seu proveito, aproveitando brechas e contradições; estabelecer “territórios dissidentes”, apoiados por redes logísticas e de solidariedade política; produzir um contradiscurso técnico e político (alternativo ao discurso estatal) a propósito de problemas como o déficit habitacional, as disparidades infraestruturais, o transporte urbano etc. O planejamento e a gestão urbanos “de resistência” ou “insurgentes” seriam um planejamento e uma gestão críticos efetivamente impulsionados de baixo para cima (portanto, como algo mais muito profundo e radical que iniciativas de governos ditos progressistas, no estilo dos esquemas de planejamento e gestão participativos implementados nos marcos de conjunturas favoráveis). Por meio de esforços como os mencionados fica evidente, em alguns casos, que, ainda que operem com pressupostos e uma margem de manobra muito diferentes do planejamento e da gestão promovidos pelo Estado (e, na era do “empresarialismo urbano”, cada vez mais diretamente pelo próprio capital privado), já que as organizações da sociedade civil não dispõem das prerrogativas legais e dos recursos econômicos e institucionais à disposição do Estado para gerir e planejar o uso do solo, as ações protagonizadas pelos movimentos admitem ser compreendidas como sendo muito mais que puramente reativas ou “reivindicatórias”.
Não obstante, autogestão e horizontalidade não são características tão disseminadas assim entre as organizações de movimentos sociais brasileiros, apesar de serem bem mais presentes hoje em dia do que, digamos, há vinte anos. Em seu admirável livro La mirada horizontal, o intelectual e ativista uruguaio Raúl Zibechi reconhece, tomando como exemplo o movimento dos sem-terra brasileiro e, em especial, a sua principal organização, o MST, que “[e]s imposible que un movimiento represente la negación absoluta, la inversión total, de la sociedad en la que está inmerso” [“é impossível um movimento representar a negação absoluta, a inversão total, da sociedade onde está mergulhado”] (ZIBECHI, 1999:82). “Como todos los movimientos sociales, el de los Sin Tierra combina aspectos que niegan la sociedad capitalista actual con otros que la reproducen.” [“Como todos os movimentos sociais, o dos Sem Terra conjuga aspectos que negam a sociedade capitalista actual com outros que a reproduzem”] (ZIBECHI, 1999:82) E mais: “[c]iertamente, en el MST conviven también aspectos de la vieja cultura política, que se traducen en estilos organizativos similares a los que predominan en los partidos de la izquierda” [“é certo que no MST convivem também aspectos da velha cultura política, que se expressam em estilos de organização semelhantes aos que predominam nos partidos de esquerda”], problema que “es más visible en los estratos superiores de las direcciones” [“é mais visível nas camadas superiores das direcções”] (ZIBECHI, 1999:84).
Apesar disso, Zibechi assinala, e com razão, a grande importância do MST e o desafio representado por “un mundo nuevo en el corazón del viejo” [“um mundo novo no coração do velho”] (ZIBECHI, 1999:81). A provocação que se deseja realizar nesta altura do artigo tem a ver, contudo, com o outro aspecto: o “velho” no “coração” do “novo”. Ou seja: estilos centralistas e hierárquicos de mobilização, arregimentação e organização.
Não que formas descentralizadas e horizontais de organização sejam propriamente uma novidade histórica; basta pensar nos grupos e movimentos de espírito autogestionário que surgiram ao longo do século XX, para não falar da tradição especificamente anarquista, que remonta ao século XIX. Ocorre que, especialmente no século passado, o leninismo e seu “centralismo democrático” foram hegemônicos. Depois da Guerra Civil Espanhola, os anarquistas passaram a ter uma presença politicamente residual, mesmo em países onde até os anos 1930 (ou, pelo menos, até o começo do século XX) eles haviam sido fortes; organizações políticas marxistas de tipo não-leninista e basicamente horizontais (como os conselhos operários dos anos 1920 e 1930) foram nada mais que exceções; e certos grupos de intelectuais e militantes autogestionários que surgiram após a Segunda Guerra, como o francês Socialisme ou Barbarie (1948-1967), raramente passaram de pequenos agrupamentos de dissidentes, a despeito de sua influência episódica sobre alguns movimentos sociais. O “novo”, portanto, parece continuar a ser mesmo a autogestão, a horizontalidade — até porque, sem uma crítica profunda e maciça da herança do “socialismo real” (e não só do stalinismo, mas sim do bolchevismo tout court), é difícil imaginar como se poderá gestar uma alternativa radical ao capitalismo. Vale dizer: uma alternativa que não corra, de partida, o sério risco de reproduzir uma trágica farsa histórica como foi aquela do “socialismo burocrático” — tão tributário, no fundo, do imaginário capitalista.
Olhando para os movimentos sociais urbanos do Brasil atual e suas organizações, em algumas, porém, parece de fato existir uma nítida disposição para se proceder a uma crítica radical e “pela esquerda” do bolchevismo e do que ele representou. A bem da verdade, já há, aliás, organizações que encarnam conscientemente, em maior ou menor grau, esse projeto. É bem verdade que isso ainda está longe, muito longe de ser um espírito generalizado. Incorporar esse espírito pode ser considerado como um dos mais importantes desafios para os ativistas brasileiros. Entretanto, também é inegável que precisamente a atual onda de protesto urbano, iniciada e puxada por uma organização, o MPL, comprometida com princípios nitidamente libertários (horizontalidade, autogestão, autonomia e apartidarismo), mostra que estilos descentralizados e radicalmente democráticos de organização e protesto começam a ameaçar seriamente a predominância e a hegemonia dos estilos centralizadores e (quase-)bolcheviques. O que, evidentemente, não significa que estejam a ponto de reverter a correlação de forças conservadora atualmente observável no Brasil.
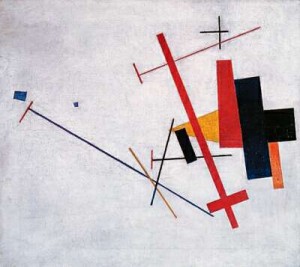 Um outro desafio para os ativismos contemporâneos refere-se, especificamente no que concerne aos ativismos urbanos, ao problema de organizar e mobilizar os trabalhadores informais. Na era da globalização e do processo eufemisticamente denominado de “reestruturação produtiva”, o sistema capitalista cessou de, nos países centrais, poder “incluir” e “integrar” quase todos os trabalhadores ao mundo do consumo. Pelo contrário: ele passou a expelir ou a não incluir uma crescente parcela da população do mercado de trabalho formal, especialmente entre os jovens. Distante do quadro comparativamente muito melhor dos três decênios que vão do período imediatamente posterior ao fim da Segunda Guerra até meados dos anos 1970 (época apelidada, com notável exagero, de os “treinte glorieuses” [“trinta gloriosos”), a situação a que hoje assistimos é a de um desemprego em massa, de “precarização” das relações de trabalho e de erosão do welfare state [Estado de bem-estar social] nos países centrais, e de “hiperprecarização” do trabalho nos países da (semi)periferia. Nestes, como o Brasil, desde sempre familiarizados com altas taxas de subemprego, muitas vezes cresce também o desemprego aberto; e o desde sempre precário mundo do trabalho precariza-se, em parte, ainda mais. Como se isso não bastasse, o deficiente papel do Estado como provedor de serviços e bens públicos como saúde e educação torna-se ainda mais limitado.
Um outro desafio para os ativismos contemporâneos refere-se, especificamente no que concerne aos ativismos urbanos, ao problema de organizar e mobilizar os trabalhadores informais. Na era da globalização e do processo eufemisticamente denominado de “reestruturação produtiva”, o sistema capitalista cessou de, nos países centrais, poder “incluir” e “integrar” quase todos os trabalhadores ao mundo do consumo. Pelo contrário: ele passou a expelir ou a não incluir uma crescente parcela da população do mercado de trabalho formal, especialmente entre os jovens. Distante do quadro comparativamente muito melhor dos três decênios que vão do período imediatamente posterior ao fim da Segunda Guerra até meados dos anos 1970 (época apelidada, com notável exagero, de os “treinte glorieuses” [“trinta gloriosos”), a situação a que hoje assistimos é a de um desemprego em massa, de “precarização” das relações de trabalho e de erosão do welfare state [Estado de bem-estar social] nos países centrais, e de “hiperprecarização” do trabalho nos países da (semi)periferia. Nestes, como o Brasil, desde sempre familiarizados com altas taxas de subemprego, muitas vezes cresce também o desemprego aberto; e o desde sempre precário mundo do trabalho precariza-se, em parte, ainda mais. Como se isso não bastasse, o deficiente papel do Estado como provedor de serviços e bens públicos como saúde e educação torna-se ainda mais limitado.
Em um cenário em que o “mundo do trabalho” implode e um elevado número de pessoas em idade de trabalhar é condenado ao desemprego crônico e ao subemprego, algumas organizações de movimentos sociais têm sabido ir muito além dos limites postos no âmbito da participação por meio de canais oficiais e da luta institucional (embora esses canais e essa luta, sabiamente, nem sempre sejam desprezados), protagonizando práticas de ação direta nas quais a dimensão espacial é muito forte e, de certo modo, definidora de estratégias e identidades. Em meio a processos de territorialização, relações sociais (re)articulam-se, vinculadas a uma tentativa de resistir às forças e aos efeitos desagregadores do capitalismo (semi)periférico, em particular no momento do parcial “desmonte” dos Estados nacionais.
São muitas as práticas espaciais urbanas associadas a essas formas de resistência, e elas variam, de país para país e de cidade para cidade, tanto em intensidade quanto em qualidade. Abrangem, por exemplo, afrontas à propriedade privada do solo e dos bens imóveis, por meio de ocupações de terrenos e prédios ociosos; compreendem, também, a constituição de circuitos econômicos alternativos ao mercado capitalista (no estilo “cantinas populares”, cooperativas e gestão de fábricas falidas pelos próprios trabalhadores); englobam, por fim, mas não com menor ênfase, investimentos e avanços simbólico-culturais em matéria de teias de sociabilidade promotoras de solidariedade e coesão, processos de conscientização e formação política e estímulo ao desenvolvimento de práticas culturais críticas e emancipatórias.
 Isso tudo, e mais o fato de que não é mais possível sustentar, sem afastar-se da realidade, uma centralidade do “proletariado” em sentido tradicional como “sujeito da história”, devido à acomodação política do operariado formal (redução do movimento operário a um ativismo sindical de tipo corporativista), coloca o problema de que, hoje, os movimentos sociais precisam fazer face à necessidade de articular atores sociais distintos, entre eles o “hiperprecariado” (que os marxistas costumam, pejorativamente, chamar de “lumpemproletariado”), os subempregados, os desempregados crônicos. (Isso para não falar de outras agendas, não diretamente remissíveis ou redutíveis à esfera da produção, mas que também têm orientado e galvanizado fundamentais lutas sociais: a luta contra o racismo, a luta contra o machismo e a opressão de gênero, a luta contra a homofobia, e assim sucessivamente.) Até que ponto isso é possível? Até que ponto um universo marcado pela hiperprecarização e pela fragmentação econômica é passível de auto-organização “revolucionária”?… Os piqueteros argentinos constituem um exemplo muito interessante para ser levado em conta, para efeitos de comparação com o caso brasileiro — tanto por suas conquistas quanto por seus limites. E, no tocante aos seus limites, é seguro que a situação brasileira é ainda mais difícil, em alguns sentidos (escolarização e nível de informação). Na Argentina trata-se, em grande parte, de ex-operários formais que se tornaram desempregados; no Brasil, dos descendentes de gerações de trabalhadores subempregados e em condições de grande precariedade.
Isso tudo, e mais o fato de que não é mais possível sustentar, sem afastar-se da realidade, uma centralidade do “proletariado” em sentido tradicional como “sujeito da história”, devido à acomodação política do operariado formal (redução do movimento operário a um ativismo sindical de tipo corporativista), coloca o problema de que, hoje, os movimentos sociais precisam fazer face à necessidade de articular atores sociais distintos, entre eles o “hiperprecariado” (que os marxistas costumam, pejorativamente, chamar de “lumpemproletariado”), os subempregados, os desempregados crônicos. (Isso para não falar de outras agendas, não diretamente remissíveis ou redutíveis à esfera da produção, mas que também têm orientado e galvanizado fundamentais lutas sociais: a luta contra o racismo, a luta contra o machismo e a opressão de gênero, a luta contra a homofobia, e assim sucessivamente.) Até que ponto isso é possível? Até que ponto um universo marcado pela hiperprecarização e pela fragmentação econômica é passível de auto-organização “revolucionária”?… Os piqueteros argentinos constituem um exemplo muito interessante para ser levado em conta, para efeitos de comparação com o caso brasileiro — tanto por suas conquistas quanto por seus limites. E, no tocante aos seus limites, é seguro que a situação brasileira é ainda mais difícil, em alguns sentidos (escolarização e nível de informação). Na Argentina trata-se, em grande parte, de ex-operários formais que se tornaram desempregados; no Brasil, dos descendentes de gerações de trabalhadores subempregados e em condições de grande precariedade.
Diante desse quadro de fragilidades, o governo Lula apressou um processo de divisão e enfraquecimento político dos ativismos urbanos. Na verdade, esse processo desdobra, com o peso da atuação em escala nacional de instituições do Governo Federal ou por ele influenciadas, uma tendência que já vinha da década anterior: a da “amarração” ou do “atrelamento” da sociedade civil às dinâmicas e agendas de esquemas participativos oficiais (basicamente ou largamente government-sponsored [subsidiados pelo governo]) de participação popular, no estilo “orçamentos participativos”. Vale a pena, antes de prosseguir com a análise das lutas urbanas, analisar brevemente esse tipo de “apelo à participação”.
Notas
[1] Para relembrar, eis os trechos: “Gigante pela própria natureza, / És belo, és forte, impávido colosso, / E o teu futuro espelha essa grandeza. (…) Deitado eternamente em berço esplêndido, / Ao som do mar e à luz do céu profundo, / Fulguras, ó Brasil, florão da América, / Iluminado ao sol do Novo Mundo!” ([Trechos do] Hino Nacional Brasileiro, de Francisco Manuel da Silva e Joaquim Osório Duque Estrada).
[2] Textualmente: “(…) que fazer e como fazer para que cada etapa de um processo de emancipação, por seus resultados, torne mais fácil, e não mais difícil, a participação política na etapa seguinte?” (CASTORIADIS, 1990:181).
[3] Um rápido esclarecimento conceitual: enquanto determinados autores reservam a expressão movimento social (mouvement social [fr.], social movement [ing.], soziale Bewegung [al.], movimiento social [esp.]) para um tipo particularmente crítico de ação coletiva, outros autores a têm utilizado de maneira indiscriminada, fazendo-a englobar tanto realidades como associações de moradores de tipo clientelista e/ou “paroquial” quanto movimentos sociais que visam explícita e conscientemente a transformações sócio-espaciais profundas – e, às vezes, até mesmo formas de ação coletiva como quebra-quebras e saques. O autor do presente texto se inscreve na primeira tradição. Desde meados dos anos 80, venho propondo que se distinga conceitualmente entre, de um lado, ativismos sociais em geral (tipo de ação coletiva caracterizado, diferentemente de quebra-quebras e saques, por uma duração não efêmera – tipicamente, anos, podendo chegar a décadas -, e, em contraste com lobbies, por ações e protestos públicos), e, de outro lado, movimentos sociais em sentido estrito (que seriam uma modalidade particularmente crítica e ambiciosa de ativismo social). Enquanto muitos ativismos são meramente “paroquiais”, (auto)limitados ao encaminhamento de reivindicações pontuais, aqueles que podem ser qualificados como “verdadeiros” movimentos têm por características a articulação de demandas específicas com questionamentos mais profundos, relativos a problemas regionais, nacionais e internacionais, e a construção de pontes entre a análise de conjuntura e a leitura de problemas estruturais. Os movimentos sociais, por conseguinte, são tidos na conta de um subconjunto de um tipo mais amplo de ação coletiva, os ativismos sociais. Sobre essa discussão conceitual, ver mais detalhes (inclusive a propósito de sua conveniência mas, ao mesmo tempo, de seus limites), por exemplo, em SOUZA (2006:273 e segs.). Quanto ao presente artigo, mesmo sendo os movimentos sociais strictu senso o seu principal objeto de interesse,às vezes tive de fazer referência aos ativismos em geral, por razões de lógica e/ou prudência.
[4] É claro que isso varia um pouco (e às vezes até bastante) de acordo com a cidade e, também, com o ativismo ao qual nos estejamos referindo. Se, em São Paulo, foi no início da década de 70 que “novos personagens entraram em cena”, para recordar o título do importante livro de Eder SADER (1995), no Rio de Janeiro o ativismo favelado experimentou, nos anos 60, um primeiro grande momento de efervescência e criatividade, lutando contra as remoções de favelas e propondo ou reapresentando, como alternativa, a urbanização destas (ver, sobre isso, SANTOS, 1981:32 e segs.). De um modo geral, entretanto, por causas variadas, o período de mais ou menos dez anos acima mencionado pode ser considerado, em escala nacional, como o “grande momento” dos ativismos urbanos organizados com base em bairros, loteamentos e favelas. Foi o momento, por exemplo, em que se criaram as principais federações municipais ou estaduais de associais de moradores, e também o período em que os protestos e as reivindicações dessas organizações alcançou maior visibilidade pública.
Referências bibliográficas
CASTORIADIS, Cornelius (1983 [1979]): Introdução: Socialismo e sociedade autônoma. In: Socialismo ou barbárie − O conteúdo do socialismo. São Paulo: Brasiliense.
———- (1990): La révolution devant les théologiens. In: Le monde morcelé– Les carrefours du labyrinthe III. Paris: Seuil. [Edição brasileira: A revolução diante dos teólogos. In: As encruzilhadas do labirinto III − O mundo fragmentado. São Paulo, Paz e Terra, 1992.]
LERRER, Débora (2003): Reforma agrária: Os caminhos do impasse. São Paulo: Garçoni.
SADER, Eder (1995 [1988]): Quando novos personagens entraram em cena. Experiências e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-1980. São Paulo e Rio de Janeiro: Paz e Terra, 3.ª reimpressão.
SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos (1981): Movimentos urbanos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Zahar.
SOUZA (2006): A prisão e a ágora. Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
ZIBECHI, Raúl (1999): La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación. Montevidéu: Nordan-Comunidad.
———- (2003): Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento. Buenos Aires e Montevidéu: Letra libre e Nordan-Comunidad.
Nota sobre o autor
Marcelo Lopes de Souza é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Ilustrações: obras de Kazimir Malevitch.
Os leitores portugueses que não percebam certos termos usados no Brasil
e os leitores brasileiros que não entendam outros termos usados em Portugal
encontrarão aqui um glossário de gíria e de expressões idiomáticas.
Leia a 2ª parte deste artigo.


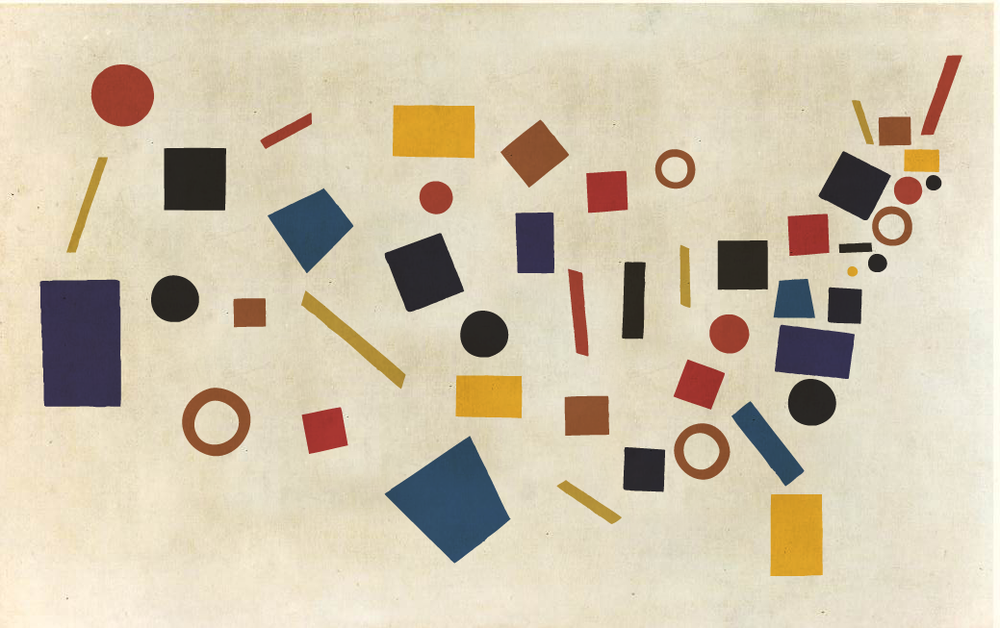





Caro Marcelo, parabéns pelo texto, que é de uma ponderação e precisão analítica que costumam fazer falta em momentos como esse, em que se costuma agir e pensar no calor. Quero me ater à reflexão acerca das questões de fundo que você coloca (a saber: “o que fica, então, como resultado? Ou, desdobrando e formulando de outras maneiras: que tipo e que intensidade de acúmulo sociopolítico (material, político-pedagógico, estratégico, cultural-simbólico…) deriva de tal ou qual movimentação/luta social? Que consequências advirão? E, lembrando uma crucial interrogação de Castoriadis: as lutas e os avanços futuros serão facilitados ou dificultados pelos resultados das lutas de hoje?”.
Creio que a onda de protestos urbanos que varreu o país inteiro (de cidades pequenas às grandes metrópoles) tende a representar, no mínimo, uma mudança no sentido das ações coletivas de protesto perante o imaginário de grande parte da população brasileira. Até um mês atrás – em função das derrotas e descaminhos da esquerda e do peso da ideologia neoliberal ultra-individualista -, ir às ruas em protesto era visto como algo de pouca utilidade, quando não claramente um estorvo e um crime. Agora ficarão por um bom tempo com a pulga atrás da orelha pensando se a mobilização realmente não é o veículo mais seguro de se alcançarem conquistas.
Essa mudança de sentido tende também a atrair pessoas (e sobretudo os jovens) para formas de mobilização política mais duradouras e orgânicas, e não me parece que os partidos de esquerda serão os principais beneficiados em meio à desconfiança generalizada vertida contra eles; mas, antes, os ativismos urbanos. Passadas as manifestações milionárias, o que tenho presenciado é a reaproximação de uma miríade de ativistas, grupos e organizações dos ativismos sociais desejosos de compartilhar análises de conjuntura e pensar táticas de atuação conjunta, a criação de fóruns políticos por temas e assembleias territorialmente referenciadas, além de uma busca por engajamento político por parte de “marinheiros de primeira viajem” e, ainda, a volta à ativa de “velhos lobos do mar” que antes estavam distantes da luta.
Percebe-se portanto uma efervescência política, efervescência que pode (e deve) arrefecer, mas que pode também muito bem ter como resultado a ampliação de uma massa crítica de ativistas e a reorganização de uma esquerda comprometida com o trabalho de base e com a criação de espaços de autodeterminação política e gestação de relações contra-hegemônicas. Não acho que as grandes conquistas estejam na ordem do dia, mas sim a rearticulação dessa parte da esquerda, o que já seria em si uma tremenda vitória se se toma como parâmetro as perspectivas que tínhamos há algumas semanas. É claro que tal rearticulação exigirá muita reflexão para que possamos retomar a dimensão estratégica na luta anti-capitalista, e, sobretudo, um trabalho de base de fôlego. A reflexão que você faz nesse texto é de grande valia para isso.
Caro Eduardo:
Uma das questões práticas fundamentais, no que se refere a aproveitar o lado positivo da atual onda de protestos para poder gerar um pouco mais de acúmulo político-pedagógico e organizacional, tem a ver justamente com coisas sobre as quais você também tem refletido: a necessidade de fomentar o desenvolvimento e a multiplicação de organizações horizontais e de base territorial.
Nossas condições e possibilidades, a esse respeito, são bem diferentes do que havia na Argentina no começo da década passada, e não seria nem um pouco realista esperar que fôssemos testemunhar, por aqui, a multiplicação de “asambleas barriales” e de algo comparável ao movimento “piquetero” (algumas comparações recentemente feitas com o caso argentino me parecem um tanto forçadas ou, pelo menos, muito limitadas, pois enfatizam apenas um aspecto em que há, de fato, semelhança: a presença de fortes contradições e, no meio disso, uma confusa dimensão de nacionalismo, ainda que lá como cá não se trate sempre de manifestações [proto]fascistas quando jovens pouco politizados resolvem empunhar a bandeira nacional, usada às vezes como símbolo mais de indignação que de patriotismo francamente reacionário).
De qualquer modo, as várias experiências que vêm ocorrendo (sobretudo desde a década passada) no Brasil urbano, do MPL aos setores mais horizontais do movimento dos sem-teto, passando por diversas outras organizações e diversos outros movimentos, demonstram que há um potencial ainda a ser melhor aproveitado. Saberemos aproveitá-lo? Faremos as necessárias autocríticas? Usaremos bem o tempo e os nossos recursos? Conseguiremos “driblar” fatores adversos tão poderosos como a mídia corporativa (coautora essencial do redirecionamento da pauta de protestos e parcial “sequestro” das mobilizações)? Como sempre, o tempo dirá.
Marcelo,
A propósito dos símbolos nacionais e das referências nacionalistas. Um lugar-comum tem o seu valor significante atenuado porque, de tão repetido que é, dilui a sua identidade? Ou um lugar-comum tem o seu valor significante reforçado porque, de tão repetido que é, se converte numa verdade geralmente aceite e impermeável ao espírito crítico?
Caro João:
Confesso que eu, quase que desde criança – portanto, muito antes de, graças a meu pai, começar a pensar sobre e discutir temas e problemas a partir de uma perspectiva de esquerda, e muitíssimo antes de, dessa vez caminhando por mim mesmo, identificar-me com o campo libertário, compreendido em sentido lato -, tinha uma aversão instintiva por hinos e bandeiras. Me sentia muito desconfortável no pátio da escola, perfilado diante da bandeira, tendo de cantar o hino. Mais tarde, entendi que não tinha de me sentir esquisito por isso, e minha aversão tornou-se consciente e assumida. De tal maneira internalizei essa repulsa (que, no devido tempo, foi ampliada, ao estender-se ao racismo e à xenofobia em geral, bem como a todos os tipos de “corporativismo territorial”: “bairrismo” e “regionalismo” em seus conteúdos usuais, por exemplo) que, já bem cedo, tinha quase que crises de urticária diante de reações “patrióticas” a propósito de eventos esportivos, como é tão comum.
Tendo dito isso, esclareço que vejo com maus olhos as tentativas, lidas e ouvidas nas últimas semanas, de ser condescendente com os símbolos e as alusões verbais a símbolos nacionais (e me refiro, aqui, a observadores supostamente de esquerda, não aos conservadores contumazes que povoam os veículos da grande imprensa). Quem conhece bem a história e, mais do que isso, foi testemunha ocular de processos históricos dramáticos – e você se encaixa em ambas as categorias -, sabe onde o uso de símbolos (e tiradas, slogans etc.) “patrióticos” pode parar – e o que/quais interesses eles, em última análise, reforçam.
A única coisa, porém, que, andando pelas ruas e conversando com jovens nestas últimas semanas, me inspira a relativização que embuti em minha resposta ao Eduardo foi a seguinte: apesar dos riscos e da carga negativa que ali, naquelas bandeiras, dormitam, me parece que seria exagerado imaginar que, por trás de todos e cada um daqueles jovens, há um “nacionalista”, quem sabe até um “[proto]fascista”. Me pareceu que havia de tudo, e uma parcela ponderável talvez empunhasse uma bandeira porque não lhes pareceu haver outro símbolo para expressar o que, confusa e toscamente, tentavam expressar. Se não se identificavam com os partidos e grupelhos da esquerda autoritária, isso poderia, em muitos (muitíssimos) casos, ter a ver com sentimentos reacionários em estado larvar ou já manifesto – certamente. Mas quem sabe uma parte desses, se fosse exposta a ideias e debates, não deixaria de lado a bandeira do Brasil sem, necessariamente, substituí-la pela do PSTU, por exemplo? (E muito menos pela de algum partido explicitamente conservador.) Ou seja: há uma parcela dessa juventude cujos corações e mentes precisam ser, urgentemente e com inteligência (repito: teremos recursos, teremos energia, teremos habilidade?…), disputados. Nem todos os que empunharam bandeiras do Brasil são “casos perdidos”, e precisamos nos dirigir a eles de algum modo produtivo, não apenas hostilizá-los. Se mesmo os filhos e filhas da classe trabalhadora que vive nas favelas e periferias tantas vezes não demonstra “consciência de classe”, o que dizer dos filhos e filhas dos assalariados mais privilegiados, candidatos a engrossarem a classe dos “gestores”? E no entanto, o destino e o comportamento deles não são inevitáveis. No fundo, foi só isso o que eu tentei expressar. Porém, não desejo, por um minuto sequer, dar de barato os riscos e o significado último dos símbolos em questão. Preocupo-me, e muito. No mais, identifico-me, no geral e em particular neste caso, com a citação de Roger Scruton que o Passa Palavra disseminou dias atrás: “o otimismo escrupuloso conhece a utilidade do pessimismo e sabe quando qualificar os nossos planos com uma dose dele.”
Marcelo, sobre a comparação da atual situação dos movimentos sociais (e das mobilizações) no Brasil com a Argentina do começo da década passada, também acho que as diferenças são muito grandes. Estou apenas chamando a atenção para o momento favorável àquilo que você se referiu como ganhos político-pedagógicos dos ativismos e movimentos de esquerda, e ainda acho que o momento é mais favorável a este do que aos grupamentos de direita e extrema-direita. Se usaremos bem o tempo e nossos recursos para isso eu não sei, mas é um fato que ao longo dos últimos muitos anos em que a esquerda sofreu sucessivas derrotas houve sempre aqueles que empregaram o melhor (ou boa parte) do seu tempo e de seus recursos para tanto. Creio que agora seu trabalho tende a ser mais frutífero e encontrar maior ressonância do que antes, ainda que seja impossível prever até onde isso chegará.
Acabei de ler esta matéria aqui: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,povo-nao-precisa-de-carro-de-som-afirma-representante-do-movimento-passe-livre,1052575,0.htm
Me impressionou o esforço do jornal, através dessa matéria, em colocar o MPL contra os sindicatos e vice-versa.
O que mostra o medo ou receio que eles tem da unidade da classe trabalhadora, em sentido amplo. Tentam jogar uma organização contra outra.
É preciso estar atento…
Sobre carro de som especificamente, aqui em BH, em meio às manifestações de junho, quando os coxinhas começaram a aparecer em massa, foi um alívio ouvir um carro de som tomando a frente da manifestação e dando a direção, com gente em cima gritando slogans de esquerda.
Para ser vitorioso é fundamental saber o que usar (taticamente) e quando usar. E saber que cada grupo social tem características diferentes, para os quais uma tática ou forma de organização pode funcionar melhor que outras.
OK, comentário meio fora de tópico em relação ao artigo.