Por Manolo
Já se viu na parte anterior deste ensaio em que situação se encontravam os capitalistas brasileiros nos últimos anos, em especial durante a crise recessiva de 2014-2017. Hora de ver como agiram contra os trabalhadores para recuperar-se e garantir a continuidade da exploração capitalista.
Não serão tratados aqui os meios mais diretos, simples, custosos e evidentes representados pelas muitas formas de repressão às lutas de trabalhadores, que de fato aumentaram depois do grande “susto” causado pelas lutas de 2013. Para isto, basta percorrer as notícias veiculadas pelos muitos jornais e sites de esquerda. Ademais, tais meios sempre poderão ser creditados aos “excessos” de um ou outro agente da repressão, sempre a ser “investigado” e “punido”, ou então à permissividade ou à intolerância de tal ou qual sujeito.
De igual modo, não será analisada aqui a tragédia expressa pelos índices crescentes de violência nos bairros de trabalhadores, em especial contra jovens negros. A sensação de insegurança assim criada, embora atinja indiscriminadamente trabalhadores e capitalistas, serve mais à repressão dos primeiros, pois têm menores possibilidades de arcar com os custos de um aparato privado de segurança (câmeras, grades, cofres domésticos, seguranças, rondas, construção de gated communities etc.).
Interessam sobretudo as formas propriamente econômicas de repressão. Não porque sejam de algum modo “superiores” às outras. Como se trata de mecanismos impessoais, difusos, voltados contra populações inteiras sem que se possa identificar claramente responsáveis a quem culpar, dificilmente são entendidas pelo que são, e por isto mesmo são bastante eficazes. A repressão econômica voltada contra os trabalhadores tem outra vantagem, que os capitalistas sabem levar em conta: via de regra resultam em benefícios para os capitalistas e seus custos costumam ser diluídos entre todos eles, enquanto as formas diretas de repressão têm custos mais altos, concentrados na maior parte dos casos naqueles capitalistas diretamente envolvidos. Trata-se, em suma, de reprimir as reivindicações e lutas dos trabalhadores simplesmente pondo a economia capitalista para funcionar.
O objetivo principal dos capitalistas com as formas econômicas de repressão é um só: desvalorizar a força de trabalho. Os meios são muitos, mas o resultado é o mesmo, pouco importando as consequências trágicas que venham a ter sobre os trabalhadores. Três deles serão analisados a seguir com algum detalhe: as restrições ao consumo dos trabalhadores por meio de perdas inflacionárias; a captura de rendas e poupanças dos trabalhadores por meio de dívidas; e as demissões e o desemprego, que combinam a desvalorização da força de trabalho dos desempregados com a contenção da insubordinação dos empregados.

Desvalorização da força de trabalho: restrições ao consumo por meio de perdas inflacionárias
As perdas inflacionárias são uma das formas de desvalorizar a força de trabalho, mas há que se ter cuidado ao analisar a inflação. Esta forma de ataque aos trabalhadores não se faz por meio da inflação isoladamente considerada. Não é o simples crescimento numérico dos preços que importa, mas uma aumento dos preços maior que o aumento dos salários.
Perda inflacionária é isto: o salário aumenta menos que os preços, e no fim de um ano, de um mês ou mesmo de uma semana ou um dia (nos casos de hiperinflação) o mesmo salário permite comprar menos coisas que antes. Um contexto generalizado de inflação não prejudica os capitalistas de imediato e dentro de certos limites, pois podem reajustar seus preços de acordo com o ritmo da própria inflação e dispõem de meios para lidar com as perdas inflacionárias (redução e rotação mais acelerada dos estoques; busca de matérias-primas, meios de produção, infraestruturas, produtos ou mesmo trabalhadores em outras economias por meio de importações e migração; etc.). Prejudica principalmente os trabalhadores, cujos salários são reajustados mais lentamente que os preços e, depois de recebidos, não são complementados para compensar as perdas inflacionárias – perdendo, portanto, seu poder de compra ao longo do tempo e reduzindo sua capacidade imediata de consumo.
Há que se ter cuidado, também, com os índices inflacionários. Cada produto, cada serviço prestado, cada mercadoria enfim, tem seu preço aumentado ou diminuído segundo critérios próprios, o que resulta em séries diversas de preços ascendentes e descendentes cruzando-se dentro de uma mesma economia. Não é à-toa que os economistas, além dos índices gerais, trabalham com vários índices de preços setoriais calculados em escala nacional para lidar com problemas específicos.
Inflação e restrições ao consumo
Feitas estas ressalvas, pode-se dizer que inflação “oficial” brasileira é auferida via de regra mediante dois índices: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ambos calculados pelo IBGE. A diferença entre os dois: o IPCA tem como base os custos de famílias com renda mensal entre 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja sua fonte de rendimentos, servindo como indicador geral de inflação; o INPC tem como base os custos de famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 5 salários-mínimos cuja pessoa de referência é assalariada em sua ocupação principal, servindo como indicador da inflação para trabalhadores de menor remuneração.
Vê-se desde logo um problema: pelo IPCA a inflação brasileira em 2017 foi de 2,95%, e pelo INPC a inflação brasileira foi de 2,07%. Complementarmente, o Índice do Custo de Vida (ICV), calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), apresentou aumento no custo de vida de 2,44% em 2017; -3,71 pontos percentuais (p.p.) inferior ao de 2016, que foi 6,15%. Para as famílias de renda mais baixa foi verificada a menor taxa, de 1,65%; seguida das de renda média, com variação de 1,94%; e, por fim, as de renda mais alta, com 2,93%.
Seria isto um indicador de que as famílias de mais baixa renda sofreram menos com a inflação do que as de renda mais alta? Que as condições de vida dos mais pobres estão a melhorar?
Não. A renda dos trabalhadores situados nos menores estratos de renda é baixa ao ponto de forçar a escolhas drásticas quando qualquer item de seu orçamento aumenta mais que o esperado – como é o caso da troca de fogões a gás por lenha para cozinhar, já mencionada na quarta parte deste ensaio. Com isto, trabalhadores vêm reduzida sua capacidade de consumir no presente, incorporam a si próprios menos valores (que vão desde os bens de consumo básico e cuidados pessoais mais simples até novas qualificações). Em suma, vêm desvalorizar-se sua força de trabalho sem muitas alternativas – considerando, claro, que não consigam o que precisam por meios ilegais.
Estagflação

Um parêntese é necessário antes de prosseguir. Uma situação em que os preços dos bens e serviços sobem – ou seja, inflação – ao mesmo tempo em que o volume de bens produzidos encontra-se estagnado ou diminui – ou seja, recessão – é prejudicial aos trabalhadores, pois significa que os salários poderão comprar menos. Situação piorada quando a estes fatores se soma o aumento no desemprego, que tende a pressionar os salários para baixo.
É possível dizer que numa situação onde ocorrem simultaneamente inflação real alta ou crescente, recessão, redução na produtividade e aumento no desemprego, o que há é um quadro de estagflação. A estagflação é um dos métodos pelos quais os capitalistas buscam recompor suas taxas de lucro contra os ganhos auferidos pelos trabalhadores em conjunturas mais favoráveis; quando somada a um contexto de desemprego crescente, contribui ainda mais para este efeito, pois o desemprego pressiona os trabalhadores empregados a serem mais produtivos e a reivindicarem menos. Pior: como os mecanismos mais sofisticados de incorporação das reivindicações dos trabalhadores são dificultados ou literalmente travados pela queda na produtividade, restam apenas os meios mais repressivos e autoritários para conter a luta de classes, precisamente os mais custosos e arriscados.
Desde 2013 economistas de orientações diversas debatem se a economia brasileira encontrava-se ou não em estagflação, e que consequências poderiam daí advir.
Carlos Eduardo de Freitas (ex-diretor do Banco Central) afirmou em 2013 que “numa economia operando a pleno emprego e com a capacidade instalada totalmente comprometida, não tem como o país crescer muito sem pressionar a inflação”. Robson Gonçalves, professor da Fundação Getúlio Vargas, afirmou na mesma matéria que “o principal entrave para o crescimento não é a demanda, mas a falta de investimentos, públicos e privados, que melhorem a infraestrutura e aumentem a produção”.
O debate continuou no ano seguinte. Lícia García-Herrero e Ernesto dos Santos, economistas da BBVA Research, afirmaram em 2014 que ocorreram episódios de estagflação “não apenas no segundo e terceiro trimestres de 2014, mas também entre o terceiro trimestre de 2012 e o segundo de 2013”. Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central, afirmou em julho de 2014 que a economia brasileira passava por “estagflação com recessão em alguns setores, mais localizado na indústria”, pois “os serviços, o agronegócio e a mineração ainda crescem”; para ele, tratava-se de “uma fase típica de transição”, pois “a situação atual não pode ser permanente. Ou ela desanda em uma crise grave, que seria um mergulho recessivo, uma descontinuidade recessiva, ou nós preparamos um terreno para romper essa armadilha do crescimento baixo e restaurar a confiança”.
Por outro lado, André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas, acautelou o público em agosto de 2014 asseverando que “o termo estagflação deve ser usado com um certo cuidado, já que as projeções são de estabilização da economia nos próximos meses e as demissões não devem atingir índices críticos”.
José Márcio Camargo, professor da PUC-RJ e economista-chefe da Opus Gestão de Recursos, opinou em junho de 2015 que “o quadro de estagflação já existe desde o ano passado, mas agora ingressa num estágio ainda mais grave”. Foi nisto secundado por José Luís Oreiro, professor do Instituto de Economia da UFRJ, para quem, em julho de 2015, os números mostravam a continuidade de um processo de estagflação, pois a alta nos serviços e o realinhamento das tarifas de energia empurravam a inflação para cima num contexto de baixo crescimento da economia. E em janeiro de 2017 a jornalista Raquel Landim publicou artigo onde afirmou ter acabado a estagflação, sem indicar um período mais preciso de vigência do problema.
Embora os especialistas não concordassem acerca dos momentos em que a recessão foi acompanhada por estagflação, o constante debate em torno da estagflação e dos meios para esconjurá-la – ou negá-la, como fez em 2014 o então presidente do Banco Central, Alexandre Tombini – evidenciam, senão sua existência, os enormes riscos do problema para o funcionamento normal da economia capitalista.
 Para o que interessa a este ensaio seriado, entretanto, os debatedores partem de uma premissa equivocada. Se é o crescimento da economia o fator que, associado à inflação alta, gera a estagflação, não é para a evolução do PIB que devem olhar preferencialmente, mas para a produtividade do trabalho e sua evolução. Não são poucos os que insistem no problema da produtividade na economia brasileira a partir de diversos pontos de vista (ver aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui…), no que aqui só se faz seguir uma tendência.
Para o que interessa a este ensaio seriado, entretanto, os debatedores partem de uma premissa equivocada. Se é o crescimento da economia o fator que, associado à inflação alta, gera a estagflação, não é para a evolução do PIB que devem olhar preferencialmente, mas para a produtividade do trabalho e sua evolução. Não são poucos os que insistem no problema da produtividade na economia brasileira a partir de diversos pontos de vista (ver aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui…), no que aqui só se faz seguir uma tendência.
A tabela 1 apresenta a série histórica da produtividade do trabalho no Brasil nos últimos quinze anos.
Tabela 1: produto do trabalho por hora trabalhada no Brasil e sua variação anual, 2003-2017
| Ano | Produto (em US$ de 2017) | Variação (em %) |
| 2003 | 15,13 | -0,08% |
| 2004 | 15,31 | 1,19% |
| 2005 | 15,52 | 1,37% |
| 2006 | 15,74 | 1,41% |
| 2007 | 16,40 | 4,21% |
| 2008 | 17,00 | 3,64% |
| 2009 | 16,88 | -0,70% |
| 2010 | 17,86 | 5,81% |
| 2011 | 18,36 | 2,84% |
| 2012 | 18,52 | 0,87% |
| 2013 | 18,91 | 2,06% |
| 2014 | 18,64 | -1,39% |
| 2015 | 18,21 | -2,31% |
| 2016 | 17,88 | -1,81% |
| 2017 | 18,07 | 1,03% |
Fonte: elaboração própria com dados de The Conference Board – Total Economic Database.
A série histórica iniciada em 1950 aponta uma média de US$ 12,15 para o produto por hora trabalhada, e uma variação média de 1,94% por ano; no período de 2003 a 2017 a média muda para US$ 17,28 e 1,12%, respectivamente.
A produtividade nos últimos quinze anos manteve-se constantemente acima da média histórica, demonstrando os crescentes ganhos ao longo de décadas na economia brasileira. Quando se trata da variação anual, entretanto, a produtividade da economia brasileira no período analisado cresceu acima da média histórica somente em cinco anos (2007, 2008, 2010, 2011 e 2013), mantendo-se abaixo dela nos dez anos restantes.
Se a média dos últimos quinze anos for tomada como parâmetro ao invés da média histórica, o produto por hora trabalhada ultrapassou a média somente em 2010 e manteve-se acima dela desde então. Por outro lado, no que diz respeito às variações na produtividade, além dos cinco anos de queda (2003, 2009, 2014, 2015 e 2016) há outros dois (2012 e 2017) em que a produtividade da economia brasileira cresceu abaixo da média, resultando em sete anos de crescimento estagnante ou negativo no período.
O que isto demonstra?
Que os capitalistas no Brasil conseguiram implementar ao longo de décadas novos processos de trabalho, novas tecnologias e tudo quanto necessário para aumentar o volume de produção por hora trabalhada. Desde 2009 entretanto, e com mais força ainda a partir de 2012, a estratégia de incorporar as reivindicações dos trabalhadores por meio de ganhos de produtividade parece ter sido dificultada ou bloqueada. A série errática de aumentos restritos e de decréscimos no período evidencia os resultados deste processo, e coaduna-se com o hiato histórico na economia brasileira verificado entre um pequeno número de empresas com alta produtividade e as restantes, onde prevalecem formas menos produtivas de exploração dos trabalhadores (evidenciada na tabela 3 deste artigo de João Bernardo).
É num tal cenário que as perdas inflacionárias, a captura das poupanças e rendas dos trabalhadores e o desemprego aparecem como soluções imediatas.
Reajustes de salário mínimo e rearranjo da estratificação econômica
Prosseguindo na análise, é preciso ver até que ponto se verifica alguma perda inflacionária causada pela defasagem entre o ritmo da inflação e o ritmo dos aumentos salariais, nomeadamente os reajustes do salário mínimo. A tabela 2 compara as duas séries entre 2003 e 2017 tendo o IPCA e o INPC como parâmetros de evolução da inflação e indicando se houve ou não perda inflacionária.
Tabela 2: evolução comparada dos reajustes do salário mínimo e do INPC entre 2003 e 2017
| Reajustes SM (a) | IPCA (b) | INPC (c) | Diferença 1 (a-b)* | Diferença 2 (a-c)* | |
| 2003 | 20,00% | 14,71% | 16,96% | – | – |
| 2004 | 8,33% | 6,60% | 6,27% | -6,38% | -8,63% |
| 2005 | 15,38% | 6,87% | 5,76% | 8,78% | 9,11% |
| 2006 | 16,67% | 4,18% | 3,26% | 9,80% | 10,91% |
| 2007 | 8,57% | 3,64% | 4,09% | 4,39% | 4,48% |
| 2008 | 9,21% | 5,68% | 6,57% | 3,53% | 5,12% |
| 2009 | 12,05% | 4,89% | 5,04% | 6,37% | 5,48% |
| 2010 | 9,68% | 5,04% | 5,11% | 4,79% | 4,64% |
| 2011 | 6,86% | 6,64% | 6,60% | 1,82% | 1,75% |
| 2012 | 14,13% | 5,40% | 5,43% | 7,49% | 7,53% |
| 2013 | 9,00% | 6,20% | 6,37% | 3,60% | 3,57% |
| 2014 | 6,78% | 6,33% | 6,04% | 0,58% | 0,41% |
| 2015 | 8,84% | 9,03% | 9,34% | 2,51% | 2,80% |
| 2016 | 11,68% | 6,29% | 6,58% | 2,65% | 2,34% |
| 2017 | 6,48% | 2,95% | 2,07% | 0,19% | -0,10% |
Fonte: elaboração própria, com dados do IBGE. * Como o reajuste é concedido levando em conta a inflação do ano anterior, a diferença é calculada subtraindo do reajuste do ano (t) a inflação do ano anterior (t-1).
O salário mínimo brasileiro em 2017 é de R$ 937,00; a renda média da população brasileira em 2017, segundo a PNADC-T/IBGE, variou de 2 a 2,3 salários mínimos, com homens recebendo via de regra 29,94% a mais que as mulheres e brancos recebendo 79,48% a mais que não-brancos. A situação não é nem um pouco negligenciável quando se descobre, também por via da série histórica da PNAD, que a estratificação da população brasileira por renda tem se mantido relativamente estável ao longo dos anos, como mostra a tabela 3.
Tabela 3: estratificação da população brasileira com 10 anos ou mais segundo a renda mensal
| Faixa 1 (Até ½ SM) | Faixa 2 (+ de ½ a 1 SM) | Faixa 3 (+ de 1 a 2 SM) | Faixa 4 (+ de 2 a 3 SM) | Faixa 5 (+ de 3 a 5 SM) | Faixa 6 (+ de 5 a 10 SM) | Faixa 7 (+ de 10 a 20 SM) | Faixa 8 (+ de 20 SM) | |
| 2003 | 7,79% | 15,29% | 17,09% | 8,58% | 7,11% | 4,56% | 2,06% | 0,93% |
| 2004 | 7,62% | 15,52% | 19,16% | 7,20% | 7,65% | 4,85% | 2,01% | 0,75% |
| 2005 | 7,88% | 17,24% | 19,39% | 7,28% | 6,82% | 4,45% | 1,68% | 0,67% |
| 2006 | 8,34% | 17,40% | 20,48% | 7,68% | 5,75% | 4,63% | 1,63% | 0,62% |
| 2007 | 7,16% | 16,89% | 20,70% | 8,16% | 6,26% | 4,51% | 1,69% | 0,59% |
| 2008 | 8,09% | 16,79% | 21,43% | 8,38% | 6,59% | 4,09% | 1,59% | 0,58% |
| 2009 | 8,03% | 17,12% | 21,91% | 7,70% | 6,71% | 3,93% | 1,52% | 0,51% |
| 2011 | 6,94% | 16,69% | 22,45% | 9,06% | 5,95% | 4,08% | 1,38% | 0,49% |
| 2012 | 7,84% | 17,83% | 23,22% | 7,84% | 7,02% | 3,62% | 1,23% | 0,44% |
| 2013 | 7,34% | 16,81% | 23,53% | 9,58% | 5,55% | 3,79% | 1,38% | 0,47% |
| 2014 | 7,39% | 17,63% | 23,26% | 9,94% | 6,46% | 4,00% | 1,35% | 0,49% |
| 2015 | 7,23% | 17,95% | 24,05% | 8,51% | 6,08% | 3,92% | 1,36% | 0,40% |
Fonte: elaboração própria, com dados da PNAD/IBGE. O total não chega a 70% na maioria dos anos porque foram descartados os que não têm rendimento algum – entre 27,7% a 35,68% dos entrevistados a depender do ano – e os que não informaram renda – entre 0,77% a 2,55% dos entrevistados a depender do ano.
Vê-se por estes dados como se mantiveram estáveis as faixas 1 e 4 da população, enquanto cresceram as faixas 2 e 3 em ritmos distintos. Isto se dá por força da forte redução da pobreza na última década e meia, que trouxe para as primeiras faixas de renda uma população que anteriormente não tinha rendimentos, e também pela combinação entre as políticas regulares de aumento do salário mínimo acima da inflação e de criação de empregos de baixa remuneração no comércio e nos serviços. Tudo isto já tem farta análise na literatura econômica e sociológica, inclusive entre aqueles que defendiam equivocadamente que o fenômeno refletia o surgimento de uma “nova classe média”. São estas as faixas onde os aumentos do salário mínimo acima da inflação melhoraram significativamente a renda.
Vê-se também como a parcela da população compreendida nas faixas 5 a 8 foram reduzidas em ritmos distintos – o que leva a um questionamento aos defensores da tese do crescimento da “classe média”.
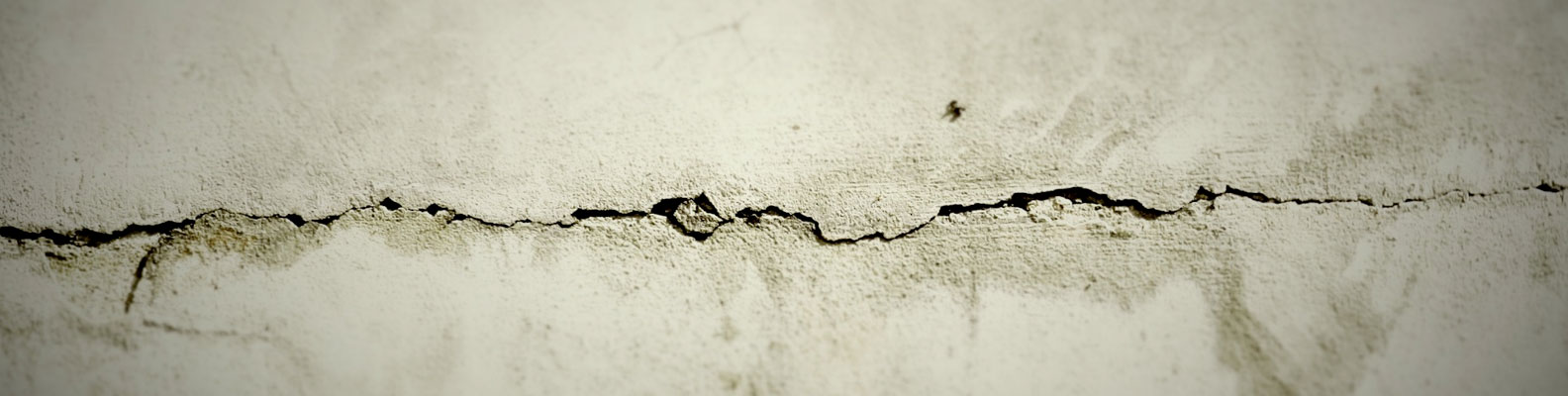 Analistas deste campo costumam escamotear que tal crescimento se dá não apenas mediante a inclusão no mercado formal de trabalho de parcelas significativas da população e da ampliação da assistência social por meio de programas como o Bolsa Família, mas também pelo “encolhimento” das faixas superiores da estratificação social brasileira. Um exemplo: em 2014 o número de super-ricos no Brasil caiu de 172 mil para 161 mil, e em 2015 o número de super-ricos brasileiros caiu mais ainda, para 149 mil.
Analistas deste campo costumam escamotear que tal crescimento se dá não apenas mediante a inclusão no mercado formal de trabalho de parcelas significativas da população e da ampliação da assistência social por meio de programas como o Bolsa Família, mas também pelo “encolhimento” das faixas superiores da estratificação social brasileira. Um exemplo: em 2014 o número de super-ricos no Brasil caiu de 172 mil para 161 mil, e em 2015 o número de super-ricos brasileiros caiu mais ainda, para 149 mil.
Reconcentração de renda no topo durante a recessão
Se este “encolhimento” significasse redução da renda dos que viveram a mobilidade social descendente, seria um fato notável. Acontece que o crescimento das faixas intermediárias e inferiores de renda foi acompanhado de uma redução na renda do topo mais discreta que a mobilidade social descendente, resultando em maior concentração de renda. A literatura sobre as desigualdades socioeconômicas aponta que a concentração de renda é mais difícil de capturar por meio de pesquisas domiciliares, pois os mais ricos ou bem não fornecem informações adequadas sobre sua própria riqueza, ou bem são difíceis de acessar por parte dos pesquisadores (muito tempo fora de casa, recusas etc.).
A tabela 4 detalha as profissões com maior renda média no Brasil.
Tabela 4: Ocupações com maior renda total média nas declarações de IRPF – Brasil, 2013
| Posição | Ocupação | Renda média anual (R$ mil) | Declarantes (mil) |
| 1 | Titular de cartório | 1.045 | 9,3 |
| 2 | Membro do Ministério Público | 498 | 13,7 |
| 3 | Membro do Judiciário e do Tribunal de Contas | 489 | 20,3 |
| 4 | Diplomata e afins | 308 | 2,7 |
| 5 | Médico | 279 | 318,4 |
| 6 | Advogado do setor público | 257 | 27,2 |
| 7 | Servidor do Banco Central, CVM e Susep | 257 | 5,4 |
| 8 | Auditor fiscal e afins | 254 | 68,2 |
| 9 | Atleta, desportista e afins | 236 | 5,9 |
| 10 | Piloto de aeronaves, comandantes e afins | 231 | 12,1 |
| 11 | Ator, diretor de espetáculos | 193 | 4,8 |
| 12 | Engenheiro, arquiteto e afins | 177 | 484,9 |
| 13 | Servidor das carreiras do Poder Legislativo | 155 | 44,8 |
| 14 | Gerente de empresa pública ou de economia mista | 150 | 45,5 |
| 15 | Físico, químico e afins | 148 | 37,7 |
Fonte: Pedro Ferreira de Souza, A desigualdade vista do topo: a concentração de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013, Tese de Doutorado, UnB, 2016.
Mesmo estes dados precisam ser vistos com atenção, pois é notório que nas profissões ligadas aos esportes e às artes um reduzidíssimo número de multimilionários puxa para cima a média da categoria. Feita esta ressalva, nota-se a preponderância de profissões liberais tradicionais (médicos, engenheiros, gestores) e das carreiras burocráticas de topo (diplomatas, juízes, promotores, procuradores, tabeliães).
Os dados meramente ilustrativos da tabela 5 são mais bem compreendidos em comparação com outros contantes no último Relatório da distribuição pessoal da renda e da riqueza dapopulação brasileira, publicado em 2016 pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda com dados do Imposto de Renda 2014/2015. A tabela 5 traz os dados de interesse.
Tabela 5: Participação na renda total bruta e nos bens e direitos líquidos por faixa de salário mínimo (em %)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| % Declarantes | ||||||||
| Até 20 SM | 91,6% | 91,3% | 91,1% | 90,7% | 90,2% | 91,2% | 91,6% | |
| 20 a 40 SM | 5,5% | 5,7% | 5,9% | 6,1% | 6,4% | 5,9% | 5,7% | |
| 40 a 80 SM | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,1% | 2,0% | |
| 80 a 160 SM | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | |
| > 160 SM | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |
| % Renda Total Bruta | ||||||||
| Até 20 SM | 50,9% | 49,7% | 51,5% | 50,5% | 48,9% | 52,1% | 53,6% | |
| 20 a 40 SM | 15,6% | 15,8% | 16,3% | 16,2% | 16,0% | 16,1% | 16,0% | |
| 40 a 80 SM | 11,7% | 11,8% | 12,0% | 11,9% | 11,9% | 11,1% | 10,7% | |
| 80 a 160 SM | 5,9% | 6,2% | 5,9% | 6,0% | 6,2% | 5,9% | 5,7% | |
| > 160 SM | 15,8% | 16,5% | 14,3% | 15,5% | 17,0% | 14,8% | 14,0% | |
| % Bens e Direitos Líquidos | ||||||||
| Até 20 SM | 41,9% | 41,4% | 40,2% | 37,2% | 36,8% | 40,6% | 40,6% | |
| 20 a 40 SM | 14,8% | 14,5% | 15,2% | 15,7% | 15,2% | 15,1% | 16,3% | |
| 40 a 80 SM | 12,5% | 12,6% | 13,1% | 13,4% | 13,4% | 12,2% | 12,4% | |
| 80 a 160 SM | 8,0% | 8,0% | 8,1% | 8,3% | 8,3% | 7,7% | 8,0% | |
| > 160 SM | 22,8% | 23,5% | 23,4% | 25,3% | 26,3% | 24,5% | 22,7% | |
Fonte: Relatório da distribuição pessoal da renda e da riqueza da população brasileira (2016)
Nota-se até 2013 relativa estabilidade na distribuição dos declarantes por faixas de renda. Nota-se também uma transferência de renda para a faixa da população abaixo de 20 salários mínimos. Nos bens e direitos (imóveis, carros, fundos de investimento, CDB, LCI, LCA, títulos públicos, depósitos em contas bancárias, consórcios, previdência privada etc.) a tendência é inversa, pois tanto a faixa com renda até 20 salários mínimos retraiu sua participação quanto aquela com renda entre 20 a 40 salários mínimos aumentou-a.
 Duas ressalvas importantes: sendo tais dados extraídos das declarações de imposto de renda de pessoa física, nem a sonegação por parte dos mais ricos é levada em conta (pois só é calculável por cruzamento muito complexo de dados bastante díspares), nem os dados refletem adequadamente a drenagem das poupanças e rendas dos trabalhadores (via de regra operada por meio de instituições financeiras).
Duas ressalvas importantes: sendo tais dados extraídos das declarações de imposto de renda de pessoa física, nem a sonegação por parte dos mais ricos é levada em conta (pois só é calculável por cruzamento muito complexo de dados bastante díspares), nem os dados refletem adequadamente a drenagem das poupanças e rendas dos trabalhadores (via de regra operada por meio de instituições financeiras).
Por fim, aquilo que a tabela 5 apresenta para a fração populacional cuja renda excede a estratificação da PNAD, o World Inequality Database apresenta para toda a população brasileira (cf. tabela 6).
Tabela 6: Apropriação da renda no Brasil segundo frações da população, 2003-2015
| 1% mais ricos | 10% mais ricos | 40% medianos | 50% mais pobres | |
| 2003 | 27,20% | 55,28% | 32,19% | 12,53% |
| 2004 | 27,32% | 54,78% | 32,34% | 12,88% |
| 2005 | 27,90% | 55,10% | 31,87% | 13,03% |
| 2006 | 28,23% | 55,47% | 31,49% | 13,03% |
| 2007 | 28,29% | 54,94% | 31,87% | 13,19% |
| 2008 | 29,29% | 56,20% | 30,62% | 13,18% |
| 2009 | 27,44% | 54,97% | 31,47% | 13,56% |
| 2010 | 28,19% | 55,21% | 30,94% | 13,85% |
| 2011 | 29,61% | 56,53% | 29,87% | 13,60% |
| 2012 | 27,73% | 55,42% | 30,59% | 13,99% |
| 2013 | 27,65% | 54,89% | 30,98% | 14,13% |
| 2014 | 27,52% | 54,61% | 31,10% | 14,29% |
| 2015 | 28,35% | 55,56% | 30,56% | 13,88% |
Fonte: World Inequality Database (WID)
A tabela 6 tem a vantagem de avançar exatamente sobre os dois anos da crise recessiva. Se levarmos em conta que a situação encontrada num ano reflete o desenvolvimento de fatos e tendências do ano anterior, fica evidente, com os dados relativos a 2015, que a recessão brasileira resultou em concentração de renda.
Desvalorização da força de trabalho: captura de rendas e poupanças dos trabalhadores por meio de dívidas
Se há evidências de perda inflacionária em desfavor dos trabalhadores e de concentração de renda no topo da estratificação socioeconômica brasileira, não se pode negligenciar outra forma de os capitalistas recomporem seus lucros e rendas: a captura das rendas e poupanças dos trabalhadores.
Sabe-se o que significa à primeira vista o endividamento entre trabalhadores: a redução da renda imediatamente disponível e portanto da capacidade de consumo no presente, de que já se falou acima. A isto é preciso adicionar outro elemento: tal redução se dá não por causa das flutuações de preço, como é o caso das perdas inflacionárias, mas porque parte significativa da renda mensal é transferida para os credores, via de regra capitalistas. O debate aqui não é tanto sobre spread bancário ou sobre as altas taxas de juros nas modalidades mais comuns de crédito, mas sobre o funcionamento regular do endividamento no capitalismo: capturar as poupanças e as rendas destinadas ao consumo imediato dos trabalhadores e direcioná-las seja às instituições bancárias, seja aos agiotas que as substituem.
 A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) mostra a persistência do endividamento familiar no Brasil. Durante todo o ano de 2017 o percentual de famílias entrevistadas a acusar algum tipo de endividamento variou entre 60,5% (janeiro) e 64,1% (abril), mostrando que em média 62,3% das famílias tinha algum tipo de dívida.
A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) mostra a persistência do endividamento familiar no Brasil. Durante todo o ano de 2017 o percentual de famílias entrevistadas a acusar algum tipo de endividamento variou entre 60,5% (janeiro) e 64,1% (abril), mostrando que em média 62,3% das famílias tinha algum tipo de dívida.
Destas, a esmagadora maioria – variando de 78% em janeiro a 77% em outubro – endividara-se no cartão de crédito, modalidade com os mais altos juros entre as formas populares de crédito. Mesmo a queda na taxa de juros do cartão de crédito verificada em 2017 (de 497,7% ao ano em janeiro para 334,6% ao ano em dezembro) será ainda incapaz de livrar estas famílias da verdadeira escravidão da dívida a que estão sujeitas. 73,8% das famílias brasileiras entrevistadas na PEIC de novembro de 2017 tinha mais de 11% de sua renda comprometida com dívidas; deste total destacam-se os 25,1% de famílias com mais de 50% da renda mensal comprometida com dívidas.
Desvalorização da força de trabalho: demissões para redução de custos e desemprego como medida disciplinar
A força de trabalho é o mais importante entre todos os fatores de produção; o desemprego, elemento mais sensível de uma crise recessiva para os trabalhadores, evidencia como é fácil para os capitalistas lançar sobre os trabalhadores a conta de suas crises.
Desemprego e redução de custos (para capitalistas)
Qualquer economista dirá que o desemprego é um dos últimos indicadores a melhorar depois de uma crise recessiva. A isto é preciso adicionar: é também uma das estratégias mais usuais dos capitalistas, em especial daqueles que exploram o trabalho alheio em condições trabalho-intensivas, ou seja, de maior peso da força de trabalho frente às infraestruturas produtivas na composição da empresa.
Se é possível aos capitalistas num primeiro momento forçar os trabalhadores a reduzir seu ritmo de produção, há um ponto nesta redução a partir do qual já não é mais vantajoso seguir com esta estratégia; em tais condições, os capitalistas ou bem se livram de meios de produção, ou demitem trabalhadores – e via de regra o alto custo dos primeiros leva-os à segunda alternativa.
As demissões são uma das formas mais imediatas encontradas pelos capitalistas para reduzir a utilização da capacidade instalada. São também das mais destrutivas, pois, para mantermo-nos em termos estritamente econômicos e não entrarmos em outras questões graves implicadas no assunto (p. ex., aumento da pobreza, crises de subsistência, fome, aumento da desigualdade socioeconômica e de seus efeitos destrutivos etc.), desemprego prolongado resulta em depreciação maciça não somente dos postos de trabalho, mas também da própria força de trabalho, pelo esquecimento paulatino de habilidades laborais por falta de prática.
Contra os fatos, haverá quem diga o contrário, que demitir é a última opção dos capitalistas no Brasil para reduzir seus custos de produção, pois a legislação trabalhista brasileira – em tese – encarece a demissão.
 Esta afirmação, mantida tal como encontrada em 2015 a proporção de 86% dos empregos nas pequenas empresas de um lado e de 16% dos empregos nas médias e grandes empresas de outro lado, encontra dois obstáculos.
Esta afirmação, mantida tal como encontrada em 2015 a proporção de 86% dos empregos nas pequenas empresas de um lado e de 16% dos empregos nas médias e grandes empresas de outro lado, encontra dois obstáculos.
Primeiro: estudo de 2016 do DIEESE demonstra para os dois setores que a demissão por iniciativa do empregador, sem justa causa, é a responsável pelo maior volume de desligamentos, chegando a 48,7%, em 2014, e já havia sido de 56,0% no começo da série analisada, em 2002; ainda em 2014 a rotatividade no trabalho era alta, com média de 5 anos de duração de contratos, maior apenas que a dos Estados Unidos em meio a outros 29 países (no outro extremo, a Itália mantinha média de 12,2 anos de tempo médio dos contratos de trabalho).
O alto volume das demissões patronais, contraposta ao menor volume dos pedidos voluntários de rescisão (que chegaram a 24,3% em 2014), dos desligamentos por término de contrato (18,1% em 2014) e de outros motivos (6,7% em 2014), mostra que, apesar do custo, a demissão ainda parece ser a opção preferida por burgueses e gestores para reduzir custos, em especial quando aumentam as exigências por produtividade sobre cada trabalhador em período de baixo investimento em capital fixo e diminuição da taxa de uso do uso do capital fixo já existente.
Segundo: no vasto campo das pequenas empresas verifica-se a torto e a direito na Justiça do Trabalho empresas que demitem trabalhadores e desaparecem em pleno ar, com o CNPJ dado baixa na Receita Federal e os sócios, recursos e patrimônio literalmente sumindo para evadirem-se de cobranças judiciais.
A Lei Complementar 147/2014 permitiu a este setor dar baixa nas empresas sem necessidade de comprovar quitação de dívidas tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, facilitando ainda mais a operação, e a Lei 13.647/2017, ao retirar a necessidade de negociação sindical para demissões coletivas, eliminou ainda este outro obstáculo à prática.
O mesmo regime da Lei 13.647/2017 aplica-se aos empregados de médias e grandes empresas, facilitando ainda mais a decisão gerencial pelo “enxugamento de quadros” e aumentando o uso das demissões como instrumento de controle da força de trabalho.
A situação no fim da recessão
O desemprego na economia brasileira vinha em taxa crescente desde 2014. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua – Trimestral (PNADC-T), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017 o desemprego começou altíssimo (13,7% da população desempregada entre janeiro e março) e terminou ainda alto, mas com tendência de queda (11,8% entre outubro e dezembro).
Ocorre que desde 2016 o IBGE reviu a forma de contar os desempregados na PNADC-T: agora não somente conta os desocupados – ou seja, os desempregados tal como percebidos no senso comum – como soma-os aos que subutilizam sua força de trabalho – ou seja, as que trabalham menos de 40 horas semanais e querem ou precisam trabalhar mais, mas não o conseguem por forças alheias à sua vontade. A incorporação da subutilização do trabalho nas estatísticas oficiais acompanha as mudanças nos padrões internacionais, mas o timing é perfeito: com ela, é possível auferir que proporção da força de trabalho pode ser ainda mais explorada.
Quando somados os subutilizados aos desempregados, os indicadores ficam ainda mais altos e sofrem menos variação: começam o ano em patamares altíssimos (18,8% entre janeiro e março) e permanecem relativamente estáveis até o final do ano (18% entre outubro e dezembro).
Ou seja: a população brasileira em 2017 ainda sofre com taxas altas de desemprego, e quando quer ou precisa trabalhar mais, não consegue, ainda que as empresas brasileiras tenham aumentado seus investimentos produtivos durante o ano.
Função disciplinar do desemprego
A retomada econômica alardeada pelo governo federal, portanto, ainda não chegou adequadamente aos trabalhadores, pelo menos não em 2017. Reforça esta impressão o Índice de Medo do Desemprego (IMD), auferido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que manteve-se alto em todas as capitais brasileiras durante o ano; numa escala de 0 a 100, ficou entre 66,6 em março e 67,5 em dezembro, em sentido contrário ao das estatísticas oficiais, mostrando que a insegurança laboral criada durante a recessão de 2014-2017 ainda não foi dissipada.
É assim que se verifica a função disciplinar do desemprego.
 Se num contexto de desemprego baixo os trabalhadores percebem aumento em seu poder de barganha, e cedo utilizam-no para conseguir aumentos salariais, com o desemprego em alta acontece o inverso. Há muitos trabalhadores desempregados ansiosos por emprego. Em especial num contexto de crise recessiva, as tentativas de reivindicar aumentos salariais, investimentos em melhorias nas condições de trabalho etc. chocam-se com obstáculos difíceis.
Se num contexto de desemprego baixo os trabalhadores percebem aumento em seu poder de barganha, e cedo utilizam-no para conseguir aumentos salariais, com o desemprego em alta acontece o inverso. Há muitos trabalhadores desempregados ansiosos por emprego. Em especial num contexto de crise recessiva, as tentativas de reivindicar aumentos salariais, investimentos em melhorias nas condições de trabalho etc. chocam-se com obstáculos difíceis.
Desemprego e desvalorização da força de trabalho
Não bastasse o desemprego atuar como força disciplinar sobre os empregados, ele também atua como elemento desvalorizador da força de trabalho dos desempregados.
Tudo isto se verifica na prática na tabela 7, retirada de um estudo sobre o perfil dos trabalhadores desempregados encomendado em 2018 pelo SPC Brasil e pela Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
Tabela 7: propensão a trabalhar em troca de menores remunerações
| Está disposto(a) a ganhar menos do que ganhava em seu último emprego? | |
| Sim (total) | 61% |
| Sim, o que importa é voltar para o mercado de trabalho | 23% |
| Sim, o que importa neste momento é arrumar um emprego para pagar minhas despesas | 22% |
| Sim, é mais fácil procurar oportunidades melhores estando empregado | 16% |
| Não (total) | 39% |
| Não, porque acho uma regressão profissional | 19% |
| Não, pois depois posso ter dificuldade de ficar no patamar salarial que estava antes | 13% |
| Não, pois tenho uma reserva financeira que me permite esperar algo no nível que espero | 7% |
Fonte: SPC Brasil/CNDL, O desemprego e a busca por recolocação profissional no Brasil.
Em primeiro lugar, o desemprego prolongado leva à perda de qualificações profissionais pela falta de prática. Se são as qualificações profissionais o diferencial entre um trabalho e outro, entre um trabalho mais simples e outro mais complexo etc., a perda de tais qualificações pode levar os trabalhadores por ela afetados a não mais conseguir desempenhar tarefas de maior complexidade, ou a não conseguir desempenhá-las com a produtividade anterior ao desemprego. Resulta daí maior tendência a serem preteridos nas entrevistas laborais, levando a um círculo vicioso: quanto mais tempo no desemprego, maior é a tendência a perder qualificações; quanto maior a perda de qualificações, maior é a degradação e depreciação da força de trabalho; quanto mais degradada e depreciada fica a força de trabalho, maiores são as chances de se passar mais tempo no desemprego. Isto guarda relação com a primeira, a terceira e a quinta respostas à pesquisa.
Em segundo lugar, porque a pressão da sobrevivência leva trabalhadores – afetados ou não pelo círculo vicioso da perda de qualificações profissionais – a aceitarem salários menores para desempenhar as mesmas funções, ou a aceitarem trabalhos mais simples de remuneração mais baixa. Mesmo temporária, pois pode tratar-se de estratégia provisória de sobrevivência enquanto não se consegue recolocação profissional no mesmo patamar anterior, enquanto dura tal estratégia a força de trabalho é depreciada. Se a situação for de aceitação de um trabalho mais simples em caráter provisório, a isto pode se somar a perda de qualificações por falta de prática.
Repressão econômica, conjuntura política e luta de classes
Ao que tudo indica, seguirão em curso as formas econômicas de repressão em 2018, e ainda por um longo período. Um exemplo basta para ilustrar a questão.
A Carta da Conjuntura publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) na edição de maio da revista Conjuntura Econômica não dá margem a dúvidas. Com base em cálculos da economista Vilma Pinto, pesquisadora da FGV/IBRE, as despesas federais discricionárias, que incluem os gastos com a máquina pública (excluindo salários) e os investimentos, terão de ser reduzidas para R$ 46 bilhões em 2020, o que é – nas palavras da revista – muito abaixo do mínimo necessário para evitar a paralisação do governo, estimado como superior a R$ 100 bilhões.
 Ainda segundo o IBRE/FGV, um tema conexo e particularmente espinhoso é a definição de uma nova lei de reajuste do salário mínimo, algo que deve ser realizado em 2019. A nova regra entra em vigência no início de 2020 e vale até 2023. O salário mínimo é a renda mensal de cerca de 30 milhões de trabalhadores do setor privado e titulares de benefícios previdenciários e sociais, segundo Fernando Holanda Barbosa Filho, pesquisador da FGV/IBRE. Economistas têm vindo a público defender que o atual modelo de reajustes – uma espécie de gatilho salarial baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e no PIB de dois anos anteriores – precisa ser revisado para contemplar apenas a inflação.
Ainda segundo o IBRE/FGV, um tema conexo e particularmente espinhoso é a definição de uma nova lei de reajuste do salário mínimo, algo que deve ser realizado em 2019. A nova regra entra em vigência no início de 2020 e vale até 2023. O salário mínimo é a renda mensal de cerca de 30 milhões de trabalhadores do setor privado e titulares de benefícios previdenciários e sociais, segundo Fernando Holanda Barbosa Filho, pesquisador da FGV/IBRE. Economistas têm vindo a público defender que o atual modelo de reajustes – uma espécie de gatilho salarial baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e no PIB de dois anos anteriores – precisa ser revisado para contemplar apenas a inflação.
Se na luta de classes não há situações em que todos saiam ganhando, a gestão da economia pode, sim, gerar situações em que todos saiam perdendo. Como se tentou evidenciar até o momento, entretanto, a análise dos diferentes impactos de uma crise econômica sobre classes sociais distintas, e também sobre frações destas classes, demonstra que uns podem perder mais que outros – e estes são, ao fim e ao cabo, os ganhadores. É este o fundamento da repressão econômica aos trabalhadores durante uma crise econômica.
Se é impossível formular uma teoria geral das crises econômicas no capitalismo, pois elas decorrem de problemas conjunturais do funcionamento sempre desequilibrado deste modo de produção, por outro lado o receituário encontrado pelos capitalistas para aprofundar a exploração dos trabalhadores é bem conhecido. Alguns dos instrumentos clássicos – há outros, pois o repertório é muito vasto – foram aplicados pelos capitalistas atuantes na economia brasileira para safar-se dos problemas que eles próprios criaram.
 Numa situação tal como a descrita de forma muito sumária pelos dados econômicos tratados até o momento, a crise estourou em 2014, mas seus sinais e causas apareciam esporadicamente desde alguns anos antes, como reconheceram membros destacados do governo em suas autocríticas de 2015 (ver algumas aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui). O que evidencia outro aspecto da repressão econômica contra os trabalhadores: ela acontece independentemente do espectro político de quem a aplica. A intensidade e a forma como blocos diferentes de capitalistas a aplicam guarda mais relação com os setores a serem beneficiados pelos mecanismos repressivos da economia que com qualquer simpatia pelos trabalhadores. Os métodos descritos até aqui fazem parte de uma estratégia apropriada para situações como a atual, onde os capitalistas não conseguem aumentar a produtividade de forma sustentada para fazer frente às reivindicações de trabalhadores; em contexto mais favorável, como se viu mais intensamente durante o período 2006-2012 e em menor ritmo até 2014 pelo menos, os meios são outros, e no Passa Palavra não faltam comentários e análises sobre eles.
Numa situação tal como a descrita de forma muito sumária pelos dados econômicos tratados até o momento, a crise estourou em 2014, mas seus sinais e causas apareciam esporadicamente desde alguns anos antes, como reconheceram membros destacados do governo em suas autocríticas de 2015 (ver algumas aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui). O que evidencia outro aspecto da repressão econômica contra os trabalhadores: ela acontece independentemente do espectro político de quem a aplica. A intensidade e a forma como blocos diferentes de capitalistas a aplicam guarda mais relação com os setores a serem beneficiados pelos mecanismos repressivos da economia que com qualquer simpatia pelos trabalhadores. Os métodos descritos até aqui fazem parte de uma estratégia apropriada para situações como a atual, onde os capitalistas não conseguem aumentar a produtividade de forma sustentada para fazer frente às reivindicações de trabalhadores; em contexto mais favorável, como se viu mais intensamente durante o período 2006-2012 e em menor ritmo até 2014 pelo menos, os meios são outros, e no Passa Palavra não faltam comentários e análises sobre eles.
As formas econômicas de repressão contra os trabalhadores geram ainda outros resultados, às vezes inesperados. No caso brasileiro recente, tais resultados acumularam-se com outras tendências históricas e criaram as bases para a ascensão de práticas e movimentos de extrema-direita. É o que se verá a seguir.
Este artigo é o quinto de uma série. Leia as demais partes clicando aqui.







