Por Passa Palavra
Um leitor colocou um comentário num dos artigos do Passa Palavra dizendo: «[…] eu apoio completamente a luta de todos os trabalhadores, seja no país que for, inclusive as reivindicações desses trabalhadores em Manesar, Índia. Mas observem a seguinte situação. Estamos no meio de uma pandemia, e o isolamento social é fundamental para combatê-la. […] Assim, reparem no vídeo que os trabalhadores estão todos aglomerados, bem juntos uns dos outros, e vários colocando a máscara no queixo ao invés de no nariz e boca. Dito isso, gostaria de perguntar: neste momento tão grave de pandemia, que outras formas de atuação seriam mais adequadas, de maneira que mantenhamos o isolamento social e, ao mesmo tempo, lutemos pelos nossos direitos? Formas de cyber-militância, por exemplo, envolvendo sabotagem a empresas pela via do hackeamento, e esse tipo de coisa? Se sim, isso demandaria de nós que aprendêssemos a manusear os computadores muito mais do que a média da população sabe, que soubéssemos programar, esse tipo de coisa. Ora, o futuro do capitalismo, me parece, é este mesmo, e a COVID apenas acelerou esse processo, penso eu: o controle da produção por parte dos trabalhadores pela via da informática, e o controle do tempo de trabalho dos trabalhadores por parte dos gestores e burgueses pela mesma via (inclusive o controle político), e nesse sentido nunca é demais ressaltar que o perigo mora nas redes.»
O problema levantado pelo nosso leitor surge agora com uma importância urgente, em todo o mundo, devido à pandemia. Mas a questão já se colocava antes e continuará a colocar-se depois, causada pela tendência à remodelação das relações de trabalho e à transformação do que se entende por local de trabalho. Recuemos um pouco a perspectiva, para analisarmos melhor a situação atual.
Nas fases iniciais do capitalismo, quando muitos elementos tecnológicos prosseguiam os antigos métodos de fabricação artesanais e o sistema das pequenas oficinas, os operários tinham um certo controle sobre os meios de trabalho, e este controle era completo quando se tratava dos assalariados agrícolas. Nestas circunstâncias o ritmo da produção devia ser imposto a partir do exterior, pela ação de vigilantes e fiscais, o que não só era pouco eficaz como acarretava custos adicionais. Foi para evitar esta situação que Taylor inventou o método de fracionamento do trabalho que ficou conhecido como taylorismo, e os grandes empresários industriais conjugaram esse método com a fabricação em série, criando assim o sistema que se tornou conhecido como fordismo. Os trabalhadores ficavam completamente desprovidos de controle sobre os instrumentos de trabalho e o ritmo da produção era ditado pelo ritmo das máquinas. O processo de exploração atingiu assim um novo patamar.
E foi nesta nova situação que os trabalhadores se viram na necessidade de reinventar as suas formas de luta. Por um lado, criaram sindicatos, cujos objetivos e modelo de organização estavam e permanecem estreitamente associados ao taylorismo. Por outro lado, nas silenciosas resistências cotidianas, aprenderam a detectar as falhas do sistema e arranjaram formas de controlar certas operações das máquinas, em vez de serem controlados por elas. Os administradores das empresas aperceberam-se disso, evidentemente, e por sua vez arranjaram maneira de detectar essas operações informais e de as inserir no sistema formal de trabalho. Durante várias décadas prosseguiu esta dialética de ruptura por parte dos trabalhadores e de reabsorção por parte dos capitalistas.
Até que nas décadas de 1960 e 1970 aconteceu algo que comprometeu a continuidade dessa dialética — surgiram lutas em que os trabalhadores não só ocuparam as fábricas, em alguns casos as lojas, como se mostraram capazes de prosseguir eles mesmos a atividade econômica, sem para isso necessitarem da classe de gestores.

Este novo tipo de lutas mostrou várias coisas aos capitalistas. Antes de mais, confirmou o risco de se concentrar um elevado número de trabalhadores nos mesmos espaços físicos. Além disso, mostrou de maneira incontroversa que os trabalhadores tinham aprendido a evitar as consequências do fracionamento taylorista das relações de trabalho e que se mostravam capazes de impor às máquinas o seu próprio ritmo, em vez de obedecer ao delas. E mostrou ainda que, contrariamente aos postulados do fordismo, os trabalhadores não eram apenas capazes de executar gestos manuais, sem precisarem de pensar, mas eram igualmente capazes não só de pensar, mas de organizar o trabalho na empresa.
Este novo patamar de lutas generalizou-se por todo o mundo, embora com especificidades distintas. E, já que os trabalhadores não conseguiram então destruir o capitalismo, foram os capitalistas quem conseguiu recuperar os grandes temas das lutas das décadas de 1960 e 1970 e a partir deles repensar as modalidades da exploração. Não inventaram nada a partir do zero. Isso nunca sucede nas lutas sociais. Os capitalistas aproveitaram uma experiência de produção que existia já no Japão de forma incipiente, e a partir daí desenvolveram rapidamente o sistema que ficou conhecido como toyotismo.
Em primeiro lugar, o toyotismo recorreu à eletrônica e aos computadores para evitar a concentração de um elevado número de trabalhadores nos mesmos espaços. O termo técnico economias de escala significa simplesmente que, dentro de certos limites, é mais rentável efetuar um grande número de operações num conjunto único do que adicionar operações concluídas separadamente. Foi para aproveitar as economias de escala sustentadas pela capacidade de cooperação da força de trabalho que o fordismo concentrou um número crescente de trabalhadores em estabelecimentos cada vez mais amplos. Ora, a introdução da eletrônica nas máquinas, em conjunto com as redes formadas por computadores interligados, permite dispersar fisicamente os trabalhadores, sem que isto prejudique a concentração das suas capacidades de cooperação. Pela primeira vez na história as economias de escala deixaram de requerer a reunião dos trabalhadores nos mesmos espaços físicos, bastando para isso a sua concentração nos mesmos espaços virtuais. Esta reação tecnológica do capitalismo teve consequências sociais imediatas, ditando o definhamento das estruturas sindicais, que não conseguiram adaptar-se ao novo patamar tecnológico.
Em segundo lugar, os administradores de empresa entenderam que, estando o fracionamento taylorista das operações de trabalho superado enquanto instrumento de controle do ritmo da produção, era necessário que esse controle decorresse de conjuntos de maquinaria mais amplos, a cargo não de trabalhadores individuais, mas de equipes de trabalho. O toyotismo notabilizou-se pelo desenvolvimento da noção de equipes de trabalho e pela sua integração recíproca, que tem como base tecnológica as redes de computadores. Na sequência deste processo, a subcontratação criou sistemas de empresas interligadas, cada uma responsável pela elaboração de cada fase ou componente na preparação de um dado produto final, e para que o sistema funcione sem hiatos é necessário um controle de tempo muito rigoroso na passagem dos bens nas fases intermediárias entre as sucessivas empresas de uma mesma cadeia ou uma mesma rede. É este o fundamento do método de just in time, que elevou o controle dos ritmos de trabalho para patamares muito distantes não só dos trabalhadores individuais, mas mesmo das equipes de trabalho.
Em terceiro lugar, o fato de os trabalhadores se terem revelado, nas lutas práticas, capazes de pensar e de organizar os processos de trabalho, sem no entanto terem sido capazes de destruir o capitalismo, levou os capitalistas a perceber que tinham ali um novo campo de exploração. Não só a organização toyotista das empresas pressupõe que os trabalhadores sejam intelectualmente motivados para resolver problemas decorrentes dos seus processos de trabalho, como ainda o toyotismo estimula os trabalhadores a dar sugestões. Desde as citações que enaltecem a vaidade individual, passando pelos prêmios atribuídos às melhores sugestões, até à noção de que estas sugestões podem substituir as pressões decorrentes dos conflitos sociais, tudo isto constitui modos de exploração da capacidade intelectual dos trabalhadores. Nunca nos cansamos neste site de repetir como é errado o milenarismo de toda essa gente que anuncia o fim do capitalismo ao virar da próxima esquina ou que, pior ainda, fala de capitais fictícios e de lucros fictícios, como se as classes sociais e as pessoas pudessem alimentar-se de ficções. Essas miragens geradas pelo desespero aparecem mais ridículas ainda quando vemos que com a exploração da capacidade intelectual dos trabalhadores, e não só da sua capacidade muscular, o capitalismo abriu um campo de acumulação e valorização cujos limites não se consegue ainda imaginar.
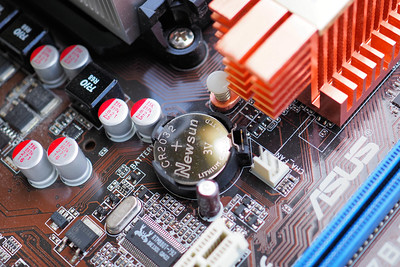
Estes três aspectos do toyotismo, através dos quais o capitalismo recuperou em seu benefício os grandes temas teóricos e práticos da vaga de lutas das décadas de 1960 e 1970, têm como infra-estrutura tecnológica e como meio de realização as redes de computadores e a internet. É certo que continuam vigentes, em todos os ramos de atividade econômica e em todas as regiões do mundo, os antigos sistemas de produção herdados do taylorismo e do fordismo. Mas não é isso que importa. Como sempre na história, é nos novos processos que convém concentrar as atenções, porque são eles que determinam o rumo do desenvolvimento. E estes novos processos têm como base o toyotismo, como meio de ação os computadores e a internet e como local de ação os espaços virtuais.
Nos anos recentes, esses novos processos mostraram um duplo desenvolvimento. No que diz respeito ao relacionamento entre capitalistas e trabalhadores, a uberização constitui uma forma de levar o toyotismo às suas consequências lógicas, tanto pela anulação da necessidade de concentração física da força de trabalho como pelo recurso a aspectos exteriores ao âmbito de controle dos trabalhadores para impor o ritmo das operações de trabalho. No que diz respeito ao relacionamento entre os trabalhadores, as redes sociais extremaram também as consequências lógicas do toyotismo, transportando para espaços virtuais aspectos decisivos da vida social, pessoal e até afetiva dos trabalhadores. Aliás, gerou-se aqui um círculo vicioso, do qual os capitalistas se aproveitam, porque quanto mais os trabalhadores se inter-relacionarem mediante as redes sociais e quanto mais passarem os ócios jogando nos seus computadores pessoais, tanto mais destros se tornam para manusear os computadores quando estiverem trabalhando para os patrões. O ócio deixou de ser um simples descanso e passou a ser parte integrante dos processos de qualificação da força de trabalho. Deste modo a exploração aprofunda-se, porque os capitalistas aproveitam diretamente do ócio dos trabalhadores.
Era esta a situação existente nas vésperas da pandemia, e a covid-19 limitou-se a amplificá-la e a chamar a nossa atenção para alguns problemas cruciais.
Desde cedo, na verdade desde os primeiros dias, o Passa Palavra tem alertado, num grande número de artigos (por exemplo, aqui e aqui), para a necessidade de se cumprir as regras sanitárias e obedecer ao distanciamento social e para a urgência de conceber formas de luta que não ponham em risco a saúde dos trabalhadores. E desde cedo também surgiram comentários de leitores acusando-nos de defender a interrupção das lutas durante a pandemia. Esses comentários não nos incomodaram e já esperávamos alguma coisa nesse sentido. Aliás, as acusações dizem mais sobre os comentadores do que sobre o Passa Palavra, porque refletem o conservadorismo das organizações, incapazes de enxergar o limite de suas agendas pré-estabelecidas.
Além disso, quem defende que o sistema econômico atual é composto por capital fictício e vive de lucros fictícios não consegue também entender que os espaços virtuais não são fictícios, mas muito reais, e que é nesses espaços virtuais que devem ser travadas as novas lutas, adequadas às novas modalidades de exploração. É esta a questão.
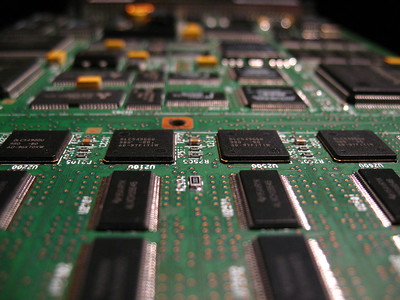
E a questão torna-se mais urgente ainda quando sabemos que os espaços virtuais são também, e simultaneamente, espaços de controle. É um fato sem precedentes na história da humanidade que um mesmo instrumento, o computador, sirva para o trabalho, o ócio e a fiscalização. Ora, a fiscalização atingiu níveis ainda há pouco tempo impensáveis, devido à promoção ativa das redes sociais enquanto meios de difusão de futilidades. Os trabalhadores competem entre si na divulgação dos detalhes mais irrelevantes, e mesmo mais íntimos, da sua vida, permitindo que não só as agências de publicidade, mas também as polícias, tracem um perfil detalhado de cada indivíduo e, graças a esse perfil, possam prever com rigor os seus desejos futuros e a sua atuação futura. Mesmo pessoas que se consideram militantes políticos não se coíbem de proclamar nas redes sociais coisas sobre as quais deveriam ser muito discretos. O velho espião da esquina foi substituído pelos algoritmos — com incomensurável vantagem para o capitalismo.
Então, não haverá solução? Se o computador enquanto instrumento de trabalho e de ócio e o espaço virtual enquanto lugar de trabalho e de ócio são ao mesmo tempo instrumentos e espaços de fiscalização, o que resta para as lutas?
Num dos principais museus de artes aplicadas, o Victoria and Albert, em Londres, existe uma seção inteiramente dedicada às fechaduras, reunindo desde exemplares reconstituídos a partir dos vestígios arqueológicos de domicílios das épocas mais remotas do neolítico até às fechaduras mais recentes. É que os cérebros que inventaram as fechaduras são iguais aos cérebros que descobriram a maneira de violar as fechaduras. Trata-se de uma dialética sem fim. A cada nova fechadura surge uma nova intromissão, que suscita uma nova fechadura, a qual estimula uma nova violação.
Na época do taylorismo e do fordismo os trabalhadores foram pouco a pouco aprendendo a superar condições que de início e à primeira vista pareciam insuperáveis. E foi porque eles conseguiram superar essas condições que o capitalismo se viu obrigado a criar condições novas. Como podemos contribuir, agora, para a renovação do processo?
Nestes anos de pandemia, o ponto de partida necessário é a realização de lutas que ataquem o capitalismo sem atacar a saúde dos trabalhadores. E para isso é imprescindível uma coisa — inovar. No que nos diz respeito, desde o início da pandemia que procuramos noticiar esses esforços militantes. Em março de 2020, logo que o coronavírus chegou em solo brasileiro, demos relevo à luta dos operadores de call center contra a diretriz de trabalho presencial. Vários meses depois seria consenso entre os cientistas que o coronavírus é transmitido principalmente por vias aéreas e se alastra em ambientes fechados e com pouca ou nenhuma ventilação. Naquela ocasião ainda se apostava em uma greve sanitária, bem antes de ressoar entre grande parte dos trabalhadores brasileiros o discurso antilockdown.
Naquele mesmo mês de março de 2020, noticiámos que entregadores de aplicativo paralisavam seus serviços reivindicando EPIs para trabalharem na linha de frente. Este caso se inseriu em uma agenda de paralisações em que a categoria já tinha outras pautas, como o aumento das taxas e o fim dos bloqueios. Será que o fato de os trabalhadores encontrarem na segurança do seu trabalho uma pauta política significa que interromperam as outras reivindicações? Talvez isto faça refletir quem imagina que a própria dinâmica solidária dos trabalhadores não tem resultado político.
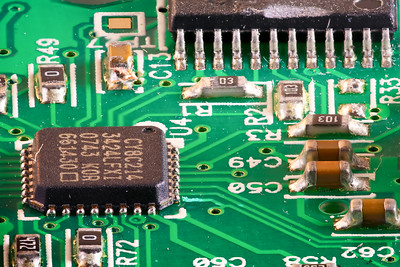
A pandemia também reacendeu a preocupação com os trabalhadores do setor da saúde, já muito prejudicados pela precarização e pela estrutura deficiente dos hospitais. Onde não havia transmissão comunitária do vírus, trabalhadores de diversos segmentos junto da população de bairros mais vulneráveis organizaram barreiras sanitárias quando o poder público se negava a erguê-las. Camaradas relataram que há quem se considere anticapitalista e, no entanto, acuse esses militantes de serem agentes de uma terceirização do Estado. Como se a experiência de auto-organização não fosse ela mesma uma politização!
Noticiamos também e procuramos refletir sobre o ensino à distância. Para não escapar à regra, fomos desta vez acusados de reforçar a precarização que resultaria da adesão a essa forma de ensino. Por coincidência ou não, inúmeros sindicatos e grupos de trabalhadores da educação passaram a aceitar o modelo remoto como contrapartida à reabertura precoce das escolas no momento mais crucial de explosão de casos de covid-19 no Brasil.
Entrevistamos ainda coletivos envolvidos na luta pelo Auxílio Emergencial, que ocorreu por fora das estruturas sindicais e que em 2020 deram um fôlego a inúmeras famílias que perderam suas rendas e perdiam a luta mais importante de suas vidas — contra a fome.
Inevitavelmente, todas estas lutas em que os trabalhadores têm de inventar formas de substituição do contato físico os conduzirão a utilizar os espaços virtuais. Não com bandeiras desfraldadas ao vento, mas com discrição. Não procurando resolver tudo de uma só vez, mas passo a passo, com pequenas astúcias. Não é uma tarefa de que possam encarregar-se, nem de que saibam encarregar-se, as assumidas vanguardas que gostam de dar nas vistas. É uma tarefa a ser levada a cabo, pacientemente e persistentemente, pela classe trabalhadora, na multiplicidade que a compõe. São as ações silenciosas daquela que Karl Marx denominou velha toupeira.
As fotos que ilustram são de Alliyah Turpen, Illuminated, Eclectic Jack, Steve Santore e Aron n Alisons.


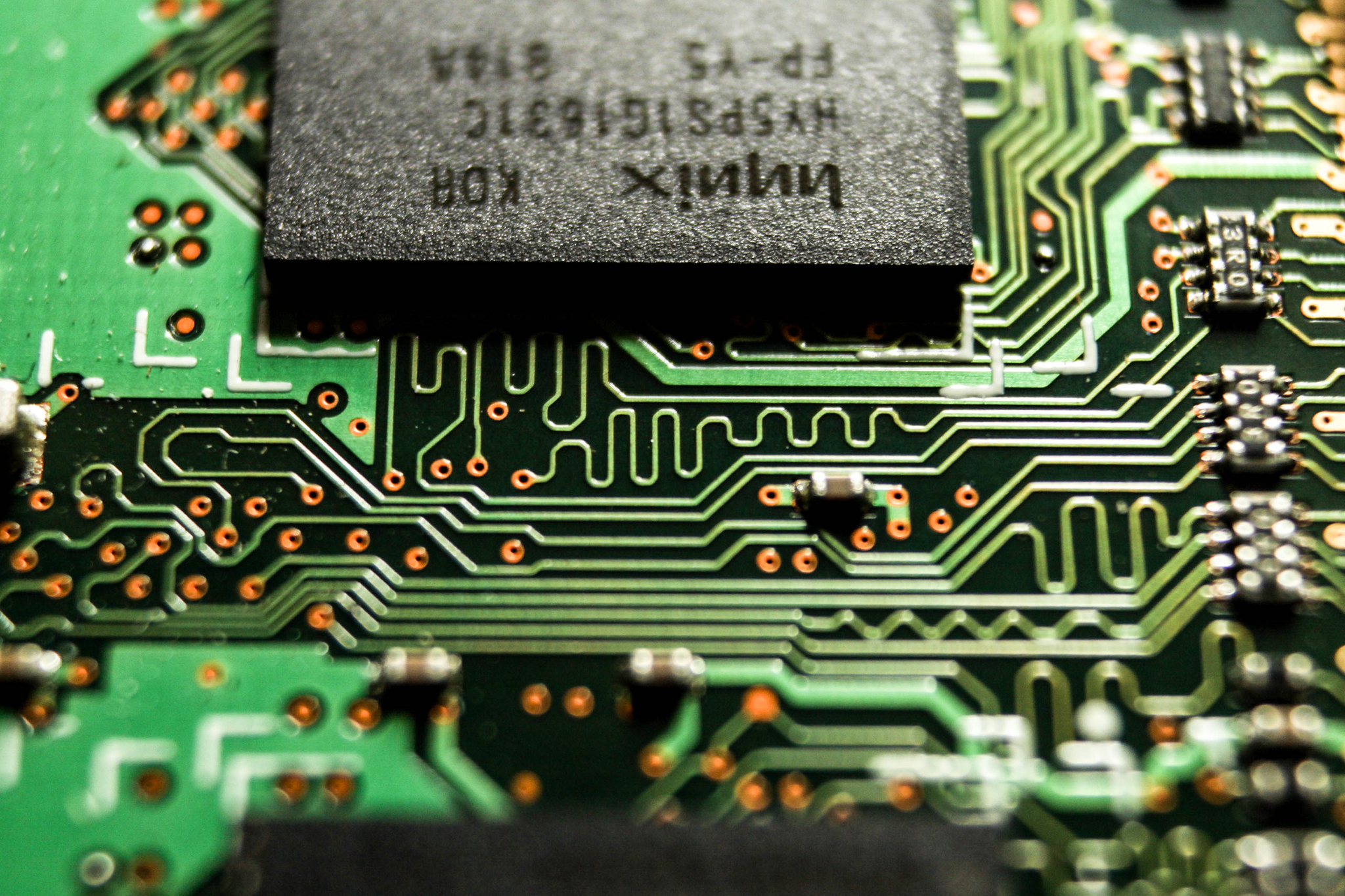





Não há comentários aqui porque todos concordam, ou é porque não sabem o que dizer? O artigo mexe em problemas importantes, ninguém vai dizer nada? Não tem ninguém mexendo com ensino remoto para falar? Não tem ninguém de saúde para dar uma palavrinha só?
é mais um testemunho que uma crítica: participei de uma organização revolucionária na qual eu e mais um outro camarada vivíamos a insistir na questão da segurança dentro das redes – éramos contra a utilização do whatsapp como meio de debate e discussão central das células, sugerindo outros aplicativos, por exemplo. um dos dirigentes (mais novo que o outro camarada) vivia fazendo piada de nosso “secretismo”. acho de uma ingenuidade (ou burocratismo preguiçoso) uma organização que se pretende revolucionária ignorar esses aspectos mínimos, mas fica aí o mau exemplo. saí logo depois do grupo.
paradoxalmente, à mesma época, atuava junto a um coletivo (mal poderia se chamar assim na verdade mas enfim). além do progressismo, nada unia as pessoas do grupo, mas havia maior preocupação quanto às políticas de segurança – inclusive com a implementação de recomendações que apareceram depois aqui no passapalavra. nem sempre a vanguarda está lá pra frente…
De tempos para cá venho insistindo junto de outros camaradas de que uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Não há empecilho para que aqueles que possuem acordos estratégicos tomem providências para manter suas conversas em segurança. Não é recomendável, por motivos óbvios, salvar atas de reuniões em Drives do Google, armazenamento do celular, etc. Eu recomendo o uso do ferramentas do Riseup para estes fins. Fóruns fechados são essenciais para organizações e movimentos conseguirem organizar os assuntos conforme as demandas que aparecem e sem embolar tudo. As vantagens são muitas. Quem é acostumado a se organizar em WhatsApp, sabe muito bem que as Atas “se perdem”; as discussões importantes são atropeladas por algum relato de última hora; algum informe importante sempre se perde, etc. Utilizar plataformas que permitam caracterizar as discussões de um dado coletivo pode prolongar a vida útil de um grupo de camaradas.
Então saímos do WhatsApp?
— Sim e não.
Como bem colocado neste artigo aqui: https://passapalavra.info/2019/12/129375/ a fé (não na segurança, mas) na praticidade do zap vem dissolvendo coletivos aos montes. Devemos refletir, sim, sobre o momento em que as lutas se apresentam de tal maneira que devemos intervir de forma dinâmica, rápida. Mas para isso já existe o Signal. Eu não acho que a “classe trabalhadora não entende o uso de aplicativos criptografados”, eu acho que os militantes na maioria das vezes são paternalistas demais e acham que vai pegar mal sugerir a camaradas o uso de aplicativos seguros para comunicação. Mas mesmo o Signal está suscetível aos “voyeurs das lutas”, os “de saco cheio” e os “ingênuos”. É preciso coordenar o compromisso com a manutenção e organização de um coletivo com o dinamismo necessário para se conseguir intervir nas lutas.
Agora remetendo ao texto, acho que o problema vai acabar chegando no trato dos militantes com estas redes. Se antes os militantes usavam o presencial + zap, hoje só usam o zap. Viraram todos voyeurs das lutas. Aqueles que acostumaram-se apenas ao presencial e não deixavam nada registrado em lugar nenhum podem ter sofrido duras lições da pandemia do coronavírus. Enfim, o próprio conteúdo das conversas também deve ser um termômetro para pensar em quais meios transmitir determinada ideia. O que precisamos agora é trazer a conspiração contra os patrões para o século 21.