Por Sódio
3.
Vamos ao primeiro ponto cego, o da “volta à natureza” que não existe mais.
Ressalvadas as enormes e pouco povoadas áreas da selva amazônica e partes do cerrado, os “sertões” brasileiros também são bastante urbanizados. Quase não há mais o estilo de vida rural, absolutamente rural, que certos defensores da “volta ao campo” defendem. Já nos anos 1980 Milton Santos, que com certeza entendia do que falava, dizia não existir mais no Brasil algo como um “rural” separado de um “urbano”, mas sim cidades agrícolas, dependentes da economia agrária, e sobrevivências rurais nas metrópoles (p. ex., minha vizinha do fundo que cria galinhas, ou as hortas comunitárias em certos bairros de trabalhadores).
Especialmente nas cidades ligadas ao agronegócio, e mesmo naquelas que estão nas últimas pontas da rede urbana brasileira, encontram-se já os principais serviços urbanos (esgotamento sanitário, pavimentação, iluminação pública, SUS, INSS, sindicatos etc.); é muito forte a tendência à substituição dos veículos de tração animal por veículos motorizados, especialmente motos e camionetes, reservados aqueles primeiros a eventos “culturais” específicos (vaquejadas, festas do carro do boi etc.); poderia continuar com vários exemplos, mas a tendência está bem demonstrada.
Não há somente a chegada destes elementos de urbanidade, como há fortíssima demanda dos moradores destas cidades por estes serviços, pautada inclusive por movimentos sociais ligados à reforma agrária. Por sinal, mesmo nos bastiões da agroecologia ninguém recusa tecnologias como eletrificação rural, sinal de celular, internet rural, smartphones, veículos motorizados, TV a satélite e frigoríficos; a agroecologia, a produção de orgânicos, está muito restrita ao campo das técnicas de produção, sendo absolutamente excepcionais os casos em que essa “vida com a natureza” implica em alguma recusa das tecnologias de ponta.
A “soberania”, nestes casos, mantém-se restrita ao compartilhamento de sementes crioulas (ou seja, sem a esterilização e demais modificações genéticas laboratoriais necessárias ao uso de certos agrotóxicos), à produção de orgânicos (de inegável qualidade, mas com preço bem mais alto que os “industrializados”), e à participação em programas de escoamento da produção (como o Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE ou o Programa de Aquisição de Alimentos — PAA) que suavizam a baixa competitividade da agricultura familiar orgânica frente ao agronegócio. Em todos os demais aspectos da vida, segue-se a rotina de qualquer cidadão.
É neste “rural” altamente complexo, onde um capitalismo de pequenos produtores rurais se desenvolve em meio aos assentamentos da reforma agrária, que certa militância parece querer se integrar, quaisquer que sejam os discursos sobre “natureza”, “terra” e “território”. Não se deve, portanto, misturar essa ideologia da “volta à natureza” com aquela professada, por exemplo, pela ecologia profunda, ou pelos anarcoprimitivistas. Cumprem as três a mesma tarefa de ocultação, mas a realidade prática a que remetem é ligeiramente diferente: nas duas últimas o que se vê é um retorno a formas pré-capitalistas de vida social, “ilhas” “libertadas” completamente cercadas de capitalismo por todos os lados, mas na primeira a integração com o capitalismo é total.
Deve-se adicionar ainda um último fator a esta questão.
O comentador que assina como arkx Brasil insiste no fato, aliás inegável, de a população brasileira ter migrado maciçamente para as cidades desde pelo menos os anos 1940. Apresenta tal fato, inegável, como “prova” da “urbanização forçada” da população brasileira.
O recorte temporal escolhido é muito conveniente, porque só no censo demográfico brasileiro de 1940 se pôde avaliar o impacto da industrialização de base implementada pelo regime varguista. Entretanto, as estatísticas brasileiras demonstram existir migração dos campos para as cidades desde pelo menos 1900 ou mesmo antes, pois com a abolição da escravatura verificou-se que migrações internas provocaram crescimento populacional nas capitais (às quais se restringiam as pesquisas censitárias); este fato verifica-se facilmente analisando a taxa de urbanização verificada nos censos populacionais brasileiros de 1872, 1890, 1900 e 1920. Desde antes da industrialização maciça, portanto, existe migração do campo para as cidades; a industrialização varguista intensificou a tendência, mas não inventou nada.
Aliás, há ainda outra tendência demográfica gritante que o comentador, muito convenientemente, omite: desde o censo demográfico brasileiro de 1980 pelo menos, é nas cidades de pequeno e médio porte que se verificam sustentadamente as maiores taxas de crescimento demográfico, não nas grandes metrópoles, cujas taxas de crescimento demográfico mostram-se menores a cada novo censo, ao ponto de representarem quase uma estagnação populacional. Parece, portanto, que este comentador quer dar ares “revolucionários” a uma tendência demográfica bem conhecida dos geógrafos, mas atribuída por eles ao simples fato de que as pessoas querem encontrar nessas cidades de menor porte as mesmas comodidades e serviços das grandes metrópoles, sem ter de arcar com os problemas que lhe são próprios.
Quero adicionar algo ao contributo de Estrôncio acerca da “volta ao campo”, para arrematar a questão neste particular. Estrôncio joga na conta do maoísmo o verdadeiro fascínio pelas “camadas mais miseráveis da mais-valia absoluta”, pela “busca da mais-valia absolutíssima” que leva militantes a centrar sua militância “exclusivamente nas camadas mais pobres e menos qualificadas da classe trabalhadora”.

Como o Brasil está no mundo, mas não se dissolve completamente no mundo, há um fator diferencial a se considerar na construção desses mitos por trás da “recampesinação” — neologismo tão feio que prefiro continuar a chamar o fenômeno pela expressão “volta ao campo” ou similares. Este fator é a fortíssima influência do cristianismo, e em especial do catolicismo, sobre a esquerda brasileira (e latinoamericana), muito maior que a influência maoísta. Se a velha esquerda comunista no Brasil devia muito de suas práticas ao tenentismo e aos militares, a esquerda surgida de meados dos anos 1970 em diante no Brasil tem inegável raiz cristã e católica. O problema geral, neste caso, só aparece quando se compara muitos problemas específicos.
Se a absorção da maioria da juventude católica da Ação Popular — AP pelo PCdoB maoísta dos anos 1970, feita por ordens de Pequim, não é suficiente para dizer algo sobre essa relação, recomendo procurar o livro O partido de Deus, de Luís Mir; se o autor erra e exagera muito ao descrever o PT como mero instrumento político da CNBB, o decidido apoio da CNBB à formação do PT somado ao fato de o grosso dos primeiros diretórios do PT ter sido formado a partir de pastorais e de CEBs, sintomatizam o peso que o apego da teologia da libertação ao “pobre”, e à identificação do “trabalhador” com o “pobre”, tiveram sobre a formação da esquerda brasileira. Isso, e as muitas pastorais sociais espalhadas país adentro, que graças à estrutura das dioceses e paróquias chegam a lugares onde a esquerda laica nunca colocou os pés.
Some-se a isso a extrema deficiência do sistema educacional brasileiro, que não consegue desenvolver entre os estudantes o tipo de leitura científica da realidade que está na base da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e portanto deixa a porta aberta para explicações místicas e mágicas da realidade, e temos um cenário perfeito para o desenvolvimento do tipo de concepções de “volta à natureza” que grassam em certos meios.
Comparadas as situações brasileira e europeia, vez que o Brasil está no mundo, diria que o maoísmo europeu e a esquerda católica são as matrizes estranhamente convergentes dessa substituição do “trabalhador” pelo “pobre”.
Quais as consequências dessa confusão entre “trabalhador” e “pobre”?
Tratamos de algumas em momentos anteriores, mas, retornando ao caso brasileiro, que conheço mais de perto, por meio dessa confusão o “pobre” é transformado numa espécie de “clientela”. Esses que foram até o “pobre” transformam-se, com o tempo, ora em intermediadores da relação entre esses “pobres” e o Estado, potencializando assim futuras carreiras político-eleitorais, ora em “lideranças” a serem reconhecidas entre seus pares (outras “lideranças”, jamais os outros “pobres”), ora em pequenos gestores.
Quando essa confusão se dá em conjunto com a “volta ao campo”, o que se tem aí é gente com todas as qualificações profissionais e intelectuais adquiridas nas cidades, onde há um meio social e tecnológico muito mais desenvolvido, radicando-se num ambiente onde este meio é tecnologicamente atrasado; o efeito é o mesmo, mas ultrapassa o âmbito dos movimentos sociais e alcança outras relações sociais travadas naqueles lugares.
4.
Vamos ao segundo ponto cego, o da “centralidade dos conflitos” em contraposição à centralidade do trabalho, em especial do trabalho associado, do trabalho em cooperação.
Num comentário cheio de frases sobre o “abstrato” e o “concreto”, sobre “negações abstratas” e “negações determinadas” — a indicar que se trata de comentador muito bem instruído no vocabulário filosófico do marxismo — lê-se uma cobrança: “Qual a forma de conflito de classe que vocês ‘imaginam’ como central hoje? Porque isto vocês não respondem (sequer esboçam). Vamos discutir nesses termos, ao invés de ficar jogando palavras vazias ao vento.” O caso é que, momentos antes, todo esse vocabulário é jogado fora numa só frase: “o que significa dizer que é necessário imaginar um novo mundo a partir de elementos do mundo atual?”
Esta última frase parece demonstrar que o comentarista conhece bem o vocabulário filosófico do marxismo, mas parou por aí. Lançou-se fora com aquela frase toda a análise de Marx sobre o caráter cada vez mais coletivo, cooperativo e associado do trabalho sob o capitalismo — que Marx, na verdade, deve a Proudhon sem creditá-lo adequadamente, e os dois devem-na a todo o movimento operário. São sumariamente eliminadas do horizonte as muitas e bem determinadas formas do trabalho coletivo, cooperativo e associado, estes “elementos do mundo atual” sobre os quais é possível e necessário “imaginar um novo mundo”.
Digamos que o comentário busque apenas indagar do coletivo do Passa Palavra, contra quem ele se dirige, qual conflito é “central” neste momento, no sentido de “mais importante”. Parece ser este o sentido de outra indagação: “O problema de vocês com os defensores da centralidade do conflito gira mais em torno da definição dos conflitos que interessam, atualmente, e também o modo de concebê-los etc”. Esta posição se conhece pelos editoriais assinados pelo coletivo; cabe concordar com eles ou não, mas não se pode dizer que o coletivo não se posicionou.
Digamos, para seguir no debate, que o comentário busque interpelar um público mais amplo, além do coletivo do Passa Palavra. Só então eu diria que a posição do comentarista é profundamente equivocada. Tal como certas organizações revolucionárias do passado, busca um conflito mais “central”, mais capaz de atingir o “coração” do capitalismo, para lá concentrar suas energias, ou seja, seus militantes e seus parcos recursos. Se essa tática podia fazer algum sentido até meados do século XX, quando a paralisação de dada fábrica ou setor tinha enorme influência na economia como um todo, no atual momento, em que a produção é intensamente globalizada e mesmo os lazeres são produzidos obedecendo a critérios capitalistas, esta busca por uma “centralidade” perdeu completamente o sentido; pode-se encontrar luta de classes tanto nas formas mais “clássicas” de produção capitalista quanto em outras que mesmo num passado recente dificilmente se enquadrariam aí. A posição revela-se ainda mais equivocada se abordada por um outro lado: se se entende como “central” uma luta que se deve ter como uma espécie de “modelo”, como as “formas avançadas de associação e sociabilidade” aludidas no comentário, trata-se da busca por uma transposição “mecanicista”, aliás “abstrata”, das condições de um lugar para outro, de um ramo de trabalho para o outro, de um tempo para o outro…
Tal posição da “centralidade do conflito” se revela ainda mais curiosa quando outro comentarista que com ela converge estabelece uma oposição entre tal postura e o que ele chama de “construção de bolhas de autocuidado” durante a pandemia nas cidades brasileiras. De onde vejo as coisas, esse autocuidado resultou de lutas.
Primeiro, houve lutas para que os capitalistas retardatários, numericamente majoritários, fechassem suas portas para respeitar as medidas de isolamento sanitário. A chamada “greve sanitária” foi apenas uma entre as muitas formas observadas naquele momento dos conflitos, que envolveram também absenteísmo, atestados médicos e, claro, ameaças de espancamento dos patrões em casos isolados. Houve momentos em que mesmo camelôs e ambulantes, premidos a trabalhar pela extrema necessidade, precisaram parar por força da redução acentuada no fluxo de pedestres. (Esse “conflito entre trabalhadores” merecerá comentário mais detalhado em algum momento.) Tais lutas pressionaram esses capitalistas retardatários, e também aqueles mais avançados, a transferir para o governo federal a responsabilidade pelo pagamento de salários e de auxílios.
Segundo, houve lutas para que o isolamento social em certas comunidades fosse respeitado. Em especial naquelas localidades cuja economia depende do turismo e do lazer alheio, houve o erguimento de barreiras sanitárias organizadas pela própria comunidade, que voltam a ser erguidas a cada nova onda de contaminação.
Terceiro, houve lutas dos trabalhadores dos chamados “serviços essenciais”, abrangendo desde o respeito às medidas sanitárias e demandas represadas por melhores condições de trabalho e de pagamento, até a paralisação total das atividades. As greves sanitárias dos trabalhadores do teleatendimento, dos metrôs e o “breque dos apps” devem ser vistas aqui, como parte das lutas que ora convergem em torno das questões sanitárias, ora aproveitam o momento para arrancar conquistas dos capitalistas. Com a pressão pelo retorno do ensino presencial, mesmo os trabalhadores da educação, que de início mostraram-se avessos à implementação do ensino remoto, hoje defendem abertamente as greves sanitárias — contando, talvez de modo inédito, com o apoio da maioria dos pais, especialmente em escolas públicas.
A preservação de suas vidas e saúde, como se vê, não ocorre apenas por meio dos cuidados individuais, de “bolhas de autocuidado”. Não há contradição alguma entre lutas anticapitalistas e lutas pela preservação das vidas e da saúde dos trabalhadores, em especial no contexto de epidemias e pandemias; há, isto sim, um contínuo que vai desde os cuidados com a saúde pessoal e familiar até lutas mais amplas. O que os defensores da “centralidade do conflito” perdem é exatamente este fio de Ariadne, e por isso circulam de luta em luta, de conflito em conflito, tentando “acendê-los”, “animá-los”, acirrá-los. Este fio só se recupera conhecendo intimamente a relação entre os conflitos mais abertos e aqueles mais silenciosos, onde se vão gestando as contradições que só parecem existir quando irrompem aquelas lutas mais pujantes. Sem tal fio condutor, há enorme risco nessa postura: tomar-se a si próprios não como alguns trabalhadores em meio a outros, mas como a “vanguarda proletária”. Mesmo por caminhos diversos, não faltam exemplos históricos do isolamento a que se condena essa “vanguarda proletária”, qualquer que seja o nome que se lhe dê: bordiguismo, a “esquerda comunista” francesa, o insurrecionarismo anarquista…
Se as “formas avançadas de associação e sociabilidade” algum dia existiram e decerto voltarão a existir, é porque precederam-nas outras, tão avançadas quanto, construídas nessas contradições aparentemente “menores” hoje a se espalhar e se intensificar em todos os setores por onde se imiscui a mercantilização da vida social. Tais condições só se observam adequadamente ao se analisar as formas de trabalho coletivo, cooperativo e associado existentes sob o capitalismo; por que formas os capitalistas extraem aí a mais-valia e acumulam capital; que conflitos emergem nos processos de trabalho em cada forma; e o que é necessário fazer para libertar da exploração capitalista o trabalho coletivo, cooperativo e associado executado pelos trabalhadores.
Não é questão de conhecer aprofundadamente cada ramo, cada processo de trabalho, cada forma de exploração, porque não se espera de ninguém conhecimento enciclopédico. Deve-se, entretanto, conhecer amiudadamente os processos de trabalho em que se está inserido para aí fortalecer as lutas anticapitalistas. Deve-se igualmente conhecer os processos de trabalho que contribuem para a reprodução da própria força de trabalho, e buscar solidarizar-se na prática com as lutas aí travadas.
É na “cozinha” dos conflitos em torno desse trabalho coletivo, cooperativo e associado que aparecem primeiro os elementos que nos permitem “imaginar um novo mundo a partir de elementos do mundo atual”, ou mesmo as “revoltas contra o Estado” que os defensores da “centralidade do conflito” enxergam lá onde sequer a questão foi pautada. Não é tarefa simples. Trabalho paciente, coletivo e continuado, exige perceber o que vai por trás das explosões de revolta; implicar-se na construção cotidiana daquelas “formas avançadas de associação e sociabilidade” lá onde elas são realmente gestadas; e ligá-las onde estiverem distantes.
Para arrematar a questão quanto aos defensores da “centralidade do conflito”, remeto primeiramente a uma afirmação de Argônio: “Existe de parte da esquerda uma ignorância dos mecanismos de exploração no capitalismo, e tendem a ver esses [os trabalhadores mais pobres] como os mais explorados e, portanto, como os mais potencialmente revolucionários.” Para essa “ignorância”, muito mais próxima dos defensores da “centralidade do conflito” que dos defensores da “volta à natureza”, convergem bordiguismo, “comunismo de esquerda”, maoísmo europeu, esquerda católica, confusão entre classes sociais e poder de consumo e, além disso, puro voluntarismo, ou seja, a perspectiva da “ação pela ação” sem considerações de maior envergadura sobre o sentido desta ação.
Qualquer ação coletiva um pouco mais radicalizada é entendida pelos setores influenciados por esta ideologia como uma “revolta contra o Estado”, e a ação mais violenta de setores inseridos em movimentos de massa é entendida como representativa do estado de ideias desses movimentos como um todo. Se há, realmente, uma tendência entre alguns dos mais jovens desses “pobres” “mais explorados” a ações mais radicais, qualquer nova situação que implique em alguma estabilização apaga muito rapidamente este “fogo” revolucionário. Conheço muitos que ao se casarem, ou ao terem filhos, passam a priorizar a sobrevivência em vez das “ações radicais”. Não por outra razão, especialmente em meio a movimentos sociais urbanos, grande número de jovens trabalhadores são envolvidos em todo o seu tempo livre por ações de formação política; além do objetivo evidente de transmitir conhecimentos aos mais jovens, seus pais não têm pudores de afirmar que concordavam que os jovens participassem dessas atividades para assim “ocupar o tempo” e, consequentemente, “não entrarem para o crime”, única atividade “radical” o suficiente para eles.
Os apontamentos de Hélio sobre o “esgotamento” da autogestão levam à seguinte reflexão: quando a autogestão é virada “para o grupo”, não para a sociedade, transforma-se em política de grupúsculos, em “coletivos”. Se até este ponto a crítica já foi feita, e não além daí, é porque talvez não estivessem dados outros elementos de que hoje dispomos em maior abundância: o alastramento das redes sociais por meio do barateamento dos smartphones, o surgimento dos “influenciadores militantes”, a redução dos debates políticos à “lacração” etc. Essa autogestão “virada para o grupo” é uma das razões para o sucesso dos “influenciadores militantes” que apresentam alguma leitura da realidade menos imediata: não dispondo das ferramentas teóricas e práticas para ler a realidade à sua volta, porque presos no narcisismo de grupúsculos, os militantes que anteriormente “acreditaram” na autogestão agora voltam-se para a “centralidade do conflito”, para as alternativas “comunitárias”, para o neostalinismo. Como se isso tudo fosse novidade, como se cada uma dessas “novidades” nunca houvesse ocorrido antes, como se essas “novas” coisas em que “acreditar” não tivessem História.
Pensando no que Selênio apresenta, o “medo” dos defensores da “centralidade do conflito” em “parecerem reformistas” é importante, mas secundário. Esse “medo” tem muito maior relevância para as psiques que para a caracterização de uma ação coletiva. O aspecto central da situação, a meu ver, é a tendência, apontada por Selênio, de viverem atrás dos setores “mais propensos a grandes revoltas”. É como se vivessem “testando” os limites da ação em cada setor, e consolidassem-se naqueles onde podem ter maior influência.
Neste mesmo sentido uma intervenção de Argônio, para a qual chamo a atenção: “Os grupos inseridos de forma mais precária na estrutura capitalista também não estão tão inseridos nas estruturas de cooptação, não existe uma atividade sindical tão forte ou uma troca tão grande entre trabalhadores e gestores. Isso deixa um espaço político para a atuação aí que não se encontra entre outros setores”. Lá onde há uma estrutura sindical consolidada e um grupo mais ou menos homogêneo de sindicalistas/gestores, é muito mais difícil atuar de forma revolucionária, pois, graças ao hábito de aguardar a iniciativa sindical para qualquer ação, há a tendência de a categoria voltar-se para o sindicato em momentos de crise, e pressionar um sindicato a adotar tal ou qual postura é enfrentar tanto os patrões quanto a própria burocracia sindical. Também eu atuei tentando contribuir com a formação de uma oposição sindical entre professores durante um tempo, e sei das dificuldades. Por sua vez, lá onde essa estrutura e esse grupo não estão consolidados, pode ser difícil mobilizar, mas há apenas um adversário consolidado (os patrões), não dois (patrões/burocracia sindical).
***
Descontados esses primeiros comentários, que dizem respeito às duas questões centrais em torno das quais o debate foi inicialmente travado, há ainda outras a tratar, como a dos “trabalhadores que exploram trabalhadores” e a da influência das universidades sobre a preferência de certos militantes pela atuação nos meios onde vigora a “mais-valia absolutíssima”, a serem vistas na semana que vem.
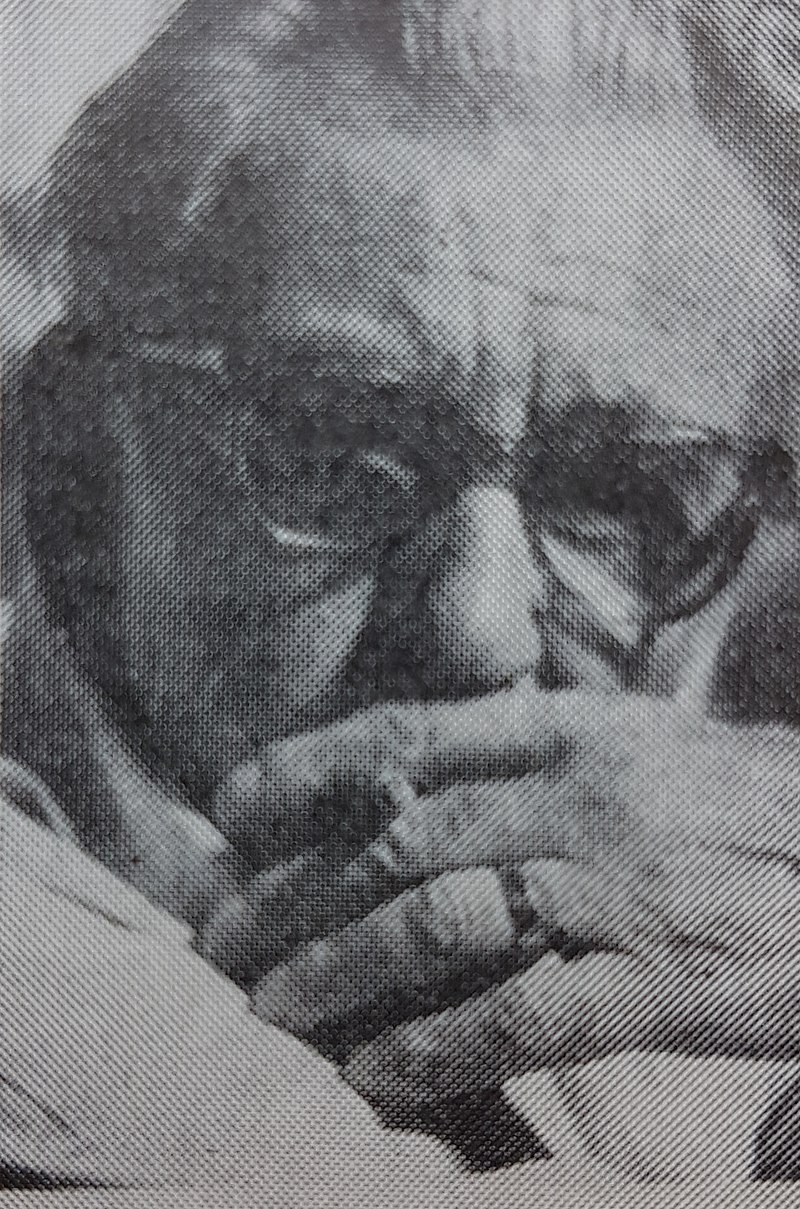
Ilustram este artigo obras de Adja Yunkers (1900-1983).




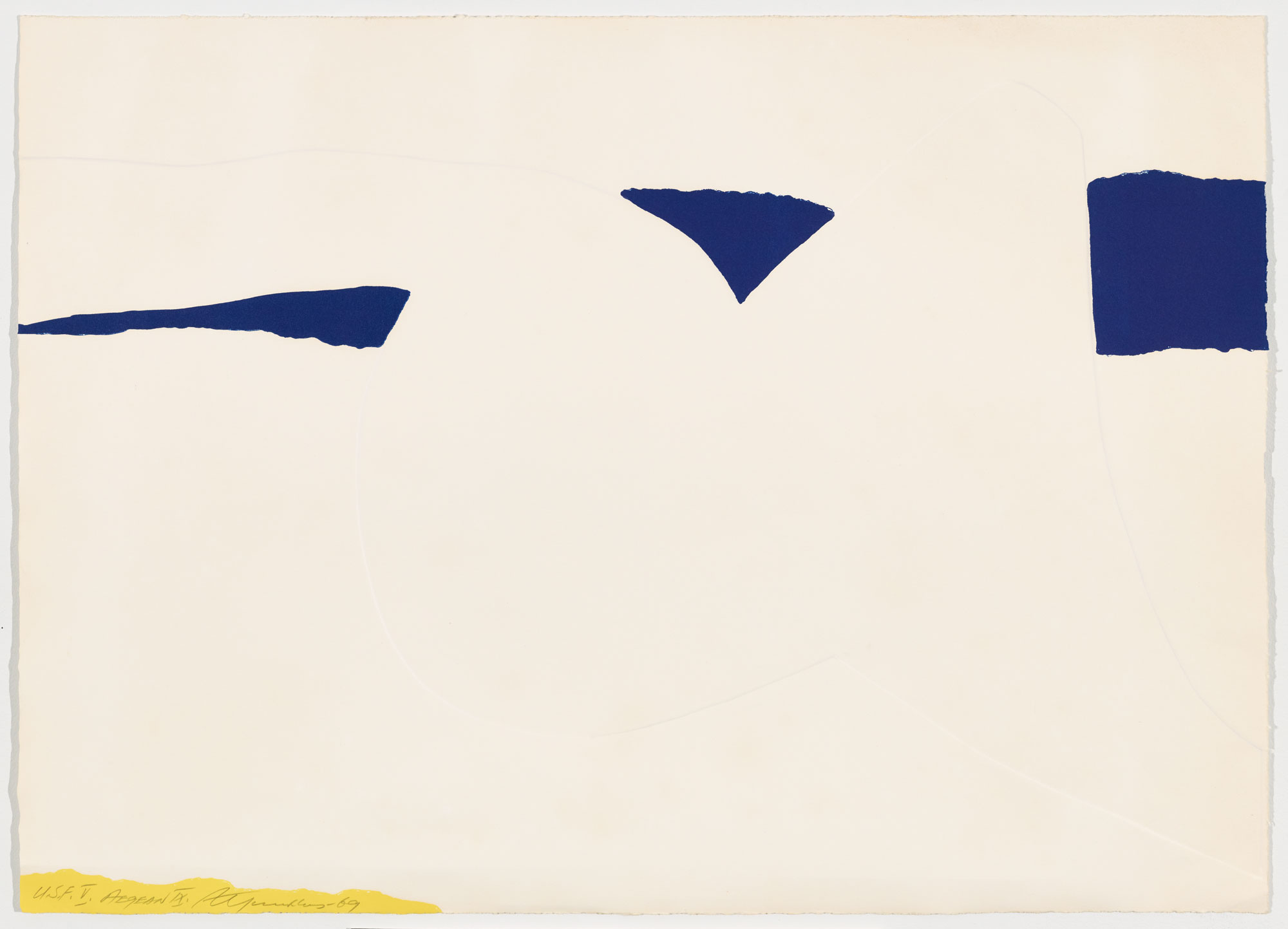







Trazendo o debate ao exemplo concreto em curso, não sem antes tentar (mais uma vez) desfazer equívocos:
• não se trata de nenhuma “volta à natureza”, e sim retomada coletiva do meio de produção primordial: a terra.
• não há nenhuma “baixa competitividade da agricultura familiar”, até mesmo porque ela fornece cerca de 75% da alimentação consumida no Brasil, enquanto o agronegócio se dedica a produzir commodities para exportação, sob um altíssimo custo sócio-ambiental subsidiado pelo Estado.
• a urbanização forçada no Brasil não se deve “ao simples fato de que as pessoas querem encontrar nas cidades comodidades e serviços”, e sim à luta de classes que através de todo tipo de grilagens desterritorializa indígenas, quilombolas e pequenos proprietários rurais.
• seja como for, nenhuma favela ou periferia (existentes mesmo em cidades pequenas) se constituem em exemplos de “comodidades e serviços”, vide o exemplo recente da Chacina do Jacarezinho (RJ).
• qto aos referenciais, devem ser buscados menos nos tradicionais da Esquerda, como o Maoísmo, e mais nas experiências da História do Brasil, desde os mais conhecidos e distantes, como Palmares e Canudos, até os mais próximos e menos conhecidos: Caldeirão do Deserto, Trombas e Formoso, Mina de Morro Velho.
Posto isto, o exemplo da ocupação de terra da Petrobrás em Itaguaí (RJ), onde seria instalado um pólo petroquímico, serve para aterrar este debate, colocando-o sob a perspectiva de uma luta concreta em curso.
Destacando-se alguns pontos:
• a “classe para si” só toma forma na luta.
• a centralidade da terra no conflito.
• a importância do território e das comunidades.
• aliança do movimento sindical com o movimento dos sem teto e sem terra.
• a revolta em si não basta, precisa redundar em salto organizativo.
• a potência da classe trabalhadora advém de seu trabalho coletivo.
• a luta pela saúde, contra o genocídio, através de atuação prática e imediata, apontando para uma luta anti-Capitalismo.
A ocupação foi batizada como Campo de Refugiados 1o. de Maio.
Seu nascimento no Dia do Trabalhador tem enorme importância política, assim como se assumirem refugiados do genocídio perpetrado pelo atual governo brasileiro.
Quem são os participantes? Pobres trabalhadores? Trabalhadores pobres? Desempregados e todo tipo de precariados? Lumpen?
Descendentes dos forçados a imigrar para as megalópoles urbanas? Expropriados que nem mesmo nas favelas conseguem arcar com o aluguel?
Conseguirão resistir? Um dos fatores para ter êxito é a imediata produção de alimentação, algo a que já estão se dedicando.
Outros Campos de Refugiados virão? Esta é condição necessária para resistir, porque a sobrevivência de todos depende de sua aliança numa rede.
1,2,3, 1.000 Canudos?
Seguindo o debate.
1.
arkx Brasil diz que nunca propôs qualquer “volta à natureza”. É sempre saudável reconhecer mudanças de posição ou esclarecimentos ulteriores, mas vejamos outras intervenções anteriores neste mesmo site:
Num comentário de 13/04/2021, arkx Brasil diz o seguinte, com destaques meus em negrito:
“Comparar as experiências comunitárias na América Latina à imposição de um regime de ruralização baseado no poder central de um partido é para um intelectual, no mínimo, um atestado de ignorância. Talvez má-fé.
Ainda mais se tratando de um Sudeste Asiático tão influenciado pelo pensamento Confucionista, no qual a coletividade importa muito mais do que o indivíduo e as famílias.
A experiência Afro-diaspórica e Ameríndia é de encantamento com a natureza e respeito às liberdades das pessoas, famílias, clãs… Nada tem a ver com Khmer Vermelho e outras atrocidades do gênero.
Intelectuais marxistas, inclusive os radicais, mesmo não tendo consciência, ou então a isto não assumindo, são todos filhos do Iluminismo.
Foram gerados nesse útero, pela cópula do dissenso irreconciliável entre Natureza e Cultura. A Natureza coma aquela fera selvagem que precisa ser domada e colocada a serviço do “Humanismo”.
Não se vêem como parte da natureza. Não compreendem a natureza. Não querem compreender. Tem raiva de quem compreende.
Permanecem prisioneiros dos paradigmas do desenvolvimento, da urbanização, da industrialização, do progresso. Mitos criados pelo Iluminismo e pela classe que com ele se tornou hegemônica: a Burguesia.”
Haveria muito a debater somente nesse comentário, mas com isso se fugiria do assunto principal colocado por arkx Brasil: enquanto ele afirma pretender, por meio de uma articulação conhecida como Teia dos Povos, “ir além do ponto no qual o MST se deixou paralisar“, apresento alguns dos principais gargalos responsáveis pela paralisação da luta pela reforma agrária e do MST em particular. A isso arkx Brasil responde retornando a chavões e palavras de ordem cujas concepções de fundo aliás expressam muitos dos dilemas práticos e ideológicos do MST, os mesmos que o levaram à paralisia e a muitos retrocessos.
No dia seguinte, arkx Brasil arrematou sua internvenção naquele mesmo artigo com outro comentário, mais conciso e nem por isso menos acusatório:
“No âmbito da Esquerda, também os mundos se separaram.
O mundo dos sindicatos, dos partidos, das eleições, das instituições, do Estado e da tomada do poder.
E o mundo da Terra, do Território, das Comunidades, da Natureza e da construção do poder dos Povos.
Cada qual seguirá seu caminho. Boa viagem.”
Ou seja: arkx Brasil defende sim, e corretamente, a “retomada coletiva do meio de produção primordial: a terra” — mas fá-lo escondendo por trás de mistificações como “natureza”, “terra”, “território” e “comunidade” os problemas concretos mais graves da luta por essa retomada. Não se faz luta anticapitalista sem enfrentar de frente os problemas postos pelas próprias lutas, tampouco criando mitos ou mistificações ideológicas.
2.
É curioso o argumento, aliás muito comum entre companheiros envolvidos na luta pela terra, de que 75% da alimentação consumida no Brasil vem da agricultura familiar. Sim, isso é um dado estatístico comprovado pelos censos agropecuários do IBGE. Mas ou arkx Brasil manipula mal as estatísticas — algo demonstrado no artigo principal — ou se deixa enganar pelos números. Aliás, esse número é elusivo, porque mascara uma realidade complexa.
Primeiro: dizer que 75% da alimentação dos brasileiros vem da agricultura familiar não diz nada quanto ao fato de essa agricultura ser orgânica ou não, e é para os orgânicos que tende a produção agrícola orientada pelos movimentos de luta pela reforma agrária. É esse o ponto em questão.
Segundo: comparar a produção para exportação com a produção para o mercado interno, sem dizer quais produtos e quais técnicas estão sendo comparados, é um equívoco, porque de nada adianta comparar, por exemplo, a produção de soja transgênica com a de alface hidropônica. É como comparar um computador e um balde. Nos casos onde já foi feita a comparação direta de técnicas produtivas para o mesmo produto, a agricultura orgânica se mostrou bem menos produtiva, resultando em produtos mais caros para o consumidor final. Não se discute aqui qualidade, tampouco riqueza de nutrientes; sendo baixa a produtividade, esses produtos de melhor qualidade e mais ricos em nutrientes ou competem no mercado com outros de qualidade inferior, mas de preço mais barato, ou tornam-se bens diferenciais, acessíveis a poucos. Este é um dos mais severos gargalos para os movimentos de luta por reforma agrária, que querem produzir alimentos de alta qualidade nutricional para toda a classe trabalhadora, mas não conseguem senão produzi-los para quem pode pagar preços mais altos. Ou é isso, ou direcionam o escoamento por meio de programas como os citados no artigo, para suprir por meio de “políticas públicas” a incapacidade de aumentar a produtividade.
Terceiro: saindo da discussão “orgânico versus industrializado”, a agricultura familiar no Brasil abarca realidades muito distintas sob o mesmo nome, desde o camponês que conquistou lote na luta pela reforma agrária até famílias que nunca dependeram da reforma agrária para obter a propriedade plena de suas terras — essa pequena burguesia agrícola que muitos camponeses dentro dos movimentos de luta pela reforma agrária aspiram ser, malgrado o que dela pensem suas lideranças. Nâo se pode, portanto, dizer “agricultura familiar = agricultura dos assentamentos de reforma agrária”, sob pena de colocar realidades muito diferentes sob o mesmo nome. A não ser, é claro, que se queira fazer uma confusão intencional.
Quarto: abordando outro aspecto do mesmo argumento, a agricultura familiar não é “mais produtiva” ou “melhor” porque produz 75% da alimentação dos trabalhadores no Brasil enquanto outros modelos de agricultura são voltados para a exportação. Esse argumento, que confunde luta de classes com luta nacionalista, simplesmente oculta o fato de que aquela produção para exportação nem é destruída, nem vai para monstros de outro planeta, mas para trabalhadores de outros países, mormente da China, Holanda, Alemanha e dos países do Oriente Médio. Quando estes produtos chegam nos países a que foram destinados, ou bem vão diretamente para o consumo de trabalhadores, ou vão servir como ração para animais a serem abatidos também para o consumo de trabalhadores. Mas como o argumento prefere separar esses trabalhadores daqueles do Brasil, evita conceber o desafio de construir pontes de solidariedade entre uns e outros — que aliás é ainda outro dos desafios, aliás um dos mais sérios, da luta pela reforma agrária.
3.
A luta de classes, especialmente a grilagem de terras, produz êxodo rural? Claro, é evidente. Favelas, ou bairros de trabalhadores, são exemplos de “comodidades e serviços”? Claro que não, também é evidente. Mas nem por isso deixa de existir migração rumo às cidades onde estão instalados tais serviços e comodidades. É dessa realidade que arkx Brasil quer desviar. A meu ver, isso se explica de modo muito simples.
Na parte anterior desse “ensaio-comentário”, falei das “relações sociais necessárias”: quem nelas se envolve pode até contar com uma “aparência” de escolha, mas nela operam com muito maior pujança forças (sociais, culturais, históricas, econômicas, biológicas) quase irresistíveis a indicar um caminho, a empurrar para esse caminho, a dizer que esse caminho é o “mais fácil”. Nossa vida cotidiana está completamente atravessada por essas relações sociais necessárias. Estão elas isentas de conflito? De forma alguma. Para mudá-las, ou extingui-las, é preciso construir outras forças, tão pujantes quanto, ou saber aproveitar aquelas já existentes. Ignorá-las, entretanto, é condenar-se ao fracasso em qualquer ação política.
Um dos argumentos desse “ensaio-comentário” é que tanto os defensores da “volta à natureza”, como arkx Brasil, quanto os defensores da “centralidade do conflito”, deixam de levar em consideração essas relações sociais necessárias ao construírem seja sua leitura da realidade, seja sua ação política. Em seu comentário mais recente, por exemplo, arkx Brasil usa a chacina do Jacarezinho para rebater meu argumento de que trabalhadores de cidades menores e menos providas de serviços e comodidades urbanas migram para cidades maiores atrás desses serviços e comodidades. Ora, toda a história da urbanização é também a história de chacinas cada vez maiores cometidas seja por agentes do Estado, seja por assassinos a seu serviço — e nem por isso trabalhadores daquelas cidades menores deixam de migrar para as maiores.
Nem preciso ir muito longe para demonstrar essa tendência, basta olhar para meus vizinhos e sintetizar algumas “escolhas” a que foram sujeitos.
Num primeiro caso, temos uma família recém-chegada de uma cidade do interior, com 35 mil habitantes. A mais velha estava diante da seguinte “escolha”: aguardar na fila de um transplante de rim no SUS, fazendo hemodiálise com alguma regularidade; ou aguardar na mesma fila sem fazer qualquer hemodiálise porque o aparelho mais próximo estava numa cidade a 150km de distância, e morrer. Mudaram-se.
Num segundo caso, temos um jovem advogado que mora aqui perto há uns oito anos. Estava diante das seguintes “escolhas”: endividar-se no FIES ao fazer faculdade EAD com algumas aulas presenciais à noite, apresentando-se num núcleo presencial próximo com alguma frequência para avaliações; ou fazer tudo isso, e ainda ter de arcar com custos de transporte, alimentação e hospedagem na cidade vizinha, onde está o núcleo presencial. Nem pensou duas vezes: mudou-se, arrumou trabalho como auxiliar de limpeza, estudava à noite e de madrugada, formou-se, agora trabalha como advogado associado num grande escritório e sonha voltar para a cidade natal, de uns 12 mil habitantes, para montar seu escritório.
Poderia continuar com muitos outros exemplos, mas creio ter evidenciado a realidade de que arkx Brasil quer fugir: serviços e comodidades tipicamente urbanos atraem para as cidades que deles dispõem trabalhadores que deles necessitam. Naquelas cidades grandes ou pequenas onde tais serviços e comodidades não existem, há enorme pressão pela sua implementação. É exatamente por isso que as cidades de médio porte têm taxas de crescimento populacional muito superiores às das grandes metrópoles: nelas a luta entre classes se dá, também, pela implementação de serviços básicos (UBS, USF, UPA, hospitais, pavimentação, eletrificação, saneamento básico etc.), e o resultado é que a implementação destes serviços torna-as mais atrativas aos trabalhadores residentes em cidades circunvizinhas, que enxergam aí oportunidade de usar tais serviços sem precisarem deslocar-se em viagens longas rumo às grandes metrópoles. As chacinas nos bairros de trabalhadores não interrompem tal dinâmica; pelo contrário, é exatamente a divulgação pela mídia desse e de outros problemas das grandes cidades que, ao lado de políticas como o estímulo estatal à interiorização de certas indústrias e do desenvolvimento da agropecuária (seja pela reforma agrária, seja pelo agronegócio), condiciona a intensificação dessa tendência.
4.
Tudo isso é sintoma daquela desatenção com o trabalho coletivo e associado a que tanto tenho me referido. arkx Brasil apresenta uma pauta, uma ideologia, pontos etc., sempre em desatenção daqueles elementos da vida social que contrariam tudo quanto defende.
Melhor dizendo: esses elementos são filtrados pela ótica de alguém formado na luta pela reforma agrária, imbuído das concepções de fundo mais problemáticas a surgir em meio a ela, e que pretende ultrapassar as contradições mais profundas dessa luta aferrando-se aos mesmos traços ideológicos e práticos que fizeram da luta pela terra nada mais que um dilema trágico: ou bem se forma, por meio dos assentamentos mais exitosos, a base territorial, econômica e social de uma pequena burguesia no campo, ou bem se forma, com os assentamentos situados nas terras menos produtivas e mais desgastadas, a base territorial, econômica e social de uma favelização do campo.
Se percebemos, cada qual a seu modo, a paralisia da luta pela terra, não poderíamos estar mais distantes quanto a todo o resto.
arkx Brasil quer atrelar todo o debate havido desde aquele primeiro artigo inaugural a um fim propagandístico prático: a divulgação seja da “Teia dos Povos”, seja do “Campo de Refugiados 1º de Maio”.
Em todas as intervenções de arkx Brasil neste debate parece haver uma necessidade, ao que parece bastante urgente, de apresentar uma fórmula pronta, um abecê, no qual a “natureza”, a “comunidade”, a “terra”, aparecem como biombos ideológicos para esconder os problemas e complexidades da luta pela reforma agrária. Com este biombo à frente, arkx Brasil chama à solidariedade a lutas concretas, como quem diz: “vamos falar desses problemas depois, o que importa agora é ajudar esses companheiros aqui”. O problema com esse tipo de biombo ideológico é que eles nunca são removidos; seguem ofuscando os problemas da realidade, impedindo de entender suas implicações e consequências e de enfrentá-los sem rodeios.
A solidariedade concreta e prática a companheiros em luta precisa, necessariamente, desses biombos? Exige “deixar para depois” o debate franco e aberto sobre problemas estratégicos das lutas? Claro que não. Pelo contrário, uma coisa pode fortalecer a outra. Não seria muito mais interessante que arkx Brasil se dedicasse a apresentar mais detalhadamente as duas experiências, em vez de fazê-lo nas entrelinhas de comentários? Me parece, em especial no segundo caso, que há uma necessidade de apoio urgente. Capacidade de escrita e concatenação de ideias arkx Brasil tem.
5.
Quero fechar esse comentário mostrando, mais uma vez, como a concepção da “volta à natureza” defendida por arkx Brasil se assemelha em certos aspectos a posições defendidas pelos defensores da “centralidade do conflito”.
Em ambos os casos, enxerga-se neste ou naquele conflito mais aberto, por mais parcelar que seja, a ascensão de uma “classe para si”. Ao buscar nessas lutas mais abertas o “modelo” ou a “tendência” para a formação de uma “classe para si”, mais uma vez tomam a aparência pela realidade. O problema nessa busca por “tornar concreto” o debate discutindo essa ou aquela luta em particular como condição para seguir adiante, sem tirar dessas experiências concretas as múltiplas determinações que sintetizam as contradições, é isolar completamente essas lutas de seu contexto; o resultado são as leituras deficientes da realidade e ações fugazes.
Na verdade, essa “classe para si” forma-se não porque houve essa ou aquela greve, ou porque houve essa ou aquela manifestação. É o contrário: esses atos “radicais” só existem porque precedidos pelo crescimento da revolta em parcelas cada vez maiores da classe trabalhadora contra as próprias condições de vida e trabalho, transformada em conflito aberto nesses atos porque ali certos trabalhadores encontraram condições mais propícias à transformação daquela revolta “difusa” em ações concretas, condições verificáveis caso a caso. A “classe em si” só toma forma na luta, de fato, mas não há luta somente onde há aquelas ações de grande impacto; há luta, também, nas pequenas ações de resistência cotidiana, e aí também se forma uma classe. Novamente: sem perceber a dialética entre esses dois aspectos das lutas, o que há é a condenação a correr de luta em luta, sem nenhum enraizamento concreto. É fácil “lutar a luta dos outros” e cobrar “radicalização” quando não se vai sofrer as consequências do que se propõe.
Por essa ótica, não é somente atrás dessa ou daquela luta que os revolucionários deveriam correr, como se fossem os “quadros” de um “partido” minoritário. Deveriam, mais concretamente, buscar criar essas “condições mais propícias” eles próprios ali onde se encontram inseridos pela sua própria dinâmica de vida, articular-se com outros realizando esse mesmo tipo de atividade, e encontrar meios práticos para solidarizar-se com outros trabalhadores com quem tenham menos contatos.
Não é isso, também, uma “cartilha”, um “abecê”, uma “fórmula pronta”? Com certeza. Posso ter um diagnóstico mais realista quanto aos problemas a enfrentar; posso trilhar caminhos teóricos, práticos e organizativos com base nesse diagnóstico; mas na luta anticapitalista não há garantia alguma de que um diagnóstico mais realista resulte em ação “mais correta”. Estamos amarrados nessa contradição, enxugando gelo, fazendo um trabalho de Sísifo, ao menos enquanto não substituirmos de uma vez o capitalismo por outra coisa melhor.
arkx,
1000 Canudos? Isso quer dizer 1000 massacres onde o Estado brasileiro dizima comunidades? Não vou nem entrar na questão do horizonte político deste caso histórico, mas ao menos a referência ao Vietnã se tratava de uma guerra onde forças do campo comunista combatiam e derrotavam os exércitos ocupantes.
Me preocupa que o espírito da palavra de ordem com a qual você fecha o comentário confirme algumas das críticas do texto, para além de alguns pontos de debate que você coloca de forma mais razoável.
Apenas um apontamento, não me parece exato que a agricultra familiar corresponda a 75% da produção de alimentos no Brasil. Uma explicação sobre isso pode ser vista aqui: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/1386/1376
Apoiadas por sindicatos de petroleiros, famílias ocupam terreno da Petrobras
https://www.terra.com.br/economia/apoiadas-por-sindicatos-de-petroleiros-familias-ocupam-terreno-da-petrobras,d84198146e4a56e800515ab36c2c8bd42r2dw1e4.html
Petrobras obtém reintegração de posse de terreno em Itaguaí
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2021/05/07/internas_economia,1264448/petrobras-obtem-reintegracao-de-posse-de-terreno-em-itaguai.shtml
Apoiadas por sindicatos de petroleiros, famílias ocupam terreno da Petrobrás em protesto por moradia
https://www.terra.com.br/economia/apoiadas-por-sindicatos-de-petroleiros-familias-ocupam-terreno-da-petrobras-em-protesto-por-moradia,4c2389133c35f08982c535a683d2ec939tg0uldi.html
PM pede desocupação da área da Petrobras e não é atendida
https://odia.ig.com.br/itaguai/2021/05/6141034-pm-pede-desocupacao-da-area-da-petrobras-e-nao-e-atendida.html
Movimento do Povo ocupa terra da Petrobras em Itaguaí
https://jornalatual.com.br/2021/05/01/movimento-do-povo-ocupa-terra-da-petrobras-em-itaguai/
Com apoio da FUP e do Sindipetro-NF, famílias ocupam terreno da Petrobrás em Itaguaí, região metropolitana do Rio
https://jornalistaslivres.org/com-apoio-da-fup-e-do-sindipetro-nf-familias-ocupam-terreno-da-petrobras-em-itaguai-regiao-metropolitana-do-rio/
Em meio a uma saraivada de vários outros equívocos e muitas outras distorções, mais vale destacar importantes pontos de consenso:
• o trágico dilema da luta pela terra: pequena burguesia rural x favelização do campo.
Este impasse é inevitável ao se pautar a luta pela terra nos marcos de uma Reforma Agrária de caráter liberal.
Foi por este caminho que o MST não só se paralisou, como acirrou a contradição ao formar suas milionárias cooperativas, nas quais o arroz é orgânico mas a exploração do trabalho continua convencional.
É justo para enfrentar este trágico dilema que os caros amigos da Teia dos Povos caminham através do Território e da Comunidade, não como “biombos ideológicos”, e sim como formas de organização capazes de superá-lo.
• a imensa importância das pequenas ações de resistência cotidiana.
A militância não está separada da vida, ao contrário: é um modo de viver.
Não existe trabalho político pequeno. Existe trabalho político necessário a partir das circunstâncias às quais estamos sujeitados.
Quem muda o mundo são as pessoas, e o que muda as pessoas são as experiências de vida compartilhadas na luta para mudar o mundo.
• Campo de Refugiados 1º de Maio
Não se trata de citar buscando “efeito propagandístico”, mas como inegável exemplo concreto dos temas deste debate sobre classe e conflitos.
Os caros amigos na linha de frente do Movimento do Povo estão dando encaminhamento prático às vitais questões aqui levantadas.
Temos todos uma rara oportunidade de construção coletiva de conhecimento a partir de ação direta em curso, com todas as suas contradições e desafios.
👉🏽 link: https://instagram.com/refugiados1maio?igshid=9hnzvbui814f
Os erros perduram quando correspondem a ilusões, porque são úteis para a demagogia. Um destes erros é o de que a agricultura familiar produziria cerca de 75% da alimentação consumida no Brasil. Transcrevo em seguida o que escrevi no artigo Contra a ecologia. 4) a agroecologia e a mais-valia absoluta, publicado em Setembro de 2013 no Passa Palavra.
«[…] um dos argumentos invocados pelos defensores brasileiros da agroecologia é o de que as explorações familiares, ocupando apenas 24,3% da área dedicada à agricultura e à pecuária, produziam a maior parte dos alimentos consumidos no país. É comum a afirmação de que a agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos, e o secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário tomou-a como sua em Julho de 2011. No entanto, o que Caio Galvão de França et al. escreveram numa obra editada por aquele Ministério é que «cerca de 70% a 75% da produção agropecuária do país destinou-se ao mercado doméstico», o que é muito diferente, e estes autores acrescentam, sem especificar a percentagem, que «a agricultura familiar é responsável por garantir boa parte da segurança alimentar do país, como importante fornecedora de alimentos para o mercado interno». Na tabela acima, no entanto, verifica-se que só na mandioca e no feijão é que mais de metade da produção se deveu à agricultura familiar.
«De qualquer modo, quem admite que a agricultura familiar produza a maior parte dos alimentos consumidos no Brasil está a esquecer-se de que aquela produção requer o esforço de 74,4% da mão-de-obra rural. Esta desproporção — 3/4 dos trabalhadores em 1/4 da superfície utilizada — confirma o baixo grau de produtividade da agricultura familiar. A desproporção pode ainda ser medida de outra forma, sabendo-se que nos estabelecimentos familiares, sempre segundo o Censo de 2006, existiam em média 17,9 pessoas ocupadas por cada 100 hectares de terra aproveitável para lavoura e pecuária, enquanto essa média se reduzia a 2,1 pessoas por 100 hectares nos estabelecimentos não familiares.»
Mas nem sequer são estas as consequências mais graves das ilusões em torno da agricultura familiar. Verdadeiramente trágico é o facto de que esse tipo de agricultura, tão enaltecido por pessoas sinceramente defensoras dos interesses dos trabalhadores, ser um dos lugares privilegiados da mais-valia absoluta. Acerca deste conjunto de aspectos, remeto para totalidade do meu artigo.
Arkx você poderia trazer a fonte que corrobora a afirmação de que a agricultura familiar produz 70% – 75% do que consumimos?
Sempre achei essa afirmação genérica e exagerada. E nunca encontrei o estudo que concluiu isso (vi apenas afirmações de lideranças de esquerda).
Ora, a base da alimentação brasileira é variada e assim também é a cultura de cada produto agrícola. Por exemplo, sabemos que o feijão – dadas as suas características – é produzido por pequenos produtores rurais; o mesmo não ocorre com o arroz – que exige areas alagadas – e é produzido extensivamemte pelo agronegócio. O trigo, por seu turno, tbm é priorizado pelo agro. Outras culturas como o chuchu e a abóbora talvez tenham na agricultura familiar seu principal gerador.
Por fim, a carne bovina – visto que a maioria esmagadora da população é não-vegana – também advem de grandes criadores.
Outro ponto é o seguinte: se a agricultura familiar doméstica produz 70 – 75% do que consumimos, por que o preço dos alimentos é tão influenciado pelo câmbio e pela aumento percentual do volume produzido pelo agro destinado à exportação? Ora, o preço dos alimentos no mercado interno – já que majoritariamente produzidos por agricultores familiares em pequena escala com pequeno acesso a insumos e tecnologias – deveria oscilar menos e a inflação deveria ser menor.
Assis,
Sem que eu seja a pessoa que você interpelou, penso que o meu comentário, acima deste seu, responde à sua pergunta e confirma as suas objecções.
Os dados a respeito da agricultura familiar constam nos censos agropecuários do IBGE
A polêmica em relação a eles é conhecida e tem uma clara origem política: a máquina de propaganda do agronegócio.
Trata-se do mesmo tipo de manipulação feito por décadas pela indústria do tabaco, ao patrocinar todo tipo de campanha para negar o dano causado pelo fumo à saúde
O mesmo que ainda hoje é feito pela indústria petrolífera, ao minimizar os impactos causados pela queima de combustível fóssil.
O agronegócio chega a divulgar raciocínios de um contorcionismo inacreditável, mas inclusive com eco aqui nesta área de comentário.
Embora reconheça que a soja não é consumida como alimento no Brasil, e sim exportada para engordar criação de animais, principalmente na China – portanto, dessa forma a soja alimentaria indiretamente a população chinesa.
Por esse mesmo raciocínio completamente enviesado também se poderia alegar que o minério de ferro alimenta a população chinesa.
Pois como matéria prima indispensável para o funcionamento das siderúrgicas, através de sua exportação são gerados empregos que possibilitam ao trabalhador chinês comprar sua alimentação.
A verdade dos dados e dos fatos mostra que sob qualquer aspecto que se analise, o agronegócio não passa de um embuste.
Sua alta lucratividade advém de isenção tributária, e do Estado arcar com o alto passivo ambiental por ele gerado, assim como assumir o custo de várias outras externalidades sociais.
Além disto, contar com dilatado prazo para internalizar a renda das exportações, lhe permitindo jogar com arbitragem cambial, com a qual aufere um sobre-lucro.
Sendo que a parcela maior fica com as grandes operadoras internacionais, sendo o latifundiário brasileiro nada mais do que um sócio minoritário, encarregado da gestão local dos negócios.
E nisto em nada difere do grande negócio colonial da cana-de-açúcar, através do qual o Brasil foi parido não como Nação, e sim como empresa transnacional.
Para uma visão da agricultura familiar a partir dos dados dos Censos Agropecuários do IBGE, em contraponto à máquina de propaganda do agronegócio:
QUEM PRODUZ COMIDA PARA OS BRASILEIROS? 10 ANOS DO CENSO AGROPECUÁRIO 2006
.https://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/5540
Bem interessante o comentário sobre as bolhas de autocuidado. Escrevi um texto sobre como achava que os índices de isolamento e apoio inicial massivo à quarentena eram indícios de um amplo de subterrâneo movimento popular que foi destruído paulatinamente: https://passapalavra.info/2020/06/132281/
Acho interessante que no texto da “Centralidade do conflito” se coloque que o número de mortos era a “prova” que não existe autodisciplina nem auto-organização para combater a pandemia. Quando, na verdade, as mortes nada mais são do que uma evidência de lutas que foram derrotadas, de pessoas que apesar de seus esforços para evitar isso foram infectadas e por aí vai. A derrota não quer dizer ausência de luta, nem de organização. E hoje ainda existe uma importante disputa no campo das escolas, das universidades e de alguns espaços de trabalho por um mínimo de proteções sanitárias. Nem se compara ao que tivemos em março e abril de 2020 como a onda de greves de call centers, mas ainda há resquícios e contradições.
Sem querer soprar velhos autores – como autoridade – na nuca de ninguém, mas compartilhando apenas porque é uma posição forçada pela fome generalizada. Escreveu Lenin: ‘não podemos esconder aos camponeses (…) que o cultivo em pequena escala, enquanto se mantiver o mercado e o capitalismo, não é capaz de libertar a humanidade da miséria e que é necessário pensar numa transiçao para o cultivo em grande escala para fins sociais (…).’
Diante da fome era isto que preocupava o velho Lenin: ensinar às massas camponesas a produzir em larga escala.
Hoje os socialistas pensam justamente o contrário: como ensinar as massas a cultivar em pequena escala sob regime de agricultura familiar, preferencialmente com agroflorestas.
Ao tomar conhecimento do comentário acima, o cadáver embalsamado de Lênin se contorceu em seu mausoléu eterno na Praça Vermelha.
Suavemente, mesmo assim bem perceptível para qualquer companheiro atento se dar conta.
Resmungou: “- Mas a História já não mostrou que esta minha argumentação causou a Coletivização Forçada da Agricultura na URSS, resultando em milhões de mortes?”
Como se não bastasse, também baseadas na mesma busca da alta produtividade agrícola, seguiram-se a tragédia da Grande Fome, promovida pelo Camarada Mao, e a medonha desgraça da ruralização, comandada pelo Khmer Vermelho.
Afinal, onde reside o problema? Como produzir alimentação em quantidade e qualidade para se ter soberania alimentar?
A leitura do artigo “Socialismo da abundância, socialismo da miséria”, publicado em 22/03/2011 no Passa Palavra, contribui para a resposta, muito embora o texto incorra no mesmo equívoco.
Trata-se da armadilha da produtividade.
Produtividade é um conceito do modo de produção capitalista, fazendo a relação entre produto obtido e meios de produção utilizados.
Produtos são mercadorias. Meio de produção é Capital, seja como máquinas e equipamentos ou como trabalho vivo. Sendo que apenas o trabalho produz valor de troca, sob a forma das mercadorias.
Aumentar a produtividade implica em extrair do trabalho maior mais-valia relativa: produzir mais por unidade de tempo.
Portanto, a relação entre produtividade e exploração do trabalho é diretamente proporcional.
Além disto, pela dinâmica intrínseca do Capital, o aumento de produtividade leva a uma inevitável queda da taxa de lucro por unidade produzida, gerando crises periódicas de superprodução e proporcional destruição de forças produtivas.
Este é o “reino de abundância” trazido pelo Capitalismo, ou por sua emulação em regimes auto-declarados como Socialistas.
Para superá-lo é preciso distinguir claramente entre:
• produzir mercadorias para serem consumidas sob a forma de alimentos (valor de troca).
• produzir comida para alimentar a população (valor de uso).
Soberania Alimentar exige produção local, horizontal e descentralizada, mas não dispensa de modo algum capacitação técnica.
E aqui cabe também uma ressalva para diferenciar técnica de tecnologia, ficando esta como a seleção das técnicas mais adequadas à acumulação do Capital.
os socialistas de hoje também dão um novo passo: há 50 anos atrás se tratava de criar uma industria nacional pujante. Soberania industrial! Como isso não funcionou, um novo passo para trás: nacionalismo agrário. Ou melhor, “soberania alimentária”.
Agora, esse papo de que produtividade é um conceito do modo de produção capitalista… é um sentido comum tão tosco que você pode ouvi-lo de um extremo ao outro do espectro esquerdista, passando de estalinistas a este neorruralismo. Mas será mesmo que as diversas técnicas que foram sendo desenvolvidas pela humanidade e que permitiram o surgimento das comunidades sedentárias, aglomerações humanas, a escritura, as ciências, tudo isso não se deu exatamente porque tais técnicas permitiam um aumento de produtividade no trabalho agrário? O conceito pode ser recente, o interesse da humanidade nesta equação, não.