Por Manolo
Li a recente coluna de Isadora Guerreiro no Passa Palavra, intitulada Sonhos da noite eleitoral. É boa como sempre, mas — desta vez — não pelo que lhe é mais aparente.
Gostei mais da leitura porque permite uma crítica fraterna a certa leitura de realidade de que também eu sou tributário, e menos pelo fato de que nesta coluna a memória, a experiência pessoal, é tomada como a experiência de uma “geração”, e tanto uma quanto outra substituem a História, ao menos no que está ali escrito. (Sim, é uma estratégia de retórica legítima, é um estilo de escrita perfeitamente válido, mas não me agrada para o tipo de “avaliação geracional” a que Isadora se propõe.)
Como a própria Isadora fez dessa edição de sua coluna um “convite ao debate e ao compartilhamento de outras experiências e olhares”, parto daqui para fazer minhas observações, sempre remetendo às reflexões de Isadora porque a forma “memorialista” de expor as questões tratadas, e também o momento de sua publicação, dizem tanto quanto o que foi escrito.
Eis meus argumentos:
1) “Gerações” não são a melhor forma de analisar os problemas que o artigo de Isadora se propõe, ciclos de governo parecem um meio mais razoável;
2) A confusão entre “projeto democrático popular” e “modo petista de governar” é sintoma das dificuldades analíticas, mas pode evidenciar o que não víamos tão bem;
3) Um projeto político alternativo ao capitalismo precisa de algum tipo de eficácia;
4) Há uma estranha e “torta” dialética nas escolhas eleitorais, que pode ser útil para entender os problemas do presente;
5) A candidatura Boulos-Erundina só representa um “movimento histórico condensado” num sentido muito mais restrito que o proposto originalmente neste debate, e sem outros elementos não se pode concluir quase nada quanto a ela.
Problemas geracionais
Em primeiro lugar, “gerações”, quando não estamos derrapando para considerações estritamente biológicas, não passam de pequenos grupos com certas experiências partilhadas que se pretendem passar como experiências gerais. Isso cria muitos, muitos problemas.
Isadora se coloca numa “geração” cujo “limite superior” cronológico é “uma geração pouco mais velha, que viveu a sua implantação sem necessariamente ter passado pelos piores anos da ditadura”, e cujo “limite inferior” cronológico é “outra pouco mais nova, que viveu tal projeto já como ‘situação’, ou ainda outra muito mais nova, que a viveu apenas como crise ou página virada”. Além disso, Isadora define a “geração” a que diz pertencer como sendo uma geração “que se formou politicamente nos anos 2000” e “viveu a ascensão, o auge e a crise do projeto democrático popular, apagando suas luzes e precisando construir alternativas com ‘o bonde andando’”.
Vejamos o quiproquó dessa definição.
Se “os piores anos da ditadura” terminaram em 1979 com a anistia e o início da “abertura”, é este o limite “superior” da “geração” a que Isadora se refere? Se for, o “limite superior” da geração de Isadora é a própria geração fundadora do PT, gente que se iniciou na política entre, digamos, 1975 e 1985. Mas digamos que com “os piores anos da ditadura” Isadora queira referir-se à ditadura como um todo; então o “limite superior” é daquelas pessoas que se iniciaram na política, digamos, na “Nova República”, entre 1985 e 1995 (tendo o início do primeiro mandato de FHC na presidência como marco final).
Há problemas no “limite inferior” tanto quanto há no “limite superior”. Isadora, neste momento, fala de uma “geração” que viveu o “projeto democrático popular” já “como situação” — ou seja, entre 2003, quando Lula tomou posse na presidência, e 2016, quando Dilma Rousseff foi retirada do cargo pelo Congresso — e de outra “muito mais nova” que viveu esse projeto como “crise ou página virada” — ou seja, de 2013 em diante, no período iniciado com as manifestações daquele ano e seguiu pelo mandato-tampão de Michel Temer, pela eleição de Jair Bolsonaro para a presidência, chega até hoje e se projeta no futuro. Se é certo que de 2002 a 2018 passou-se tempo suficiente para que alguém chegue à idade do voto facultativo, pode-se realmente separar duas “gerações” num período tão curto? Pode-se realmente dizer que as experiências políticas tenham sido tão radicalmente diferentes neste período ao ponto de cindir duas “gerações”? Tenho mais dúvidas que certezas.
Para deixar ainda mais complexa a situação, a “geração” em que Isadora se insere não tem referencial muito seguro, porque não há consenso algum quanto ao que seja a “ascensão, o auge e a crise do projeto democrático popular” que ela usa como baliza. Se o conteúdo programático deste projeto for analisado, há quem diga, por exemplo, que sequer suas fases iniciais foram implementadas de forma duradoura. Se o método de implementação deste projeto for visto em detalhe, haverá também quem diga que só muito superficialmente as trocentas conferências e conselhos “realmente existentes” nas experiências de governo da esquerda, desde as prefeituras até o governo federal, se assemelham ao tipo de democracia de base que se projetava no fortíssimo ciclo de lutas dos anos 1980 e 1990. Nem as avaliações acadêmicas citadas por Isadora são unívocas em suas avaliações deste projeto — e é muito bom que não o sejam! Mas voltemos ao assunto, ou melhor, ao problema.
Há um problema mais sério, entretanto.
Se a geração dos anos 2000 é uma geração que “viveu a passagem”, que dizer, então, da “geração” que se iniciou na política nos anos 1990? Da “geração” que nem tinha idade o suficiente para ter experiência política em qualquer período da ditadura, nem era jovem o suficiente para viver os anos 2000 como se tudo fosse propriamente uma novidade? A geração que se iniciou na política durante o “fora Collor”, ou durante as lutas contra as privatizações dos “anos FHC”, ou durante as lutas contra a ALCA — onde está ela nos planos de Isadora? A “geração 16 de maio”, a “geração Seattle”, a “geração A-20” — onde está ela? Nem na “passagem”, nem em lugar algum.
 A categorização geracional de Isadora omite toda a experiência política dessa “geração”, que é precisamente a geração cuja experiência pavimentou o caminho para que essa “geração” dos anos 2000, a “geração” que se iniciou na política na “era do PT”, encontrasse um legado dúplice. De um lado, havia aqueles que legaram à “geração 2000” tanto as críticas acumuladas ao “projeto democrático popular” antes mesmo que o PT chegasse ao governo federal quanto formas organizativas que parecem — só parecem — coisa da geração posterior. De outro lado, havia aqueles que, por serem relativamente jovens e por haverem partilhado a aposta no “projeto democrático popular” com gerações anteriores, entraram na “máquina” do Estado como gestores DAS 3, 2 e 1 ou como simples servidores públicos concursados para implementar “na ponta” algumas das políticas pelas quais a “era do PT” tornou-se mais conhecida.
A categorização geracional de Isadora omite toda a experiência política dessa “geração”, que é precisamente a geração cuja experiência pavimentou o caminho para que essa “geração” dos anos 2000, a “geração” que se iniciou na política na “era do PT”, encontrasse um legado dúplice. De um lado, havia aqueles que legaram à “geração 2000” tanto as críticas acumuladas ao “projeto democrático popular” antes mesmo que o PT chegasse ao governo federal quanto formas organizativas que parecem — só parecem — coisa da geração posterior. De outro lado, havia aqueles que, por serem relativamente jovens e por haverem partilhado a aposta no “projeto democrático popular” com gerações anteriores, entraram na “máquina” do Estado como gestores DAS 3, 2 e 1 ou como simples servidores públicos concursados para implementar “na ponta” algumas das políticas pelas quais a “era do PT” tornou-se mais conhecida.
Claro, como Isadora se coloca numa “geração” que diz ser imediatamente seguinte (apesar de a diferença etária não ser suficiente para marcar realmente a passagem de uma geração à outra), muito dificilmente poderia dizer algo sobre o que viveu essa “geração perdida”. Mas isso é uma coisa; outra bem diferente é esquecer-se de uma geração inteira ao categorizar “gerações”, é dedicar-lhe nada menos que o limbo.
Pondo os pés no chão
Se fiz questão de “pegar no pé” por causa dessas questões “geracionais”, foi pela necessidade de botar os pés no chão neste debate. A única coisa que se pode afirmar com absoluta certeza sobre a experiência política a que Isadora se refere — e que pretende definir em termos geracionais — é que foi o período de ascensão do PT e de seus aliados de primeira hora ao Executivo federal, de suas políticas de governo, e de sua queda. Ponto. Toquei algumas vezes neste assunto, mas agora o afirmo sem rodeios. Se partirmos dessa nova premissa, a coisa toda muda de figura. A confusão entre o “projeto democrático popular” e a “ascensão eleitoral do PT e seus aliados de primeira hora ao Executivo federal”, inclusive, é tão elucidativa quanto o resto.
O “projeto democrático popular” muito cedo passou a se confundir com o “modo petista de governar” que ia-se implementando mandato a mandato, prefeitura a prefeitura, “modo” que já em meados dos anos 1990 tinha muito mais a ver com uma espécie de “cidadanismo” voltado para atender interesses concretos de setores da classe trabalhadora por meio de “políticas públicas” — a expressão surgiu e ganhou força nessa época — que com as inspirações socialistas daquele “projeto democrático popular”. (Ainda quanto ao “modo petista de governar”, é sintomático do modo como este debate está sendo proposto o descarte quase sumário da gestão de Luiza Erundina, vice na chapa Boulos, qualificada por Isadora num comentário a seu próprio artigo como “de outra época, que reaparece como tragédia”. Essa experiência, talvez a mais estudada gestão municipal brasileira, é útil para entender os limites das tentativas de “direcionar o Estado” a partir dos movimentos sociais no âmbito municipal, ainda mais útil porque se deu num contexto em que não existiam constrangimentos como o próprio segundo turno das eleições, a reforma administrativa de 1998, a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos a limitar os repasses federais… Isadora, entretanto, ao privilegiar a memória sobre a História descartou tudo isso com uma linha, uma frase.)
Voltando ao “projeto democrático popular”, para bem ou para mal já no começo dos anos 2000 ele estava praticamente abandonado em favor do “modo petista de governar”, a que a vitória nas eleições de 2002 finalmente oportunizou ao PT e seus aliados implementar no Executivo federal. Data mais ou menos daí o surgimento de organizações aspirantes ao tipo de “socialismo democrático” basista e muito original que o PT abandonara pela estrada antes mesmo de embrenhar-se no Executivo federal. Estamos falando, claro, de organizações como o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e a Consulta Popular (e seu braço jovem, o Levante Popular da Juventude), mas a reciclagem dos sonhos passados não se encerra neles (que o digam o PCR, a UDP e setores do PCB que, para demarcar posição na esquerda frente ao “modo petista de governar” e ao “liberalismo social”, desenterram o cadáver do antirrevisionismo).
A essas organizações, entretanto, faltava o tipo de movimento de massas em meio ao qual se deu o surgimento do PT. Os movimentos de luta por moradia e por transporte que proliferaram no início dos anos 2000, em comparação, eram uma sombra pálida daquela grande onda dos anos 1970 e 1980 — mas foi neles onde essas novas organizações buscaram se radicar. Seria fácil embarcar no discurso tautológico de que esses movimentos teriam sido a forma de organização política encontrada pela classe trabalhadora naquele momento, não fosse tão diversa a composição interna desses movimentos. Com certeza aquele movimento de massas dos anos 1970 e 1980 era muito mais diverso porque a composição das classes sociais no Brasil de então era marcada por diferenças e particularidades ainda mais intensas que as atuais, mas a preponderância das muitas vertentes do movimento sindical — sindicalismo rural, sindicalismo fabril, sindicalismo de comércio e serviços etc. — mostrava a importância de características compartilhadas e de instituições em comum, algo de que aqueles movimentos dos anos 2000 dispunham em muito menor grau.
 Vistas as coisas por essa perspectiva, a “sombra pálida” fez mais que criar uma ilusão de potência: ela ocultou uma dinâmica da vida social dos trabalhadores que em março de 2013 o Passa Palavra delineou com razoável precisão na segunda parte de seu ensaio Protestos virtuais e impotência política. Diante da intensa precarização dos trabalhadores nos anos 1980 e 1990, do sucateamento de serviços públicos básicos e da ascensão de um “modo petista de governar” que corresponde também à intensa burocratização dos movimentos sociais daquele período, a classe trabalhadora seguiu lutando pela sua sobrevivência e desenvolveu formas elementares de solidariedade e apoio mútuo que encontraram suporte apenas naquelas instituições capazes de fazer frente às pressões mais imediatas do cotidiano e de orientar para o “sucesso”, para a “concorrência”, para o “empreendedorismo”… Se naquele ensaio o Passa Palavra apontou as igrejas evangélicas como estas instituições, cinco anos depois eu mesmo mostrei como as forças armadas cumpriam também este papel.
Vistas as coisas por essa perspectiva, a “sombra pálida” fez mais que criar uma ilusão de potência: ela ocultou uma dinâmica da vida social dos trabalhadores que em março de 2013 o Passa Palavra delineou com razoável precisão na segunda parte de seu ensaio Protestos virtuais e impotência política. Diante da intensa precarização dos trabalhadores nos anos 1980 e 1990, do sucateamento de serviços públicos básicos e da ascensão de um “modo petista de governar” que corresponde também à intensa burocratização dos movimentos sociais daquele período, a classe trabalhadora seguiu lutando pela sua sobrevivência e desenvolveu formas elementares de solidariedade e apoio mútuo que encontraram suporte apenas naquelas instituições capazes de fazer frente às pressões mais imediatas do cotidiano e de orientar para o “sucesso”, para a “concorrência”, para o “empreendedorismo”… Se naquele ensaio o Passa Palavra apontou as igrejas evangélicas como estas instituições, cinco anos depois eu mesmo mostrei como as forças armadas cumpriam também este papel.
Movimentos sociais, eficácia e complexidade
Tudo isso se passava diante de nós — nós, de tantas “gerações”, que vivíamos e lutávamos naquele mesmo momento — enquanto estávamos ocupados construindo movimentos que, acreditávamos, seriam a “forma enfim encontrada” de organização e luta daquele momento histórico. (Sim, era uma forma, não a forma; havia — e há — ainda outras, como os “coletivos”, as “rodas de rima”…) Aquilo que para alguns de nós chegava por inquietações e leitura, para outros tantos enfiados até o pescoço nas lutas dos anos 2000 isso eram coisas e fatos que apareciam gritando, berrando, esperneando…
Tudo isso me leva a julgar como precipitada a afirmação de que a pessoa de Guilherme Boulos representa um “movimento histórico condensado” nas eleições municipais, no sentido de representar algo como expectativas, aspirações ou desejos mais amplos. O caminho escolhido por Boulos desde 2018 — e pelo MTST desde muito antes — não é um fenômeno inelutável, tampouco o é a burocratização de organizações políticas ou movimentos sociais (à moda da “lei de ferro” de Michels); tudo isso integra-se numa tortuosa dialética de conflitos internos, expectativas de grupo e legitimação de projeto político, que me permito apresentar de modo extremamente esquemático porque já nos estendemos suficiente sobre o assunto tanto eu próprio (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui…) quanto outros (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui…).
Não vou começar por chavões como “conjuntura”, “composição de classe”, “estrutura”… Vou começar por uma palavra renegada — eficácia.
Quando trabalhadores se organizam para resolver o problema do banheiro da fábrica e o conseguem, sua ação foi eficaz. Quando entregadores criam via Whatsapp algum meio de burlar o algoritmo de algum aplicativo e ganham algum tempo extra de descanso entre entregas ou um troco a mais, sua ação foi eficaz. Quando vizinhos de algum bairro de trabalhadores se juntam para limpar e desinfetar casas de outros vizinhos idosos durante a pandemia, garantindo-lhe menor exposição ao SARS-CoV2, sua ação foi eficaz. Seguindo as pistas do artigo de Aurora Apolito sobre o problema da complexidade, esta proliferação de iniciativas, de movimentos, tem eficácia territorialmente restrita, mas talvez a passagem delas para arranjos mais duradouros e geograficamente distribuídos não exija, necessariamente, algo como uma “centralização” ou uma “burocratização”.
Ao alargar a escala, quando pretendemos que um projeto político alternativo ao capitalismo norteie relações sociais cada vez mais amplas e duradouras entre trabalhadores, é também de eficácia que falamos. Ou bem as formas não-capitalistas de luta e de organização servem para resolver muito rapidamente problemas concretos dos trabalhadores, ou eles vão buscar resolvê-los de outro modo. Em especial quando se trata de um projeto político anticapitalista, que é um projeto global, isso exige algum tipo de organização em várias escalas, que vai desde grupúsculos até comunidades inteiras, passando pelas associações, articulações, cooperativas, partidos, redes sociais, coletivos, federações, confederações, grupos de zap etc. Se cada organização dessas, individualmente considerada, precisam durar ou não para que um projeto político alternativo ao capitalismo seja globalmente eficaz, isso importa menos que a necessidade de uma massa crítica de organizações da classe trabalhadora envolvidas em lutas contra os capitalistas como condição para sua realização. Dentro de qualquer organização há disputas em torno deste ou daquele aspecto do projeto político, que via de regra materializam-se em disputas de poder com resultados muitíssimo diversos. Disputas de poder dentro de qualquer organização resultam em recomposições das relações de força dentro da organização, sempre instáveis e fluidas, e em algum grau de hegemonia interna de certos grupos. Esta hegemonia, esta configuração de forças políticas dentro de uma organização, para que se sustente depende da forma como os integrantes da organização reagem aos fenômenos políticos, sociais e econômicos mais amplos, externos à organização, e de como essa reação é “processada” dentro dela.
Tal como o que se dá dentro de uma organização, entre organizações distintas que defendem projetos políticos alternativos ao capitalismo, ainda que se pareçam à primeira vista (em especial para quem vê a esquerda como um “bloco” só), há muita diversidade, e também muitos conflitos, com dinâmicas muito parecidas àquelas a que me referi ao tratar do âmbito interno de uma organização. Se no mesmo campo político há diversidade, divergência e conflito, é evidente que entre campos antagônicos a situação se amplia, porque não se trata mais de disputas em torno de como implementar um projeto político, mas de qual projeto político implementar. Nesta última situação, a diversidade e a divergência dão lugar ao antagonismo puro e simples. Terá mais força política o projeto que apresentar mais soluções de curto prazo para problemas imediatos, que é outra forma de entender a eficácia.
Esta é a questão mais importante.
Ação direta e a dialética torta dos problemas do dia a dia
 O que leva alguém a confiar em outra pessoa ao ponto de passar-lhe um mandato em branco? Por questões de espaço, a resposta será ainda outra vez simplista, esquemática e direta: a capacidade de resolver rapidamente problemas do dia a dia, ou ao menos a impressão de que é capaz de fazê-lo. Vistas as coisas por uma perspectiva inversa mas igualmente pragmática, há uma espécie de “eficácia inversa” quando o voto pretende impedir que chegue ao poder alguém que, eleito, vá criar mais problemas que soluções, ou que passe essa impressão.
O que leva alguém a confiar em outra pessoa ao ponto de passar-lhe um mandato em branco? Por questões de espaço, a resposta será ainda outra vez simplista, esquemática e direta: a capacidade de resolver rapidamente problemas do dia a dia, ou ao menos a impressão de que é capaz de fazê-lo. Vistas as coisas por uma perspectiva inversa mas igualmente pragmática, há uma espécie de “eficácia inversa” quando o voto pretende impedir que chegue ao poder alguém que, eleito, vá criar mais problemas que soluções, ou que passe essa impressão.
Esse tão desprezado aspecto pragmático da vida social é fundamental para entender os “interesses” em jogo numa disputa política. Pouco importam as questões de identidade, de afinidade ideológica, de projeto, nada; tudo isso desemboca, de uma forma ou de outra, na capacidade de resolver rapidamente problemas concretos. É isso uma forma pragmática de conceber o voto, contra uma concepção “ideológica”? Não. Não existe voto “ideológico”, ou mesmo “racional”. “Ideológico” é o voto em quem situa a solução de problemas concretos em questões tão profundas, ou por métodos tão radicalmente diferente daqueles atualmente em curso, que suas propostas parecem ter saído da pura imaginação — a não ser, é claro, que sejam implementadas. “Racional” é o voto em quem pretende aprimorar o modo atual de governo, melhorar esse ou aquele ponto, trocar essa ou aquela pessoa neste ou naquele cargo — é, enfim, um voto de ajuste de gestão. Quem aposta no voto identitário, por exemplo, fá-lo porque acredita que somente uma pessoa com experiências de vida parecidas com a sua própria, ativadas por algum traço identitário (fenótipo, classe social, gênero etc.) e cristalizadas numa história de vida bem apresentada pelo marketing, terá a capacidade de resolver os problemas que fazem parte dessa experiência. (Diga-se de passagem que o PT apostou alto no voto identitário nas recentes eleições municipais em Salvador e, contrariando expectativas, tomou uma surra do DEM, que apostou na continuidade e na pura eficácia administrativa como critérios eleitorais — e ganhou.)
É essa capacidade de resolver rapidamente problemas concretos o segredo da força de movimentos sociais. Eles são fortes enquanto são capazes de resolver rapidamente problemas imediatos dos trabalhadores; perdida sua eficácia, esvai-se também sua força, porque os trabalhadores vão resolver os problemas da vida cotidiana por outros meios. O problema é terra para plantar? Ocupa-se terra improdutiva. O problema é casa para morar? Ocupam-se prédios e terrenos abandonados. O problema é o aumento da passagem? Para-se a cidade até a revogação do aumento. O problema é a precarização da educação? Ocupa-se escolas até barrar a política. O problema está nos aplicativos de entrega? Breque neles. O problema é a COVID-19? Não se enfrenta vírus com manifestação, mas pode-se organizar o apoio aos mais vulneráveis: arrecadar e distribuir cestas básicas e álcool em gel, produzir e distribuir máscaras, mobilizar por maior apoio financeiro aos autônomos que ficaram sem renda…
É esta, digamos, a “gramática da ação direta”: tomar nas próprias mãos a solução dos problemas do dia a dia, resolver por meios diretos problemas que as soluções institucionais e burocráticas demoram anos, mesmo décadas para resolver. A solução imediata pode não ser a melhor, pode não ser a mais “elegante”, pode ser simplesmente um arranjo temporário — mas ou bem resolve o problema, ou bem aponta para uma solução num futuro próximo. Do contrário, é abandonada.
É por essa dialética torta que autogestão vira empreendedorismo, que trabalho coletivo detona laços de solidariedade, que ocupações de terra se mercantilizam, que políticas públicas expropriam a população organizada, que tentativas de regulação comunitária se transformam em punitivismo… é porque nada disso está livre de contradições, nada disso se faz sem lutar contra a exploração, as muitas opressões e a disciplina capitalista internalizadas por cada integrante da classe trabalhadora nas duas vidas que são obrigados a viver enquanto perdurar o capitalismo. Porque uma pessoa pode mesmo não se ver como trabalhadora, mas enquanto houver quem explore sua força de trabalho ou controle os meios de produção (forçando-a, indiretamente, a viver de bicos), todas essas questões permanecem relevantes.
Questionando os resultados eleitorais
Depois da longa e necessária digressão, retomo o fio da meada.
Falei de sonhos, aspirações e projetos que foram ficando pelo caminho. Isso não se deu por algum “espírito do tempo” ou de alguma “conspiração do mal”, mas por fenômenos com que todas as “gerações” que viveram as lutas dos anos 2000 e 2010 tiveram de lidar na marra, no enfrentamento, e à base de muito erro. Da mesma forma, o gradual abandono do “projeto democrático popular” pelos trabalhadores não se dá por qualquer “conspiração” ou deus ex machina, mas como resultado da própria luta de classes e daquela dialética torta em torno da qual fiz longa digressão.
Por isso me parece muito reducionista que a chapa Boulos-Erundina seja um “movimento histórico condensado”. Num sentido forte — o de representar as aspirações e projetos de uma “geração” ou de uma classe social — essa afirmação não se sustenta, porque “geração” é um pega-tudo tão inócuo quanto previsão de horóscopo e a própria definição de Isadora para sua própria geração é tão equívoca que diz tudo e nada ao mesmo tempo. Num sentido fraco — o de representar a escolha eleitoral de determinado número de pessoas num momento histórico determinado — essa afirmação faz mais sentido. A “ponte” entre esses dois sentidos é a relação entre essas pessoas e algum projeto político mais amplo.
Em comentário a um artigo no Passa Palavra, Isadora apresentou o interessante mapa eleitoral produzido pelo Labcidade/USP e ressaltou uma curiosa coincidência territorial entre zonas eleitorais com altos índices de votos brancos e nulos e zonas eleitorais onde houve boa performance eleitoral da extrema-direita. Destacou ainda que esta é uma região “de classe média, que junta ‘novos ricos’ com a ascensão de frações de classe trabalhadora”. Em outra oportunidade apresentei alguns contornos econômicos da mesma questão, demonstrando como a compressão das rendas dos setores médios, quando conjugada com aumentos sustentados no salário mínimo que remunera trabalhadores precarizados que lhe prestam serviços pessoais, tem grandes chances de empurrar esses setores médios contra os trabalhadores. Por raciocínio semelhante, o Passa Palavra indicou que enquanto a mobilidade social ascendente aparecer aos trabalhadores como a única forma eficaz de negação do assalariamento, é ela, e não as lutas coletivas contra os capitalistas ou qualquer projeto político alternativo ao capitalismo, que será preferida pelos trabalhadores, e o enorme esforço pessoal de cada trabalhador para realizá-la são a porta de entrada para a meritocracia, o empreendedorismo e o individualismo que os aproximam daqueles setores médios que os odeiam.
O mapa, entretanto, não dá qualquer pista significativa de que a candidatura Boulos-Erundina seja esse “movimento histórico condensado” num sentido forte. Só revela — e nas entrelinhas — que a performance desta chapa no segundo turno pode ser impactada pela mudança de comportamento eleitoral daqueles que se abstiveram ou invalidaram seus votos (brancos e nulos). Votação expressiva numa candidatura cujo cabeça de chapa veio de movimentos sociais pode ser novidade em São Paulo, mas São Paulo está no Brasil, e país afora não faltam exemplos de que pessoas com esse perfil têm votações expressivas em eleições majoritárias — e são inclusive eleitas, como o foi a própria Erundina.
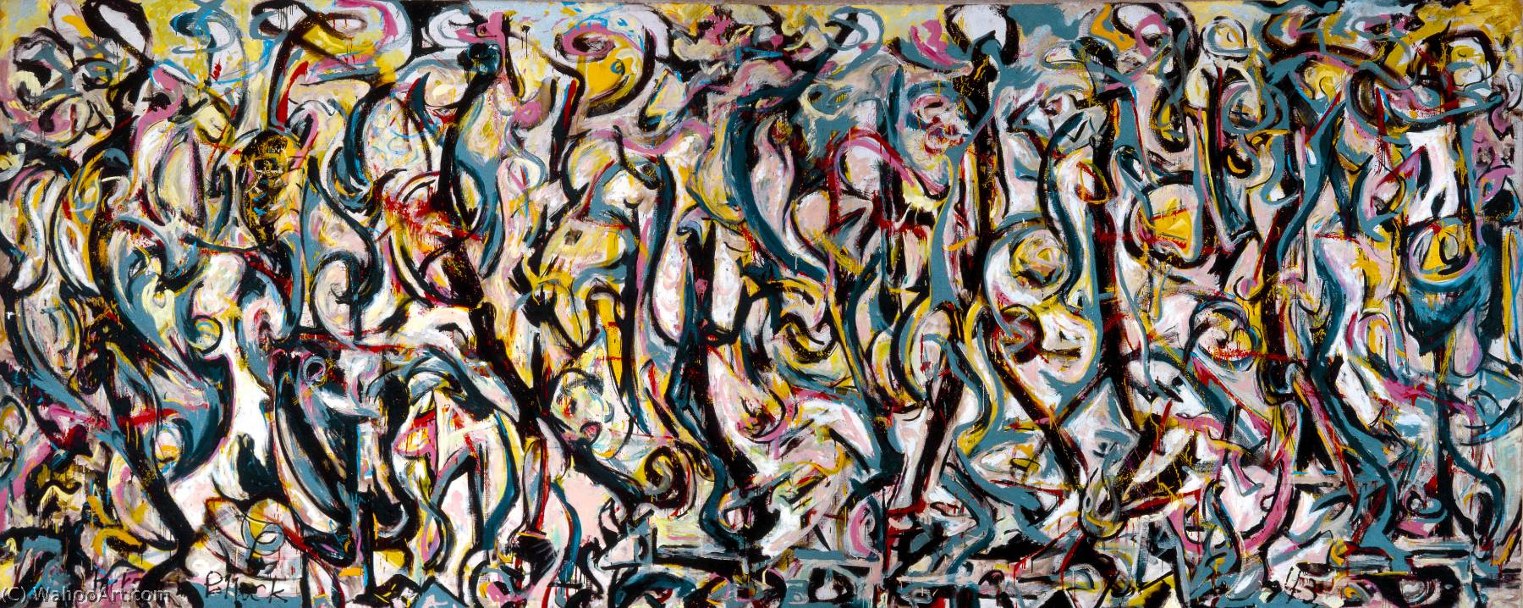 A pergunta, portanto, deve mudar. O próprio mapa dá a pista: a coincidência de zonas eleitorais com boa performance da chapa Boulos-Erundina no primeiro turno das eleições de 2020 e zonas eleitorais com boa performance de Ciro Gomes no primeiro turno das eleições 2018. A produção do mapa não se deu o trabalho de verificar quem teve boa performance nessas zonas no segundo turno de 2018, o que ajudaria a entender tendências locais. Se se mantiver a tendência de votação em candidatos de esquerda ou centro-esquerda (colocando Ciro Gomes neste campo com muita, mas muita parcimônia), há algo aí a se analisar. Sem isso, não há tendência que se sustente, não há análise que se justifique, e a coincidência não terá passado disso.
A pergunta, portanto, deve mudar. O próprio mapa dá a pista: a coincidência de zonas eleitorais com boa performance da chapa Boulos-Erundina no primeiro turno das eleições de 2020 e zonas eleitorais com boa performance de Ciro Gomes no primeiro turno das eleições 2018. A produção do mapa não se deu o trabalho de verificar quem teve boa performance nessas zonas no segundo turno de 2018, o que ajudaria a entender tendências locais. Se se mantiver a tendência de votação em candidatos de esquerda ou centro-esquerda (colocando Ciro Gomes neste campo com muita, mas muita parcimônia), há algo aí a se analisar. Sem isso, não há tendência que se sustente, não há análise que se justifique, e a coincidência não terá passado disso.
Como construir a “ponte” entre os sentidos forte e fraco desse “movimento histórico condensado”, se a pura análise eleitoral não parece suficiente? A meu ver, e sem sair da escala que parece interessar a Isadora, entendendo mais detalhadamente a composição das classes sociais em São Paulo. Suas composição social (sexo, idade, etnia, escolaridade etc.), técnica (inserção na estrutura produtiva, papeis na divisão social do trabalho etc.) e econômica (formas de assalariamento, relação com os meios de produção); aspirações, projetos e desejos; as pressões econômicas e sociais que sofrem e provocam; as classes com quem antagonizam; os conflitos e lutas em que estão envolvidos (no plano social, há diferenças entre conflito e luta), e seus resultados; a forma como ocupam o espaço (a própria Isadora nos dá excelentes pistas aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e em outros ótimos artigos de sua coluna)… Sem este lastro, só se pode chegar aos palpites, pois sem a História a memória pouco poderá avançar além dos sonhos.
Fecho minha participação neste diálogo com uma pergunta: que representa a candidatura Boulos-Erundina para aquela “geração” de assessores técnicos de que Isadora faz parte?
Ilustram este artigo reproduções da obra de Jackson Pollock



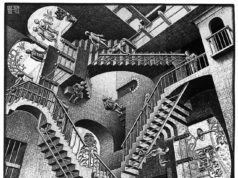




Manolo,
Antes de tudo gostaria de agradecer pela longa e respeitosa reflexão. Sinto-me honrada pelo debate travado, pois seus textos sempre foram referência para mim. Além disso, seu texto responde prontamente ao meu convite de reflexão coletiva, o que me deixa ainda mais contente. Dito isso, vamos a algumas das questões que coloca.
1. Sobre a questão das “gerações”.
Sim, foi antes de tudo uma estratégia narrativa. Não pretendia fazer, naquele texto, uma análise objetiva, como fiz em outros. Não me propus a isso, por um único motivo: fecharia portas de diálogo, pois estávamos no meio do segundo turno. Independente de você ter achado problemático do ponto de vista da análise histórica, não pode negar que deu certo como estratégia: seu texto demonstra isso, pois não só aceita o convite ao debate, mas você o faz também colocando sua dimensão subjetiva e seu lugar — individual e coletivo — nessa História com “H” maiúsculo.
Você critica a escolha da “geração”, entre outras coisas, pela falta de precisão. Mas era justamente essa a estratégia narrativa! Eu não pretendia fazer marcações tão estanques quanto as gestões de governo, mas a partir da identificação das pessoas com esse campo de experiências — que não se restringem a São Paulo. Talvez realmente tenha “errado” ao falar em “formação política durante os anos 2000”, pois isso deu mais precisão do que eu pretendia e concordo que mais exclui do que inclui, além de levar a questões etárias que não fazem o menor sentido. Agradeço o puxão de orelha, neste caso. Mas discordo que a estratégia seja “errada”. Não há certo e errado neste caso, há intenções. As minhas foram plenamente atingidas não só com seu texto, mas também com uma série de contatos que recebi neste período, fora deste espaço, buscando diálogo sobre esse tema. No fim, talvez você tenha me ajudado ao dar um contorno mais preciso à minha estratégia “torta”, com esse parágrafo que me identifiquei muito:
“Falei de sonhos, aspirações e projetos que foram ficando pelo caminho. Isso não se deu por algum “espírito do tempo” ou de alguma “conspiração do mal”, mas por fenômenos com que todas as ‘gerações’ que viveram as lutas dos anos 2000 e 2010 tiveram de lidar na marra, no enfrentamento, e à base de muito erro. Da mesma forma, o gradual abandono do ‘projeto democrático popular’ pelos trabalhadores não se dá por qualquer ‘conspiração’ ou deus ex machina, mas como resultado da própria luta de classes e daquela dialética torta em torno da qual fiz longa digressão.”
2. Não pretendia descartar a gestão Luiza Erundina, talvez não tenha sido bem compreendida. Pelo contrário, é pelo respeito a ela que falei que sua presença na chapa atual aparece como tragédia. Você mesmo diz que a gestão dela precisa ser entendida em outro contexto (eu falei outra “época”, usando senso comum). Deslocar o significado da sua gestão para a atualidade — sob a égide Boulos-PSOL num contexto de ascensão da extrema direita e crise do trabalho — me parece parte do “sonho”. Que ganha ares de tragédia quando sua gestão é retomada abstratamente, de maneira fetichista, com intenções bem diferentes das que havia naquele momento histórico. De mais a mais, a presença dela na chapa se assemelha à estratégia da extrema direita: retomar símbolos do passado como saída (fetichista) para o futuro, já que o que construímos no presente precisa parecer estar sendo descartado (quando, em essência, não está). Valeria a pena desenvolver essa hipótese, mas não vou fazer isso aqui. Espero voltar ao assunto em outros textos, mas novamente deixo o convite para outras contribuições.
3. De resto, gostei muito das questões que você levantou, que concordo. “A candidatura Boulos-Erundina só representa um ‘movimento histórico condensado’ num sentido muito mais restrito que o proposto originalmente neste debate, e sem outros elementos não se pode concluir quase nada quanto a ela” — sim, é verdade, mas ela representa bastante coisa. Incomoda-me tanto as posturas de glorificação de uma “nova esquerda”, quanto as de que “é tudo igual”, quanto aquelas acusatórias de “traição da esquerda” — a coisa me parece mais complexa do que isso e merece atenção não tanto por ela mesma, essencializada, mas pelo o que colocou, coloca e colocará em andamento do ponto de vista das lutas. Deste ponto de vista, não acho que seja apenas uma questão eleitoral, dos seus eleitores de hoje e da “relação entre essas pessoas e algum projeto político mais amplo”. Acho que o buraco é mais embaixo, como você mesmo adiantou.
4. Concordo com você em particular sobre a questão da eficácia, que tem desdobramentos importantes no significado de Boulos dentro do movimento de moradia. Mas isso é assunto para outro texto, que pretendo fazer. Nele tentarei, na medida do possível, responder sua última questão com os elementos que disponho — que relacionam técnica e política no campo da moradia.
Por fim, concordo plenamente, como você já notou nos meus textos, que é fundamental entender “mais detalhadamente a composição das classes sociais em São Paulo”. Evidentemente esse é tema a se discutir coletivamente, no qual tenho tentado colaborar no campo que me cabe.
Agradeço mais uma vez sua intervenção no debate, e espero que isso seja apenas o início de um diálogo maior.
Bom ver que apesar de divergências muito pontuais seguimos em diálogo, coisa rara nesses tempos de lacre desenfreado. Esse diálogo dissipou mal-entendidos, pontuou o que precisava ser pontuado e ainda acenou com promessa de continuidade e desenvolvimento — que para mim é um convite já aceito.
AND SO THIS IS CHRISTMAS…